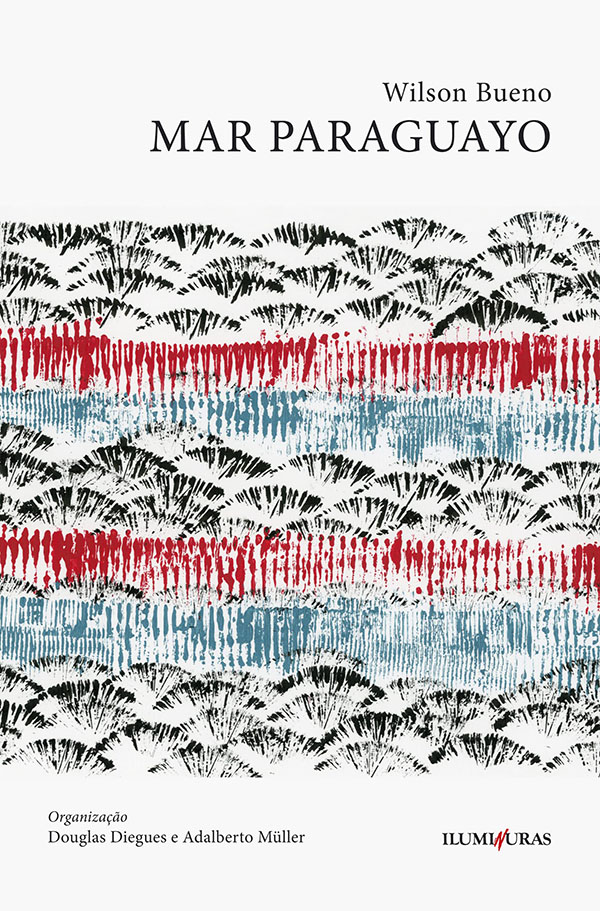Mar paraguayo, do paranaense Wilson Bueno, é um dos livros mais importantes da literatura brasileira contemporânea. E não seria exagero colocá-lo entre os mais inventivos da literatura latino-americana, ressaltando aqui o fato de ter sido escrito em línguas da mistura fronteiriça entre Brasil, Argentina, Paraguai e Bolívia, publicado sem a necessidade de tradução no Chile, no México e na Argentina. A primeira edição foi publicada em 1992, por meio de uma parceria da Iluminuras com a Secretaria da Cultura do Paraná. Em seguida, o livro ganhou edições no Chile (2001), Argentina (2005) e México (2006). Uma versão saiu nos Estados Unidos em 2017, na qual a poeta canadense Erín Moure converteu o portunhol em uma combinação inusitada do francês com o inglês, enquanto o guarani foi vertido para o esquimó-aleúte, língua falada pelos esquimós.
No prefácio do livro, intitulado Sopa paraguaya, Néstor Perlongher descreve a novela como uma tragicomédia de misérias cotidianas plasmada nos deslizes de idiomas, um portunhol selvagem mesclado de guarani, como o nomeou o poeta Douglas Diegues. No entanto, o próprio Wilson Bueno, em entrevista reproduzida no Podcast Paiol Literário, afirma existirem em Mar paraguayo quatro línguas, o espanhol, o portunhol, o português e o guarani. Mas asseguro, há ainda invenções, reinvenções, reescritas, outras fantasias e epifanias nesta sopa paraguaya.
O poeta, ensaísta e tradutor Sérgio Medeiros traz mais ingredientes para a conversa. Na época em que a obra foi lançada, Medeiros já escrevia para o jornal Nicolau, do qual Bueno foi editor entre 1987 e 1990. Sobre o livro, ele escreveu ao autor relatando sua experiência de leitura e a conexão com Lewis Carroll, de Alice no país das maravilhas, relembrando a falsa tartaruga, uma referência à sopa de tartarugas que era feita com a cabeça do novilho, uma falsa sopa que se servia na Inglaterra no século 19. E assim seria Mar paraguayo uma sopa falsa, de línguas inventadas e “artificiais”, como se renovasse a epifania cômica de Carroll. Ou ainda os diálogos possíveis com James Joyce e com os textos ameríndios, tecendo uma intrincada teia em que uma língua ilumina a outra, numa epifania trágica, poética, satírica, transgressora e erótica. Medeiros destaca sobretudo o caráter híbrido e ambíguo da narrativa, alertando para o exílio da língua, a estrangeiridade que marca a personagem central, narradora da própria vida, uma aranha que tece para si mesma. E acrescenta:
E como um exilado se expressa? Em que língua? Na língua materna, o guarani? Ou na língua espanhola, onde ele cresceu? Ou no português que o acolheu? Isso tudo é muito atual, qual a língua do exilado? Como ele fala na intimidade? Porque é uma língua íntima, a Marafona fala consigo mesma. E tem a ver com as ditaturas latino-americanas, com as migrações, é mais que um portunhol, é uma língua de fronteiras, de mistura de línguas e de modos de falar. E lembrando, também, que é um exílio do próprio corpo, porque se for uma travesti, ela saiu do velho e foi para o corpo da mulher.
Antes que a marafona seja apresentada, convém situar o entre lugares de Mar paraguayo. A trama acontece em Guaratuba, no litoral do Paraná, cuja história data do ano 1000, marcada pela chegada de tribos oriundas da Amazônia do tronco linguístico tupi. O nome Guaratuba, de origem tupi, significa ajuntamento de guarás, pássaros de plumagem vermelha que habitavam a região até serem praticamente extintos e quase desaparecerem do litoral paranaense. Além da raiz indígena presente como índice linguístico, o território do estado do Paraná é marcado pela ocupação do Império Espanhol, a antiga República do Guairá — que correspondia à extensão de terras que faziam parte do Rio da Prata e do Paraguai — até ser anexado às terras brasileiras depois de algumas contendas, invasões e guerras. Questões históricas e geográficas à parte, a profusão de rios, de línguas, de fronteiras e ocupações suscitaram um terreno fértil de indecidibilidade que parece permear Mar paraguayo.
A velha marafona apresenta-se:
Yo soy la marafona del balneário. A cá, en Guaratuba, vivo de suerte. Ah, mi felicidade es un cristal ante el sol, advinadora esfera cargada por el futuro como una bomba que se va a explodir en los urânios del dia. Mi mar. La mer. Merde la vie que yo llevo en las costas como una señora digna cerca de ser executada en la guillotina. Ô, há Dios… Sin, há Dios e mis dias. Que hacer?
O fato é que a narradora noticia logo de entrada “Un aviso: el guarani es tan essencial en nesto relato quanto el vuelo del párraro, lo cisco en la ventana, los arrulhos del português ô los derramados nerudas en cascata num solo suicídio de palavras anchas”. Como escreveu Perlongher, trata-se de um portunhol sujeito a vacilações, mutações, indeterminações, desvios e erros, fiel apenas a seu próprio desejo. Cantam as palavras, em desvario, uma o erro da outra, coexistindo, às vezes, em um mesmo parágrafo: chuva e lluvia; nuevo e novo; nadie e ninguém; ollas e ondas; cavalo e caballo etc.
Aguaceiro de palavras
O segredo ou enigma que se anunciam nessa travessia não é revelado e nem qualquer desconforto é mitigado. Trata-se de um mar que não admite sequer definição em sua natureza constituinte. O mar é a própria experiência abissal — muito além de ritos idiomáticos — com a linguagem poesia, transcendência não adequada, o mar é também rio, é lago, é pântano do abismo, abismo de mar, oceano, “um aguaceiro de palavras ininterrupto”, “mi mar”, “la mer”, “pará”, “paraîpieté”, “paraná”, “iguasu”, “ipiguasu”. É nesse entre lugar indefinido, abissal, que a aventura/fábula/relato/invenção de Bueno se expõe diretamente. E “Nadie aspire entender, lector amigo, nadie ouse compreender lo que ya está traçado, a sangre, hierro y fuego en los sangrados del destino”.
Como diria Reynaldo Jiménez num dos paratextos da edição argentina da Tsé Tsé, a leitura oferece-se muito abaixo da linha do silêncio, na contiguidade das experiências, nas entre zonas da perplexidade, entre o afã e o gozo, a evasão e a hiperconsciência, na interconexão dos extremos aparentes, nas chispas das palavras entre si, nas línguas cruzadas, “el intercambio de propósitos y despropósitos que los respectivos imaginários que cada lengua guarda o alimenta, a su vez albergan”.
Retomando a estrageiridade, ou mesmo a indecibilidade, para além da linguagem, a personagem é multifacetada e híbrida. Segundo Dirce Waltrick do Amarante, “a palavra ‘marafona’ possui muitos significados, entre eles: prostituta, cortesã, mulher malvestida e até mesmo uma boneca, de origem portuguesa, cuja armação é uma cruz, coberta de trapos. A boneca não tem olhos, boca, orelhas e nariz”. E é assim que a narração de desejo e derrelição se desenrola, é como se a marafona conversasse com sua imaginação, numa linguagem própria, num jogo, em fronteiras porosas entre a vida e a morte, entre o que se ficciona e o que se imagina, entre as línguas, entre el infierno e a cosmovisão guarani, entre o desastre originário e a melancolia de não reencontrar a Terra Sem Mal, entre o niño de muslos cavalos e seu cachorrinho Brinks, numa profusão desenfreada e vertiginosa que atravessa estações e, a cada estação, se torna mais torrencial. A marafona é uma mescla de muitas possibilidades, pode ser uma travesti, uma cafetina, a outra do velho, um ser andrógeno, camaleônico, em constantes entrecruzamentos e desvios. Para Perlongher, há uma tensão entre as línguas e entre os gêneros literários, uma suspensão permanente, uma suspensão barroca, entre a prosa e a poesia, entre o devir animal e o devir mulher. A marafona é estrangeira e exilada do próprio corpo.
Nadie puede alcançar que es solamente, en nesto mundo de Dios, mierda, que es solamente la dolor sin cuenta que me dá reverlo, a el, a el en el enferrujado y solitário juego de bimbolin, donde el niño se mostraba con su agilidade felina y singular, lo pecho abierto como una fincada bandera de la beleza majestosa, la luna tatuada en el lado derecho de su tórax, en pleno bar la luz de sus ollos vierdes, mboihovi, hovi, hovi, señora, el, puritana putana sin nexo de Guaratuba, es de el que hablo y recuerdo, si, de el, no me respondas hija-de-una-cadela-podra!, no me respondas, yo soy la suerte y el azar, si, yo soy, si, yo también soy la que enrraba los menores de diecisiete años, señora!, soy yo, soy yo, la marafona de Guaratuba.
Já não se sabe se a marafona fala sozinha ou com um certo doctor Paiva, não se sabe como Sônia Braga aparece no rosto do velho, se como aranha no beijo da morte ou como a mulher sensual das telenovelas. Do mesmo ponto de indeterminação, surge o relato, invenção, tragédia ou fábula em que a personagem narra a morte que se faz e desfaz do velho, a quem ela insiste não ter assassinado, embora desde o início revele que suas mãos acabaram de o assassinar suavemente — “con una disposición de cisne y sabre”. Mas a indecisão volta a todo momento: “Ô era el que acabava de morir?”. E a marafona enreda-se em enigmáticas tessituras num labirinto de aranhas, no espantoso verão/outono de Guaratuba, enquanto se perde — talvez única verdade fictícia — diante do televisor, assistindo à novela de Sônia Braga. Como companhia, o quase inexistente cachorrinho, “que atende por el ruído de Brinks e es tan pequetito, tan juguete-de-pelos, tan colita acima como se fuera una coma móbile y bifurcada”.
Elucidário
O jogo que Bueno propõe nesse emaranhado labiríntico de indecidibilidades é auxiliado por um elucidário no final do texto, que nada elucida, antes, mais abre aos enigmas, como nas referências a Brinks, que de tão aglutinado em sufixos diminutivos acoplados ao seu nome, “conota en guaraní que sólo puede ser visto a través de um microscópio, volvendo la cosa diminuta, algo (case) invisible; en lo sugerido en el texto, lo que no se puede ver o lo que efetivamente, en tal caso, no existe”.
O escritor Dennis Radünz, um dos editores das crônicas semanais de Wilson Bueno no jornal A Notícia, de Joinville (SC), bem pontua, a partir de Néstor Perlongher: Mar paraguayo não é confessional, mas confusional. Para Radünz, a aparição do livro causou um tremor subterrâneo na “formação da literatura brasileira”:
A novela está viva entre línguas e, na sua filiação ao neobarroco e ao neobarroso de Néstor Perlongher, é o melhor experimento de uma poética da desterritorialização nos anos 90, como Roça barroca, de Josely Vianna Baptista, o seria em 2011.
Conforme relatos do próprio Bueno em entrevista ao projeto Paiol Literário (realizado pelo Rascunho), a literatura se confunde com a própria concepção da vida e do mundo. Bueno confabula que as primeiras palavras, as primeiras expressões frente a decifração do mundo foram, para ele, literárias.
Eu não me concebo sem escrever, não concebo um mundo sem essa expressão literária, eu não conseguiria entender o mundo sem que por ele perpassasse essa fantasia que ao mesmo tempo é tão ensandecida e tão enlouquecida e tão precisa na sua tradução do mundo. A literatura é uma pulsão vital, absoluta, sem a qual o mundo seria muito mais pobre.
Em total consonância com o autor, Radünz declara ser a marafona também a voz de Wilson Bueno, “inconfessada, mas confundida em camadas e camadas de bricolagens e teatralidade e não por acaso o personagem cão chama-se Brinks. E sua língua de contato, o portunhol, trouxe a terceira margem da bela língua guarani, uma cultura ameríndia que, passados trinta anos, tem os seus próprios autores e sua literatura.” Radünz relembra que, para os leitores da época, havia ainda outra “fina ironia”, o fato de se passar “no litoral do Paraná, Guaratuba, o local de férias do ditador paraguaio Alfredo Stroessner, deposto em 1989 e exilado em Brasília, essa mesma Guaratuba onde se desenreda todo esse melodrama e sua glossopoese (língua artificial)”.
“Lê-se para vivenciar, o que constitui uma forma mais profunda, mais completa da compreensão.” É o que apregoa a polonesa Olga Tokarczuk, autora de Escrever é muito perigoso. E impossível não lembrar, com esse título, da fala de Riobaldo, em Grande sertão: veredas, “viver é muito perigoso […] e dificultoso, mesmo, é um saber definido o que quer, e o poder de ir até no rabo da palavra”. Creio ter sido essa a ousadia maior da reinvenção de Wilson Bueno, sua maneira singular de comunicar até o rabo da palavra, escancarando o nosso incorrigível lirismo contra toda e qualquer literatura nacionalista, machista e autoritária.
[…] esto relato, sus lendas interiores, sus grados de rama, sus lenteles dárquicos, su ternura irremediable, dios, prados, adêlias, su andado de vômito, esto relato solo quer y desea sê-lo uno juego-de-jugar: como los dioses en el princípio, en el tupã-karai, antes del des-princípio de todo, los dioses y su lance de dados, su macabro inventar, oguera-jera, esto mundo achy: como um juego-de-jugar: ñe’ê.
Elucidário
Paraîpieté: abismo de mar.
Mboihovi: cobra verde; reverdecer; azular (verdosamente).
Hovî-hovî: verdear; azular verdosamente.
Oguera-jera: algo así como desdoblarse a sí mismo en su próprio desdoblamiento; el doble del doble del doble.
Karai: ‘profetas’ que anunciaban, entre los guaraníes, la necessidad de ir al encuentro de la Tierra Sin Mal; llama; fuego solar; calor; renacimiento; se opone a (y se completa con) Tupã.
Achy: la naturaleza necessariamente mortal, finita y mala del mundo, antes de la Tierra Sin Mal.
Ñe’ê: palavra; vocablo; lengua; idioma; voz, comunicación, comunicarse; hablar, conversar.