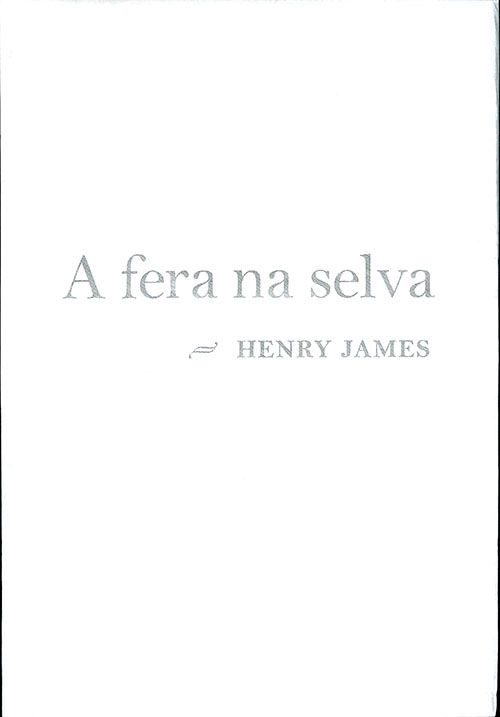Uma das principais características de Henry James é revelar o inusitado que se esconde sob o cotidiano. O que pode ser extraordinário em uma vida aparentemente banal? Haveria carga dramática suficiente em uma existência destituída de arroubos, gestos de heroísmo ou decisões capazes de alterar o curso de outras vidas? E como escrever sobre uma vida comum, quase estúpida, sem incorrer no erro fatal de utilizar uma linguagem medíocre ou um narrador que seja somente o decepcionante espelho dos fatos, capaz apenas de repetir, sem qualquer viço, perspicácia, inteligência ou ironia o cotidiano dos personagens? As respostas a todas essas perguntas encontram-se na novela A fera na selva.
Esse delicado — e ao mesmo tempo terrível — estudo sobre a vida do irresoluto John Marcher e sua reticente amizade por May Bartram guarda uma história de silencioso sucesso no Brasil. Não, o livro não se tornou um best-seller, mas é promissor, em meio à barafunda de romancinhos kardecistas, livrecos de auto-ajuda e narrativas que se resumem a conversas de botequim ou do meretrício, que uma novela tão intrigante, plena de sutilezas, cujos temas abarcam as expectativas que não se cumprem, a cegueira de um homem em relação ao seu destino particular e um triste amor, que se realiza unilateralmente, tenha conseguido a façanha de merecer duas traduções — feitas por Fernando Sabino (Editora Rocco) e José Geraldo Couto (Editora CosacNaify) —, sendo que a primeira, de 1985, já se encontra em sua segunda edição, e a mais recente, lida para esta resenha, é o lançamento comemorativo do aniversário de dez anos da CosacNaify.
A explicação para isso talvez resida no fato de Henry James ter, entre nós, um público fiel, apesar de diminuto, seduzido pela escrita tão cerebral quanto impressionista, capaz de profundas e embriagantes alusões, com alto poder evocativo e dotada de uma rara capacidade para analisar minuciosamente os processos emocionais que não só caracterizam os diferentes comportamentos humanos, mas direcionam ou intensificam cada uma das nossas atitudes, cada uma das nossas decisões. O que, convenhamos, não é pouco. Mesmo o Bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis, quem melhor analisa as motivações humanas entre nossos escritores, se comparado a Henry James, transforma-se em um amador — com uma pitada a mais de ironia, é verdade, mas sem o abissal aparato psicológico jamesiano.
Ao escrever sobre as bases necessárias à arte da ficção,[1] Henry James, que também foi crítico e teórico da literatura, legou às novas gerações a descrição da sua maneira peculiar de ver a realidade. E ela certamente explica, em parte, seu poder de extrair beleza e verdade de pormenores quase sempre desprezados pelos escritores. Eis o que ele afirma:
A experiência nunca é limitada e nunca é completa; ela é uma imensa sensibilidade, uma espécie de vasta teia de aranha, da mais fina seda, suspensa no quarto de nossa consciência, apanhando qualquer partícula do ar em seu tecido. É a própria atmosfera da mente; e quando a mente é imaginativa — muito mais quando acontece de ela ser a mente de um gênio — ela leva para si mesma os mais tênues vestígios de vida, ela converte as próprias pulsações do ar em revelações.
Prova de amor
De fato, ler Henry James significa enredar-se na “teia de aranha” da consciência de narradores argutos e, ao acompanhá-los, descobrir “revelações” em “tênues vestígios de vida”. No caso específico de A fera na selva, o narrador nos apresenta John Marcher, um homem sensível, apreciador de poesia e história, em sua hesitante trajetória, iniciada ao reencontrar, inesperadamente, May Bartram, a quem ele confidenciara, dez anos antes, seu mais importante segredo. O reencontro tem seu glamour, mas está impregnado do sentimento de perda, conseqüência daquele dia distante, quando se viram a primeira vez: “Olhavam um para o outro com o sentimento de uma ocasião perdida; a atual poderia ter sido muito melhor se a outra, tão remota no passado, numa terra estrangeira, não tivesse sito tão absurdamente escassa”.
Quando May lembra que ele lhe confiou seu segredo, o interesse de Marcher por sua interlocutora cresce, fornecendo ao leitor o primeiro indício de egoísmo, a marcante característica desse homem anódino. Em alguns momentos, Marcher quase se predispõe a, efetivamente, conhecer e compreender May, mas acabará sempre dominado por sua apreensão — o seu segredo —, aguardando “a fera que saltará da selva” para mudar radicalmente sua vida. Pouco importa que os encontros dos dois tornem-se cada vez mais freqüentes: Marcher jamais deixará de ser o cavalheiro de “descoloridas” boas maneiras, ou de tratar May apenas como uma leal confidente. Em determinado momento, chega a pensar num matrimônio, mas com o único objetivo de ter alguém para partilhar amiúde as suas preocupações. Trata-se de um acabado egoísta, cuja primeira regra na vida social resume-se à dissimulação.
Marcher também é leviano, cego em relação aos sentimentos de May, pronto a conceder migalhas de atenção à amiga, frio — acreditando-se, contudo, generoso —, incapaz de qualquer gesto arrebatador, de qualquer mínimo ato de coragem, e aferrado às próprias idéias, especialmente ao mórbido segredo partilhado com May. Nem mesmo quando ela adoece gravemente Marcher demonstra desvelo, ainda que se angustie, mas principalmente ao antever a possibilidade de ficar sem a confidente. Próxima do fim, a própria May o adverte, num tom de leve ironia: “Você confia plenamente nas suas ‘sensações’”.
Depois da morte da amiga, Marcher viverá um longo processo de auto-análise, ainda hesitante, preso às conjecturas que controlam sua vida. O homem que não conseguiu amar, a não ser a si mesmo, pagará um alto preço: a fera escondida na selva se manifestará com a violência que ele sempre esperou, mas permitindo-lhe, antes, a visão do que não pôde concretizar, do que perdeu.
Contrapondo-se a Marcher, temos May Bartram, uma das mais instigantes personagens femininas do universo jamesiano. Lúcida, serena, amando John Marcher incondicionalmente, ela manifesta seu inacreditável respeito pelos limites desse homem infeliz. Em pelo menos três oportunidades, inclusive quando já se encontra devastada pela doença, tomará a iniciativa de se aproximar dele, de tentar acordá-lo para a realidade. Na verdade, May Bartram devotou sua vida a proteger Marcher dele mesmo. Essa foi a sua prova de amor.
Amizade e estilos
Muito já se disse sobre o estilo de Henry James, elíptico e de contrastes às vezes quase imperceptíveis, com longos parágrafos, meticulosamente compostos, nos quais todos os elementos são indispensáveis. Um dos melhores comentários, no entanto, coube ao escritor Robert Louis Stevenson, com quem James trocou cartas[2] entre 1884 e 1894. Logo na primeira resposta, a 8 de dezembro de 1884, Stevenson escreve, compondo uma imagem em negativo, de refinado humor:
[…] Não sou tolo a ponto de lhe pedir que abandone seu estilo, mas você não poderia, em um romance, para ganhar o agradecimento de um sincero admirador, não poderia fundir seus personagens em um molde um pouco mais abstrato e acadêmico […], e afinar os incidentes, não digo em uma tonalidade mais forte, mas ligeiramente mais enérgica, como se fosse um episódio de um dos velhos romances chamados de aventuras? Temo que você não o fará, e suponho que devo admitir, suspirando, que você tem razão.
Os comentários de Stevenson revelam o que muitos sentem diante do texto de James. No entanto, onde, para alguns, talvez falte energia, para outros, com absoluta certeza, jamais faltará agudeza de espírito. E o próprio Stevenson, na mesma carta, admite:
Cada um de nós prefere seu próprio objetivo, e eu prefiro o meu; mas quando passamos a falar de execução, reconheço que sou, comparado a você, um grosseiro e um descuidado de primeira ordem.
As cartas de James e Stevenson merecem uma análise à parte, não só pelas questões literárias de que tratam, mas por representarem um magnífico exemplo de civilidade, algo tão em falta nos dias de hoje. Há uma sincera relação cordial nessa correspondência. Os dois escritores falam o que sentem, mas não desejam provar coisa alguma. Ao contrário, são movidos pelo desejo do diálogo sincero, pelo prazer de se comunicar e de fruir uma relação amigável que independe de se conhecer quem é o melhor ou quem está certo. Eles estão acima dessas questões fúteis.
Design e desencontro
Voltando a A fera na selva, Modesto Carone, autor do posfácio, define bem a novela, ao chamá-la de uma “história de amor entrelaçada com a falsa consciência”. É uma pena, no entanto, que o projeto gráfico tenha se sobreposto ao texto. A idéia, apesar de louvável, comprometeu a legibilidade da obra, conferindo um quê de tortura ao exercício que deveria ser exclusivamente prazeroso. A imaginação da designer deu vida a um livro que não almeja ser lido, mas apenas admirado em uma vitrine.
Vale a pena, contudo, esforçar-se para superar tais dificuldades, pois a recompensa brilha a cada página dessa história de amor cujo tema central é o desencontro — ou seja, uma história de amor composta na forma de uma dilacerante antítese. John Marcher passou a vida cumprindo o destino da maioria das pessoas, ou seja, sem perceber o mais importante, o essencial. E no fim, quando consegue abandonar o que Henry James chama de “o centro do seu deserto”, acorda a tempo de, tão-somente, descobrir que é tarde demais.