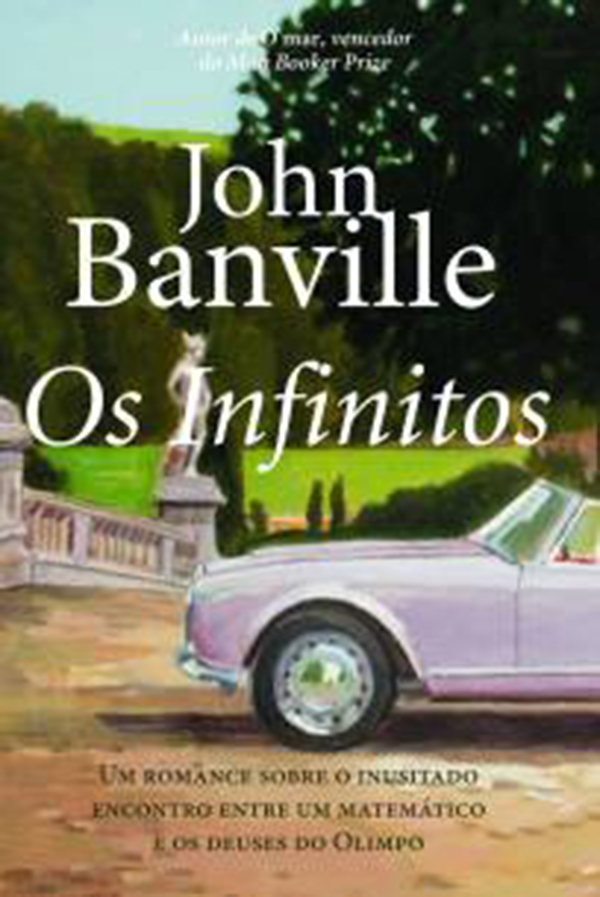Adam Godley está morrendo. Ao seu redor, todos de sua família observam esse acontecimento definitivo com um sentimento de impotência que os une e, ao mesmo tempo, os individualiza, como que indicando em cada um os problemas e as marcas que a morte e a agonia são capazes de provocar. Insegurança. Medo. Angústia. Tremor. Temor. Essas expressões da alma são apresentadas ao leitor de forma cáustica, irônica e até de certa forma descompromissada por uma divindade, que, poderosa, só decide se apresentar quase na metade do primeiro capítulo. Até ali, com efeito, os leitores ficamos sem saber quem é que está por sofrer o quê e, tão importante quanto, quem é que está a contar aquela história. De um modo geral, o trecho acima sintetiza os aspectos gerais de Os infinitos, novo livro de John Banville publicado no Brasil. O autor, que em 2005 publicou o elogiadíssimo O mar, investe agora numa história que tem no narrador um dos trunfos para conquistar, para além da atenção da crítica, os corações e mentes do leitor.
Com efeito, é com esse narrador, uma divindade que parece sempre à espreita, que a história assume um caráter original. Patriarca e espécie de coluna familiar, o velho Adam está nas últimas e, com ele, todo o tecido familiar está desmoronando. Do filho, também Adam, percebe-se um jovem aflito e inseguro com a iminente partida do pai; da filha, lemos que é a mais perfeita tradução de alguém à beira de um colapso, sem qualquer estrutura. E da mãe, o retrato de uma senhora sem perspectivas e cujo passado, agora ela percebe, parece não tão glorioso, afinal a dúvida persiste: “será que fui uma boa mãe?” é a pergunta que não quer calar. E o acesso a essa galeria de personagens só nos é franqueado graças ao narrador, que se regozija ao relatar a fragilidade dessas vidas demasiadamente humanas.
Pois é com essa alegria em tom menor, um aparente contraste, que a obra de Banville se mantém de pé, entre o riso nada fácil e a melancolia gratuita. Em verdade, pode-se vislumbrar nesse narrador que a todos vê, mas que não é jamais percebido, o olhar agudo de alguém que não deseja se refestelar na comédia humana. Ocorre, todavia, que, em vez de termos em mãos um livro asséptico, sem qualquer emoção ou sentimento, a partir do relato amargo dessa divindade é notável a maneira como nos identificamos com a fraqueza e a impossibilidade do outro (talvez pela possibilidade de ser alguém próximo), de reagir às intempéries da existência, que, a despeito do avanço da técnica e da ciência, teima em estar distante de nossas mãos.
Nesse quesito, cumpre observar que a impossibilidade de superar essas dificuldades é salientada pelo narrador, que entende os limites do humano, mas nem por isso o perdoa, como se nota a seguir:
Nesse momentinho que, para vocês, passou num piscar de olhos, dei três voltas completas em torno da Terra. Para que essas acrobacias aéreas? Para me divertir e para passar o tempo. E porque eu posso e vocês, não. É isso mesmo: também podemos ser mesquinhos e vingativos, como vocês, quando somos levados a isso.
Talvez por ter essa opinião sobre a humanidade é que o narrador acaba conquistando legitimidade para contar a história.
Originalidade
Mas e a história? Sim, é uma comédia humana, com seus desenganos; a propósito, o protagonista já está mesmo desenganado, com um derrame, e incapaz de reagir à compaixão, esse sentimento que, ao contrário das boas intenções, alimenta os doadores e, em certa medida, avilta os sofredores. Ao não esboçar tal “emoção”, é correto afirmar que a divindade mostra por que, ainda sem expor quaisquer qualidades, é uma entidade superior. De mais a mais, antes que alguém considere esse narrador como presunçoso, cabe constatar que ele mesmo já pensa isso de si mesmo. Outra prova de sua originalidade.
Com tudo isso, o texto de Jon Banville tinha tudo para ser pretensamente denso, eivado de referências complexas ou pseudofilosóficas. Nada disso, ainda que o autor possua repertório para tanto. Em vez desse exercício de superficialidade, que em muitos casos se confunde com superioridade intelectual, nota-se um texto cuja característica elementar é a divagação literária. Literatura, aqui, tem mais a ver com estilo do que com referências ou citações autorais. No caso da obra de Banville, isso é conquistado graças à leveza que o autor imprime ao texto, qualificando o narrador para apresentar uma história densa, porém sem que o estilo seja pesado. Como numa metáfora bíblica, o fardo é leve graças à divindade — que, neste caso, é um narrador que se apresenta como deus.
Um exercício de imaginação bastante ousado poderia estabelecer aqui um paralelo entre esse narrador e a voz em off do documentário clássico. Isso porque em ambos os casos quem apresenta a história conquista não apenas a concordância do leitor para narrar, mas, principalmente, porque esta voz não deseja participar, tão somente manifestar seu ponto de vista acerca do que vê — e, por isso mesmo, acaba interferindo. A digressão, nesse caso, é exemplar:
é claro que tudo isso está sendo expresso na língua dos humanos, e não poderia ser de outro jeito. Se eu falasse com a minha própria voz, ou seja, a voz de uma divindade, vocês ficariam estarrecidos com tal som — na verdade, não teriam sequer condições de me ouvir, pois a nossa fala celeste é extremamente rarefeita se comparada aos seus grunhidos mal e mal articulados.
A prosa de Os infinitos pode se notabilizar por diversos motivos, a começar pelo título, pois, embora trate da morte, o título remete à permanência e à perenidade. Um dos temas centrais da literatura de todos os tempos, o debate sobre a morte alcança aqui uma abordagem diferente: tomando a perspectiva de um narrador distante, mas que está próximo porque é uma divindade. Nesse sentido, a literatura de Jon Banville pode parecer arrogante, mas, se a percepção for essa, é resultado de que a estratégia do autor funcionou, e finalmente acreditamos que um ente superior está no controle da história. Longe de ser um livro de aproximação religiosa, a obra de Banville é mostra de onde a imaginação literária pode chegar.