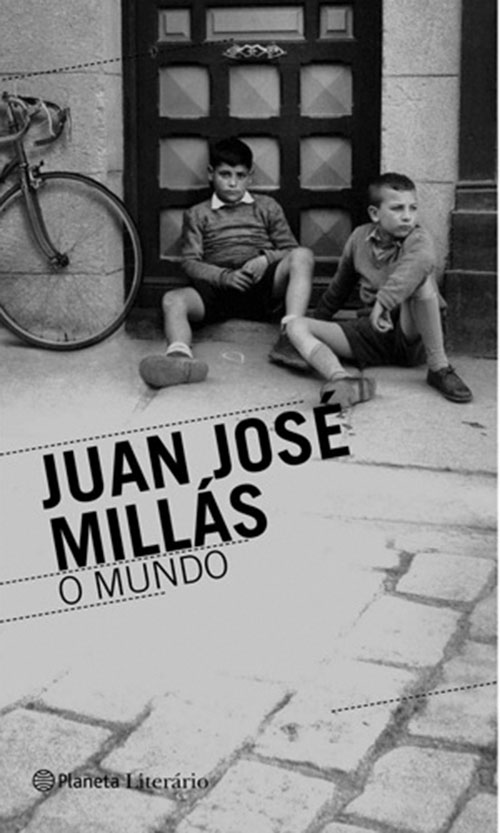Há livros que nos decifram. Outros nos devoram. O mundo, do espanhol Juan José Millás, é uma obra que pode vir a ser um espelho para determinados leitores. Afinal, trata-se de uma narrativa na qual o autor usou informações biográficas como ponto de partida para a fabulação. Mas o que é — ou eventualmente tenha sido — real funciona apenas como trampolim.
Millás mistura prosa com poesia, e o resultado, o texto final, é um híbrido, acima de tudo, muito sedutor.
Abrir O mundo é quase a certeza de seguir, ininterruptamente, até a página 214, a última.
A estratégia do autor é, e foi, das mais hábeis.
Ele recuperou momentos-chave de sua existência, os quais, transpostos para o formato dessa narrativa, tendem a fazer com o que leitor, durante a leitura, também recupere fatos marcantes de sua própria passagem pelo mundo.
Millás, em O mundo, tem grandes achados.
Fala, ou melhor, escreve, em tom de confissão, que nunca saiu da rua onde nasceu e cresceu, o que tende a se repetir com muita gente.
O escritor conta que, por mais que tenha viajado, a rua em que começou a conhecer o mundo, está sempre em seu caminho. Apesar de ter passado, por exemplo, temporadas em Nova York, ele sempre está em uma via espanhola. É uma maneira que encontrou para dizer o que muitos repetem: nunca deixamos de ser quem somos, nunca saímos de onde viemos, nunca.
E essa rua na qual ele nasceu e cresceu viabilizou uma experiência marcante, que é pessoal, absolutamente, mas que pode fazer um leitor se recordar de algo que também aconteceu em sua própria vida e deixou marcas.
Durante a infância, Millás teve um vizinho que sofria de uma doença do coração que o impedia de ir ao colégio. A falta de saúde gerou um apelido irônico: o menino era chamado de Vitaminas. E foi a partir do contanto com esse ser frágil que alguns mistérios se revelaram ao pequeno Millás.
Em primeiro lugar, o pai de Vitaminas tinha um comércio que era apenas uma fachada. Ele, o pai do menino com saúde fragilizada, era um agente secreto, um espião, que pedia ao filho para tomar notas a respeito da movimentação na rua. O caderno de anotações do Vitaminas, analisado em perspectiva pelo autor no qual Millás se transformou, era um primor estilístico: não tinha opiniões, apenas registro das ações de quem caminhava, que roupa estava vestindo e assim por diante.
O contato com Vitaminas, que morreria cedo, iria continuar. Anos depois, Millás iria reencontrar uma das irmãs do amigo da infância. Ela, adulta, se tornaria rival de Millás. A moça, com vocação para escrever ficção, optou pela crítica, uma outra face da atividade literária. E, no papel de juíza, iria castigar Millás com todo tipo de avaliação negativa.
Mas o autor não reclama dos confrontos nos quais esteve envolvido.
Ele tece a narrativa com a finalidade de pensar e encontrar alguma metáfora que dê conta ou sintetize a sua passagem pelo planeta.
E consegue.
Millás apresenta uma idéia interessante.
“Compreendi que eu, finalmente, não era mais que um cenário no qual havia ocorrido tudo que se relatava em O mundo”, escreve o autor na penúltima página desta obra.
A tese é interessante.
Millás argumenta bem:
“Talvez não sejamos os sujeitos da angústia, mas seu cenário; nem dos sonhos, mas seu cenário; nem da doença, mas seu cenário; nem do êxito ou fracasso, mas seu cenário…”.
É uma maneira original, e corajosa, de encarar a existência, tenha ela qualquer rumo ou desdobramento. Não se trata de escapismo, mas de um olhar um tanto libertador. Sim. Porque, por mais que tentemos, muitas vezes temos a impressão de que tudo o que acontece não passa de golpe de sorte, ou azar, ou então de acaso, quando não, de maktub (estava escrito).
Quem é o sujeito, que levante a mão, capaz de garantir que tem controle sobre o próximo passado, sobre o que pode acontecer no próximo minuto?
Millás, nessa argumentação curiosa, na qual diz que todos somos cenários, segue provocando o leitor, ao falar a respeito de si mesmo.
Ele escreve:
“Eu era o cenário no qual havia acontecido o sobrenome Millás como em outros acontece o de López ou García. Em que momento comecei a ser Millás?”, interroga.
A elaboração do autor é, de fato, pertinente.
Somos realmente o que somos?
A partir de quando?
“Não, certamente, no momento em que nascemos. O nome é uma prótese, um implante que vai se confundindo com o corpo, até se converter em um fato quase biológico ao longo de um processo extravagante e demorado.”
Millás empreende uma egotrip, mas não para apresentar ao leitor um super-homem. Ao contrário. Ele quer revelar toda a fragilidade que faz dele, de nós, de cada um e de todos, enfim, humanos.
Ao desconstruir a própria identidade, mostrando, por exemplo, que o nome, mesmo o dele, um autor famoso, não quer dizer quase nada, provoca, então, uma fratura nessa doença contemporânea que é o apego ao eu, que vitimiza a maioria dos humanos, todos muito centrados em si mesmos, que se levam a sério acima de qualquer limite.
A narrativa recupera momentos da infância, uma tarde na praia, a descoberta da necessidade de afeto durante a adolescência até as dores da vida adulta, quando quase tudo parece não ter sentido, seja essa obrigação que é trabalhar pelo pão, pelo teto e por outras necessidades, enquanto o que parece, de fato, interessar, não precisa de moedas: os momentos aparentemente inúteis, os intervalos e o que não volta.