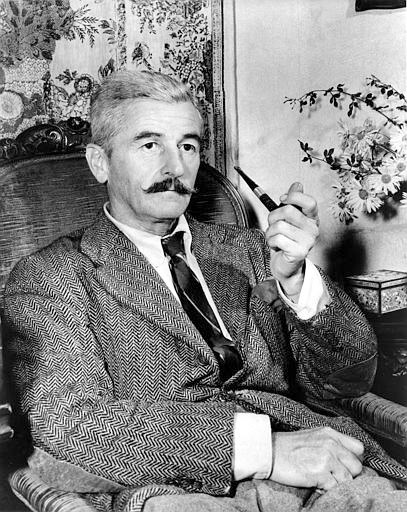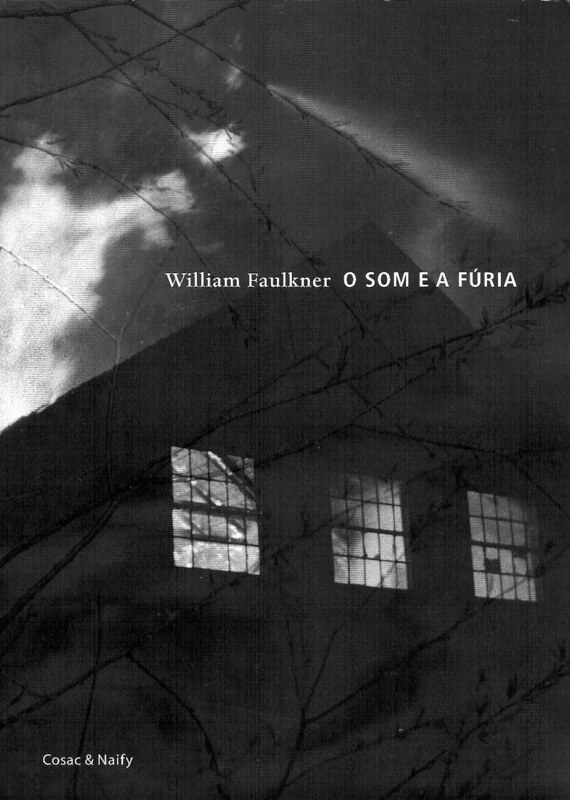“Quentin, dou-te o mausoléu de toda a esperança e de todo o desejo.”
(palavras do Sr. Compson a Quentin)
Apesar da violência enfática da novelística de teor trágico, tão acentuada nesses últimos decênios, O som e a fúria[1], surgido em 1929, no rastro do romance contemporâneo renovado por Joseph Conrad, James Joyce e Marcel Proust, continua a causar impacto, até mesmo nos que o relêem. Dele são protagonistas os Compson, uma das várias famílias ficcionais de William Faulkner. E por ser do Sul dos Estados Unidos, patriarcal, certamente, e em decadência econômica, a prole dos Compson há que se distinguir pela morbidez. Condicionada, ademais, pelas imagens do passado, um passado de grandeza senhorial, não consegue adaptar-se às exigências do presente.
Há na crônica dessa família a sombra de uma ruína lenta e progressiva, causada pela impossibilidade de sustentar o plantation system que, apoiado no braço escravo, floresceu antes, embora sem atingir o estágio de desenvolvimento das áreas de ocupação ao Norte, fundamentadas na acumulação capitalista da indústria e do comércio. No Sul, o agricultor falido, mas ainda de veia aristocrática; no Norte, o yankee voraz, que, mais adiante, na bibliografia de Faulkner, gera a saga dos Snopes. O empobrecimento das lavouras sulinas parece deflagrar internamente, nas estruturas familiares, uma desagregação moral que até os negros, explorados como força de trabalho ou, quando muito, “tolerados” (como acontece a Dilsey, em O som e a fúria), pressentem. São muitas, no romance, as alusões da criadagem negra a uma espécie de maldição que pesaria sobre os Compson. Para os negros — Dilsey e Roskus, com especialidade — a Casa é má.
Convém conhecer as personagens para melhor medir a tragédia. Do casamento de Caroline Bascomb e Jason Compson III nascem três filhos e uma filha, a saber: Quentin III, Candace, Jason IV e Maury, por ordem de idade. Ao longo da narração de O som e a fúria vê-se que Caroline vive quase sempre recolhida ao quarto, deitada, com uma Bíblia perto da mão. Sofre de uma neurose qualquer, queixa-se de que todos estão empenhados em atormentá-la. Seus filhos — à exceção de Jason, o único com quem se identifica — constituem pesado castigo. Maury é idiota: não fala, exprime-se apenas pelo choro e pelo grito, vive a babar, qual criança de colo e requer cuidados constantes de seus guardiões. Caroline muda-lhe o nome, de Maury para Benjamin, como se a inspiração bíblica do segundo nome pudesse corrigir uma situação irremediável. Aliás, Dilsey, a cozinheira, é quem observa: “O nome não vai ajudá-lo nem fazer-lhe mal. As pessoas não adquirem sorte pela mudança de nome”.
Por que age assim a Sra. Compson? Simplesmente porque, antiga fidalga, sente-se vítima de um destinado ingrato. Detesta diminutivos. Execra, por exemplo, o de Caddy, como é chamada familiarmente a filha Candace. E ralha com esta por andar carregando o irmão idiota nos braços: “Faz mal às costas. Todas as nossas mulheres se orgulharam do seu porte”. Para a Sra. Compson, viver desse jeito é expiar uma culpa que ela, com certeza, não se atribui.
Há razões de sobra para esse pathos familiar: o Sr. Compson é alcoólatra ou, pelo menos, começa a beber demais nos últimos anos de vida. Quentin suicida-se[2] por causa da sua paixão incestuosa pela irmã. Jason é avarento e cruel (quando criança, denuncia traquinagens dos irmãos e rasga bonecas). Caddy entrega-se a uma sexualidade promíscua. Quentin, filha bastarda de Caddy, foge de casa com um artista de circo e três mil dólares que surrupia do tio. O romancista informa, por fim, que o último amor de Caddy (a quem Jason chama “uma cadela”) é um oficial nazista, em plena guerra. Razão tem, portanto, o Sr. Compson — de resto, pessoa inteligente, dada a filosofias — quando diz: “Criado pela doença, entre putrefações, até a decomposição final”.
Da casa dos Compson não se tem uma descrição completa: apenas na quarta parte do romance menciona-se um fundo de alameda, onde aparece “a velha casa quadrada, sem pintura, com as suas colunas apodrecidas”. Antes, sabe-se que o prado onde Benjy, o idiota, gostava de passear pela mão de seus três guardiões — Versh, T. P. e Luster —, em busca das “formas brilhantes” que o aliviam, fora vendido para custear os estudos universitários de Quentin.
Blocos narrativos
O som e a fúria se compõe de quatro partes, ou blocos narrativos. O romance começa pelo monólogo incoerente de Benjy — ou melhor, pelas impressões do mundo exterior estampadas, emocionalmente, na sua consciência. Em seguida, vem o delírio de Quentin, no seu último dia de vida. O narrador do terceiro bloco é Jason, que se empenha em demonstrar todo o seu ódio a Candace e à sobrinha Quentin. Na quarta parte, a narração assume pela primeira vez tom objetivo, numa terceira pessoa, feita que é pelo próprio autor, e se concentra em Dilsey. As datas diferem, conforme indicadas nos próprios títulos. Veremos adiante a cronologia do romance, envolvendo deliberada manipulação do tempo cronológico, com o fito de acentuar o tempo interior e a visão pessimista de William Faulkner.
A impressão inicial, tendo-se em vista o ano de publicação de O som e a fúria, é que houve apelo consciente à técnica de estruturação do romance, e que essa técnica, embora realizada satisfatoriamente, com efeitos brilhantes, a ponto de ainda hoje suscitar diferentes análises críticas, tal a riqueza de sugestões implícita, não chega a ser absorvida pelo relato ficcional — em certas passagens, pelo menos. Em outras palavras, o ficcionista denuncia o esforço de composição. Quando veio à luz, o romance inscreveu-se logo nas tentativas de revigorar a narrativa contemporânea pela montagem e pela linguagem combinados a um ponto de vista singular. Com efeito, Marcel Proust começava a colher os primeiros êxitos com À la Recherche du temps perdu. Fragmentos de Ulysses eram conhecidos da elite intelectual americana. Virginia Woolf também oferecia contribuições ao laboratório romanesco. E na própria ficção americana havia um romancista largo, derramado, retórico, de poderosos fluxos originados na corrente da consciência: Thomas Wolfe.
A revolução técnica de O som e a fúria processou-se paralelamente a tais conquistas de soluções novas para a arte de construir e narrar o romance. Se o depoimento de Quentin, em estado de consciência aguda, exacerbada por um acesso de loucura, é joyceano pela associação de idéias resultante de profundas emoções desgovernadas, as impressões caleidoscópicas de Benjy sugerem um desafio de escrita mais além do Joyce de então, anterior a Finnegan’s Wake. E nos dois casos, de Quentin e de Benjy, nada em Faulkner é ou parece gratuito; ele não se compraz na busca de novidade, ou seja, na forma insólita de expor o universo romanesco. A técnica pode ressaltar, como ressalta às vezes, porém, presa ao relato, por ele ditada ou para ele voltada como força auxiliar de sua compreensão.
O romancista negou um possível tour de force. Em depoimento de 1955, diz-nos que O som e a fúria começou “em forma de conto, uma história sem plot sobre crianças que foram afastadas de casa durante os funerais da avó. Eram muito novas para que se lhes dissesse o que acontecia; percebiam as coisas apenas casualmente, nas brincadeiras infantis a que se entregavam, e que incluíam a maneira lúgubre de remover o corpo, etc.; e então fui tocado pela idéia de ver o que poderia tirar mais da noção de inocência cega, egocêntrica, típica de crianças, se uma delas fosse verdadeiramente inocente, isto é, idiota. Assim nasceu o idiota e depois eu fiquei interessado nas relações desse idiota com o mundo em que vivia, mas com o qual não podia competir, e de que forma ele obteria ternura e ajuda a fim de preservar a inocência. Falo de inocência no sentido de que Deus o feriu com a cegueira ao nascer — a estupidez, nada havendo que ele pudesse remediar. E assim, o caráter de sua irmã começou a emergir, depois o do irmão, aquele Jason (que, para mim, representava o mal completo; é o mais vicioso personagem em que já pensei). E depois, como houvesse necessidade de um protagonista, alguém para contar a história, Quentin surgiu. A essa altura, verifiquei que não poderia pôr tudo isso num conto. Narrei, por isso, a experiência do idiota naquele dia, e ela ficou incompreensível; era preciso contar o que havia acontecido, e tive de escrever outro capítulo. Então, decidi deixar Quentin oferecer sua própria versão daquele dia, ou daquela ocasião, e ele o fez. Em seguida, veio a necessidade do contraponto, que era o outro irmão, Jason. Nesse ponto, tudo ficou ainda mais confuso. Eu sabia que a coisa estava incompleta e tive de escrever outra seção, de fora, como um estranho, que era o escritor, para dizer o que ocorrera naquele particular. Foi como o livro nasceu. Isto é, escrevi a mesma história quatro vezes. Nenhuma delas parecia satisfatória, mas eu me havia angustiado tanto que não poderia mais deitar tudo fora e recomeçar; por esse motivo, juntei as quatro seções. Não houve, por conseguinte, um deliberado tour de force, o livro nasceu assim mesmo”[3].
Verdade ou não, o certo é que as quatro unidades narrativas não são as mesmas. Elas se referem a alguns acontecimentos básicos na família Compson, porém cada uma completa a verdade da outra, amplia e ilumina ocorrências, corrige e distorce versões. E as quatro partes, juntas, com a visão do todo, constituem uma tessitura poética e realizam então o romance na sua densidade e complexidade orquestral. Cabe a Benjy, o idiota, no aniversário dos seus 33 anos, insinuar o tema, e a Quentin, que se suicida aos 17, aprofundá-lo; o resto são variações temáticas. As partes três e quatro não oferecem dificuldades, mas sem o conhecimento prévio dos motivos, ou, pelo menos, de um roteiro dos motivos, o leitor desguarnecido dificilmente abriria caminho na espessura de um universo ficcional obscurecido pelas reações atemporais de um idiota e pelo cérebro conturbado de um adolescente que se vai afogar.
Aquele “dia particular” a que se refere Faulkner é 7 de abril de 1928. Na parte centralizada em Benjy, essa data constitui, portanto, o presente. Ocorre, porém, que Benjy, segundo Roskus, “sabe muito mais coisas do que pensa”, mas na vivência de tais coisas ele mistura passado e presente, e não sabe exatamente em que esfera temporal está situado no momento. Não há tempo cronológico para Benjy; apenas o tempo da sua reação emocional. Os trechos grifados por Faulkner remetem sempre ao passado, porém “a um passado anterior ao passado e a um passado posterior ao passado”.
Já que falta a Bejy a noção de tempo, o mais seguro é fazer-se a leitura conforme sugeriu Volpe[4], quer dizer, tendo-se em vista o acompanhante do idiota. Sempre que aparece Versh a escoltá-lo pelo prado, as datas são 1898 e 1900 e as cenas retrocedem à morte da avó Damuddy, à mudança de nome de Benjy, à entrega de uma mensagem do tio Maury aos Patterson. Benjy é, então, uma criança. Quando T. P. está a escoltá-lo, as datas variam de 1905 a 1912 — e Benjy terá mais de 11 anos de idade. Se o acompanhante for Luster, a ação avança para o presente, isto é, 7 de abril de 1928.
Benjy vive para quatro coisas fundamentais: o fogo, o medo, o som e o prado. O fogo o fascina, a ponto de nele queimar a mão; o som lhe desperta lembranças imediatas (por exemplo, o caddie pronunciado pelos jogadores de golfe, ele o associa à irmã Caddy, cuja falta sente lastimavelmente); o medo é ditado por sua situação mental, física e psicológica de insegurança, desde que Caddy vai embora de casa, ou melhor, já antes, quando ela começa a deixar de ser criança e a viver para si mesma e para outros (Benjy depende de Caddy, da mesma forma que Quentin vive igualmente num mundo precário, ligado afetivamente à irmã por um sentimento de incesto não praticado, porém admitido, e à qual, no seu monólogo, ele chama de mãe); por fim, no prado estão as “formas brilhantes” que apaziguam Benjy.
Os motivos — Por ordem de aparecimento no monólogo de Benjy, as cenas principais, os poderosos motivos da trilha dramática de O som e a fúria, são estas:
1. A ida ao cemitério. Quentin e o Sr. Compson já estão mortos. (“Entre agora e fique sentado até sua mãe chegar — disse Dilsey. Meteu-me na carruagem. T. P. segurava as rédeas.”)
2. A entrega da mensagem aos Petterson. ( “— Meta as mãos nos bolsos — insistiu Caddy. — Ou vão ficar geladas. Não quer ficar com as mãos geladas no Natal, não é?”)
3. O casamento de Caddy. (“Eu não estava chorando, mas não podia me conter. Não estava chorando, mas a terra não cessava de se mover, e depois comecei a chorar. O solo subia sempre e as vacas subiam pela colina.”)
4. A morte do Sr. Compson (“Você ainda não pode partir — disse T. P. — Espere.”)
5. Aos 14 anos de idade, Caddy perfuma-se. (“Benjy!” — disse Caddy. — Benjy!” — Abraçou-me outra vez, mas eu me afastei.”)
6. Benjy dorme sozinho. (“Vá para sua cama — disse Dilsey. — Você já está muito crescido para dormir com as pessoas.”)
7. Benjy, ao portão, espera Caddy. (“Não adianta nada olhar pelo portão — disse T. P.— Miss Caddy foi-se embora pra muito longe. Se casou e largou você.”)
8. Benjy ataca uma menina. (“Como foi que ele saiu? —surpreendeu-se o pai. — Deixou o portão aberto ao entrar, Jason?”)
9.Benjy é castrado. “Tentou tirá-lo da cara, mas as formas luminosas tinham partido.” Isto é, Benjy tentou tirar a mascara de oxigênio na mesa de cirurgia.
10. Benjy muda de nome. (“Está bem — tornou Dilsey. — Suponho que é a minha vez de chorar. Suponho que Maury vai deixar-me chorar um bocadinho agarrada a ele.”)
11. Caddy perde a virgindade. (“Podíamos ouvir Caddy andando depressa. O pai e a mãe olharam para a porta. Caddy passou andando depressa. Ela não olhou. Andava depressa.”)
Virgindade e pecado
Notam-se ainda referências, no monólogo de Benjy, ao suicídio de Quentin e a uma cena, no balanço, em que Caddy é surpreendida pelo irmão idiota quando beijada à força por seu namorado Dalton Ames. Também se menciona a espionagem contra Quentin por seu tio Jason. Uma conclusão é óbvia: o instável equilíbrio emocional dos irmãos rompe-se a partir do instante em que Caddy, mocinha, começa a se enfeitar, a ter encontros com rapazes, a se perfumar. Antes, quando criança, ela “cheirava como as árvores”, segundo Benjy. O crescimento de Caddy e sua personalidade autônoma são ameaças para Benjy e um suplício para Quentin. A princípio, ela procura se sacrificar ao bem-estar dos outros: esquece projetos de fuga, lava a boca para apagar a nódoa do beijo e, quando perde a virgindade, Benjy força-a a entrar no banheiro para a lavagem purificadora. Caddy aceita também o pacto de morte proposto pelo irmão Quentin, que, empunhando uma navalha, não o executa. Mas ela, que para Benjy cheirava como as árvores e para Quentin desprendia o odor da madressilva, isto é, do sexo maduro, assume por fim sua condição de mulher. “Elas têm o instinto do mal, o talento de suprir com o mal o que lhes falta…”[5]
A mulher, no ficcionismo de William Faulkner, é sinônimo de pecado. Não chegaremos, como alguns ensaístas, a falar em misoginia, mas semelhante visão vem a ser determinada por um forte resíduo de moral puritana. A mulher traz o ferrete bíblico de um destino algo funesto a que não se pode esquivar por força de seu próprio sexo. Em seu monólogo, Quentin observa: “Porque a mulher é tão delicada, tão misteriosa, dizia o pai. Delicado equilíbrio de imundície periódica entre duas luas que se contrabalançam”. Monique Nathan anota que, “mesmo normal, a sexualidade é um fantasma temível para uma consciência puritana Assim, sonha-se muitas vezes, nos romances de Faulkner, com um estado de inocência do corpo que traduziria o do espírito. Para Quentin Compson, a virgindade de sua irmã é uma representação ideal da pureza de sua família, pureza impossível, ele bem o sabe, já que Caddy, além de, por seu nascimento, ser mulher, é impura”[6].
Em apêndice a O som e a fúria, solicitado pelo editor, o próprio Faulkner depõe: “Quentin III, que amou a morte sobre todas as coisas, que amou somente a morte, amou e viveu numa antecipação deliberada e quase pervertida da morte, do mesmo modo que um amante se refreia… frente ao corpo da amada, até que, não podendo resistir à sua atração… se lança sobre ela, com um grito e abandonando-se por completo a seus impulsos, afogando-se. Suicidou-se em Cambridge, Massachusetts, em junho de 1910”.
O segundo bloco narrativo é o último dia de vida de Quentin. A irmã foi desvirginada, casou com outro namorado (Herbert Mead), aparentemente arranjado pela mãe, teve uma filha bastarda (do primeiro amante), à qual dá significativamente o nome de Quentin, antes de saber o sexo da criança. É demais para Quentin, que se recusa, à sua maneira, a se tornar adulto. Seu monólogo está repassado de cenas que datam de 1898, 1900, 1909 e 1910, meses antes do suicídio. Entre elas, avultam como fatos decisivos o beijo de Caddy no namorado, a perda da virgindade, o anúncio do casamento, a véspera e o dia das bodas. Antes de morrer, Quentin vem a ser protagonista de dois acontecimentos espantosos: identifica numa menina desconhecida a irmã perdida (e criança) que Caddy tinha sido, e agride um amigo à simples menção da palavra irmã. Para Quentin, naquele estado de exasperação suprema, a irmã é a morte. “A irmãzinha” do cântico de São Francisco de Assis[7], que ele cita no início do monólogo.
O tempo
Para Michael Millgate, “durante um dia inteiro de incidentes deveras extraordinários — duas brigas, uma audiência no tribunal, idas e vindas, encontros —, o espírito de Quentin permanece atado ao passado. É quase como se Faulkner brincasse com a idéia de que um homem afogando-se vê a vida inteira desfilar diante de si, e percebe-se então que esse último dia de Quentin é uma espécie de instante suspenso antes da morte”[8].
A imagem é exata. Desde que lemos este romance, cerca de 30 anos atrás, ficou a impressão de um filme em que algumas crianças são protagonistas. Porém um filme montado por um realizador caprichoso, sem preocupação de continuidade. As tomadas externas, referentes à ação episódica, são obliteradas e em seu lugar surgem ou os efeitos da ação ou sua causa, enraizados na consciência dos atores. É um filme rodado em alta velocidade, de modo que o espectador recolha apenas cenas de relance, figuras esbatidas, insinuações que não se concretizam.
Ao contrário de Proust, que sonha redescobrir o passado como fonte de satisfação interior, Faulkner prescreve o presente em favor do passado — mas de um passado que, de tão caudaloso, condiciona o presente, formando um tempo próprio, à margem de cronologias. É como se o tempo, o tempo convencional, fosse para suas personagens uma vasta prisão. Não há ato que não encerre conseqüências imediatas, que não se esgote em si mesmo na fugacidade do instante. Todo ato é uma célula temporal pré-condicionada por um acontecimento pretérito. Não há presente; há uma realidade atemporal, de mitos, imagens e arquétipos. Por isso, Sartre observou: “O presente não é; ele se torna presente. Tudo foi (…) A ordem do passado é a ordem do coração. Seria errado supor que, quando o presente é passado, ele se torna a nossa memória mais fechada. Sua metamorfose pode fazê-lo mergulhar no fundo de nossa memória, da mesma forma que pode deixá-lo flutuando na superfície. Somente sua intensidade própria e o significado dramático de nossa vida podem determinar em que nível ele permanecerá”[9].
Não é de admirar que Quentin, na oitava página do seu monólogo quebre o relógio. “Não preciso de relógio”, ele diz. E mais adiante: “Porque meu pai disse que os relógios matam o tempo”. E o tempo de Quentin, seu terrível tempo interior, passa a correr em função de uma sombra — sua sombra, a sombra da Morte. “A sombra da ponte, as filas das balaustradas, a minha própria sombra achatada sobre as águas, que eu tinha enganado tão facilmente e que não me queria deixar mais.”
Campbell e Foster, que propõem para o monólogo de Quentin Compson uma interpretação de sonhos à maneira freudiana, vêem na obra de William Faulkner “o caos contemporâneo (que inclui seu pessimismo cósmico). É a consciência da análise que Faulkner faz do mundo moderno, seu niilismo, sua violência e seu horror”[10]. Seria o autor de O som e a fúria — e também de outras obras-primas, como Sartoris, Absalão, Absalão!, Luz em agosto, Palmeiras selvagens, O urso, Desça, Moisés e O povoado — , que tratam de decadência, decomposição e esperança de ressurgimento, aquele “homem perdido” a que se referiu Sartre no ensaio já mencionado, aquele místico que deseja esquecer o tempo? O simples fato de argamassar presente e passado, imprimindo-lhes dimensão supra-real, não implicaria compromisso fundo com esse tempo nosso, com essa circunstância e, conseqüentemente, com o destino da criatura humana? “Recuso-me a admitir o fim do homem”, disse Faulkner, aliás, no discurso com que recebeu o Prêmio Nobel. “Creio que o homem não apenas perdurará, mas que prevalecerá. É imortal não porque seja de todas as criaturas a única que possui uma voz inextinguível, se não porque tem uma alma, um espírito capaz de compaixão e de sacrifício e de sofrimento. O dever do poeta, do escritor, é escrever sobre estas coisas.”[11]
A metafísica de Faulkner — do desespero e da negação — não o impede, portanto, de crer no futuro. Ficcionalmente, ele é um trágico. O título retirado de Shakespeare indica que os grandes poetas trágicos convocam a retórica para atrair o desespero como forma de exorcizá-lo e abrir espaço a uma luz, quem sabe?, redentora. No final de O som e a fúria, Dilsey volta, banhada em êxtase, de um serviço religioso, certa de ter ouvido o som de trombetas anunciadoras da glória e da ressurreição. Razão tem Lawrance Thompson[12] ao fazer esta súmula do romance famoso: “Por todo O som e a fúria um motivo recorrente, sugerido pelo próprio título, é a convenção tradicional de conflito entre forças que produzem a ordem e forças que produzem o caos na experiência humana, aqui representados em parte pelo gradual afastamento da família Compson — da lembrada dignidade e ordem para a desgraça e o caos”.
Retórica, por que não?
Hemingway dizia com alguma ingenuidade que escrever consiste em cortar palavras. Parece ser igualmente a receita de Flaubert, como foi, na prosa de ficção brasileira, a economia verbal de Machado de Assis. Mas deve-se levar a indicação ao pé da letra? Por que não revalorizar o adjetivo, peça fundamental na transmissão de imagens e emoções? Assim fez Eça de Queiroz. Assim fez Joseph Conrad, um dos pais da novelística moderna. Balzac costumava acrescentar mais do que cortar, como se vê em reproduções de provas tipográficas. E assim escreveu Marcel Proust. Convenhamos que há concisos e retóricos, e que ambos empolgam quando acertam a mão.
A retórica faulkneriana, com aquele fluxo verbal que inspirou García Márquez, sempre me seduziu. A sequidão caracteriza o prosador, enquanto a retórica envolve o prosador e o poeta. Não importa a quantidade de palavras: os dois podem ser densos à sua maneira. A retórica de Faulkner tem matriz poética (ele iniciou-se pela poesia, incluindo The Marble Faun, volume de versos) e pretende esculpir a emoção, de forma a particularizá-la. Um dos concisos, Tchekhov, disse que esculpir um rosto num bloco de mármore equivale a lapidar tudo, menos o rosto. A retórica também procura e encontra o rosto, desfigurando-o com um excesso de estocadas para que, escapando ao figurativismo, se transforme num especial rosto expressionista.
A retórica é arte mais moderna que a concisão. Os áticos da antiguidade grega já eram concisos a um grau extremo.
Ficcionista desataviado e desatado, Faulkner faz jorrar o texto com uma cadência tão cantante quanto os cedros em duplo renque na sua casa de Rowan Oak, na pequena Oxford, Mississipi. E com um rico tecido de figuras de linguagem — orações intercaladas, ênfases, hiatos, hipérboles e suspensões que valem por um manual de escrita. Nos seus últimos romances ele abusa de um fraseado preciosista, a ponto de se tornar difícil, quase ilegível, mas nas obras-primas já citadas, entre as quais convém incluir também Enquanto agonizo, o texto de poesia e prosa juntamente argamassados se torna muitas vezes épico. Tão épico quanto uma carga de cavalaria na Guerra Civil americana, por ele várias vezes relembrada. E que os moralistas, escritores ou não, gostariam de lançar, num passe de mágica, contra todas as legiões que, nesse momento, destroem a ordem para instituir o caos.
A violência banalizou de tal modo a caça do homem ao homem que somente as palavras, brandidas com fúria e frenesi, poderiam competir com os tanques, mísseis e metralhadoras de última geração.
Notas
[1] Título retirado do Ato V, cena V, de Macbeth: “It is a tale told by an idiot, full of sound and fury,
signifying nothing” (A vida é um conto narrado por um idiota, cheio de fúria e frenesi, sem significação).
[2] Dessa nova tragédia há reflexos no romance Absalão, Absalão! (1936), onde se intensifica o debate
sobre o velho Sul, a escravidão, o sentimento de culpa dos ancestrais brancos, o incesto, etc.
[3] Robert A. Jellifee, ed. Faulkner at Nagano, Tóquio, 1962, p. 103-5.
[4] Edmond L. Volpe, A Reader´s Guide to William Faulkner, Nonday Press, 1964, p. 353 e seg.
[5] Citado em Monique Nathan, Faulkner par lui-même, Éditions du Seuil, p. 91.
[6] Id., p. 89.
[7] Faulkner via em Francisco de Assis o símbolo e a incarnação do amor puro, incorruptível.
O santo aparece em duas fábulas suas, The Wishing Tree, para crianças, e Mayday.
[8] Michael Millgate, “The Sound and the Fury”, in Faulkner, a Collection of Critical Essays,
editada por Robert Penn Warren, 1966. p. 102.
[9] Jean-Paul Satre, “On The Sound and the Fury: The Time in the Works of Faulkner”, in
Faulkner, A Collection of Criticial Essays., p. 90. Ver nota anterior.
[10] Harry Campbell e Ruel E. Foster, William Faulkner. Editorial Schapire, Buenos Ares,
1954, p. 17;
[11] Citado no prólogo de Obras Escogidas, Tomo I, Aguilar, Madrid, 1956.
[12] Lawrance Thompson, “Mirror Analogues in The Sound and the Fury, in Faulkner,
A Collection of Croitical Essays, p. 114. Ver nota 8.