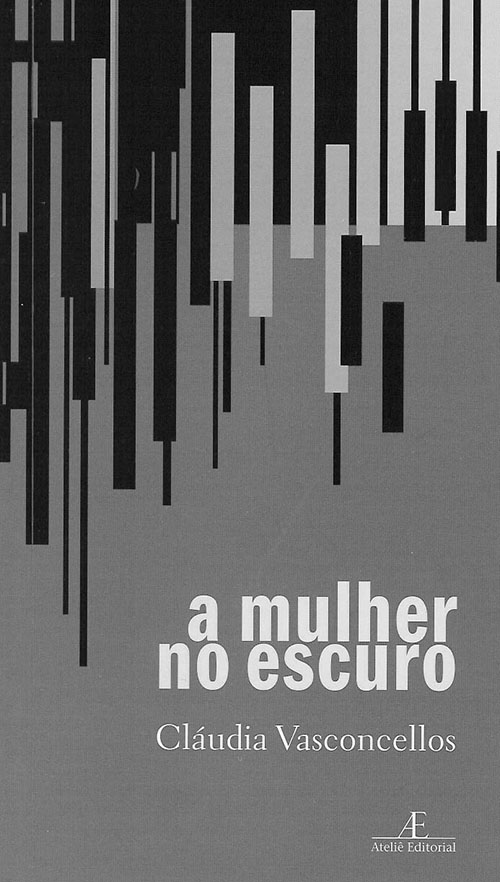Cláudia Vasconcellos, em a mulher no escuro, constrói um mundo em claro/escuro onde as vozes de seus personagens ecoam a solidão de nossa sociedade de clarezas e definições redutoras. Artista ou rei, homem ou mulher, poderosos ou anônimos, todo e qualquer rótulo empobrece os integrantes de uma sociedade que deseja viver apenas de aparência e racionalidade, aceitando a imagem como significado, sem buscar na reflexão e nas emoções suas mais profundas verdades.
Como num processo fotográfico, as imagens só podem ser reveladas no escuro. É a partir do mergulho na sombra que nossos sentidos se aguçam, e nossa percepção do mundo se faz de forma instintiva e visceral. A sobreexposição a que estamos submetidos pela nossa crescente racionalidade, ao invés de revelar verdades, destrói os contornos e impossibilita o relevo, reduzindo nosso conhecimento ao supérfluo e ao superficial. Mas é no contraste que o mundo se revela, e a ausência deste só aponta falsas perspectivas.
Cláudia construiu um livro de equilíbrios para melhor denunciar a vida moderna. É equilibrada a divisão da obra: quatro peças teatrais seguidas de quatro contos. É equilibrada, quase simétrica, sua dramaturgia, com instruções para a disposição de cenários e personagens de maneira especular. Na penumbra ou nos black-outs recorrentes, o escuro se instaura, e é através dele que se pode perceber o mundo com o pensamento despoluído da força das imagens prontas: um mundo de assombros.
Outro poderoso recurso de sua dramaturga é o paralelismo. A cada vez que um trecho ou uma cena se repete, a pequena nuance que se introduz funciona como gerador de novos significados. O valor do que foi dito anteriormente se modifica e se degrada, revelando o perigo de se acreditar nas primeiras aparências. Essa construção se torna mais evidente nos sete atos do monólogo sete dias do rei, quando as repetições variam de tom, partindo da certeza vibrante, passando pela perplexidade até chegar ao atordoamento final. Seja assim, ou na justaposição de um homem e de uma mulher, que se completam como num jogo de encaixe (lágrima de vidro); ou no desdobramento de uma pianista em três seres que se confundem e ecoam uns nos outros e que devem ser interpretados, segundo as instruções da autora, como memória, consciência e juízo (a mulher no escuro), ou até mesmo na surpreendente relação especular de reclamante e ouvinte (tryst), num mundo futuro em que a vida se apresenta como peças de um quebra-cabeça que ninguém mais sabe como montar, já que todas as perspectivas foram perdidas — é através do recurso da repetição nuançada que se tem acesso às chaves para o imaginário de Cláudia Vasconcellos.
No exame das possibilidades de sentido humano: amor, arte, poder e função social, a luz fria da ciência demonstra como sua linguagem de univocidade é geradora de conflitos. Somente nas hesitações das vozes, na penumbra da cena, no ritmo entrecortado, no avesso das repetições é que se pode surpreender uma veracidade que se desvanece ao ser examinada sob o clarão das certezas redutoras.
Os contos que se seguem — narrator; quando meu irmão ficou cego; filete ínfimo d’água para um rio e quando a noite — compartilham, com as peças da primeira parte, as idiossincrasias de pontuação. Na busca por uma melhor expressão dos processos através dos quais as (in)certezas humanas se concretizam em pensamentos e falas, a autora resolve, além de abolir as iniciais em maiúsculas, adotar uma pontuação que impeça a respiração natural, no caso das peças teatrais, ou o fluxo do pensamento ordenado, no caso dos contos, chamando a atenção para as hesitações que a excessiva luminosidade de nossos tempos provoca. Essa luminosidade, igualada a ofuscamento e desumanização, se opõe ao lugar da intuição e da verdadeira sabedoria, que é a escuridão, ou a cegueira. Retomando uma tradição da antiga Grécia, onde os áugures como Tirésias podiam ver melhor as coisas humanas pois haviam adquirido, com sua cegueira, a capacidade de olhar para dentro de si mesmos, o conto quando meu irmão ficou cego constrói uma parábola que demonstra como as relações sociais se deixaram contaminar por pragas que as destroem impiedosamente. A comunidade é atacada, sucessivamente, por flagelos como os sempinternos collectivi, e os anonimus in multitudine, contra os quais a ciência, a psicanálise e a tecnologia se revelam impotentes, já que sua excessiva luminosidade, ao dissecar e desvelar os males, gera mais dúvida e angústia, mais individualismo e separação.
Liberdade e desassossego
Em narrator, disseca-se o processo de criação e postula-se uma possível liberdade que singularize e justifique as ações do ator. Num triângulo cujos vértices são ator, autor e narrador, este último observa, com volúpia voyerística, o processo de tomada de consciência do ator, sua rebelião contra o autor, sua insatisfação com o texto que se vê obrigado a representar todas as noites. Quando finalmente se torna dono de seu próprio destino, ele parte, apressando o passo, e abandonando todos os liames do passado. Na sua libertação da “viscosidade própria das coisas indeterminadas”, fica, porém, a sensação de que o ator se condena à solidão, rompendo seus vínculos com o texto e a dramaturgia, ao mesmo tempo em que decreta o esvaziamento do discurso narrativo. Optar pela liberdade é também optar pela solidão e seu desassossego.
A possibilidade do discurso narrativo, a tentativa de “fixar o momento fugidio que favorece a irrupção de um estado de ânimo literário”, é o tema de filete ínfimo d’água para um rio. Numa narrativa lírica, que se aproxima das técnicas do fluxo de consciência, murmuram-se os diminutivos das impressões e memórias os quais, repetidos e sussurrados como mantras, alimentam um manancial que, embora passe despercebido pelos outros, pode evoluir para um rio, e daí para um “pequeníssimo mar profundo”, onde espreita a possibilidade de uma “quase invisível felicidade mínima”. Solitária, quase indistinta, a pessoa segue pelas ruas de uma cidade invadida pelo sol, uma cidade sem sombras, e é seu discurso, repetido, sussurrado, constante, o que lhe dá abrigo e proteção contra o ruído incessante da cidade, contra os gritos de uma solidão compartilhada em bares ou do silêncio gritado no interior das casas.
O livro se encerra com mais um conto breve, quando a noite, um lamento contra a solidão a que estamos condenados. A distância entre expectativa e realidade sobressai em dois momentos distintos, pertencendo um à memória e outro ao momento presente. Uma casa que se enfeita de flores à espera de um sorriso, em contraponto a uma criança amedrontada que se agarra a um urso de brinquedo, ambas desafiando as sombras que se aproximam. Para conseguir a paz, para afastar o sofrimento, sobra a metamorfose: transformar-se em urso para enganar as sombras que se avizinham, ou transformar-se em flor para sobreviver sem a necessidade da aprovação do Outro. O importante é a prece: “tudo o que eu quero é não sofrer” que também se metamorfoseia, com a compreensão de que o sofrimento é inevitável, já que faz parte da própria condição humana. A prece se transforma num apelo, patético pela falta de destinatário: “tudo o que eu quero é não morrer”.
Cláudia Vasconcellos, em a mulher no escuro, vale-se da reflexão filosófica e de artifícios dramatúrgicos para explicitar conceitos filosóficos que pertencem a todos mas que, infelizmente, vão perdendo seu valor, encapsulados pelo brilho enganoso de uma sociedade que privilegia a racionalização reificante e que se refugia em rótulos científicos para ofuscar a compreensão de que nossa única certeza é a solidão. As diferentes vozes que Cláudia faz ecoar, em ritmo sempre emocional, fogem do esclarecimento e procuram, pelo assombro, revelar uma sabedoria comum a todos, mas esquecida por muitos. A linguagem e suas ressonâncias levadas a elegantes trejeitos poéticos, obrigam-nos a escutar e refletir. A única possibilidade de amenizar a distância a que nossa própria condição humana nos condena é o mesmo instrumento que nos separa: o texto. Daí esses gritos no escuro, daí essa solidão compartilhada às claras.