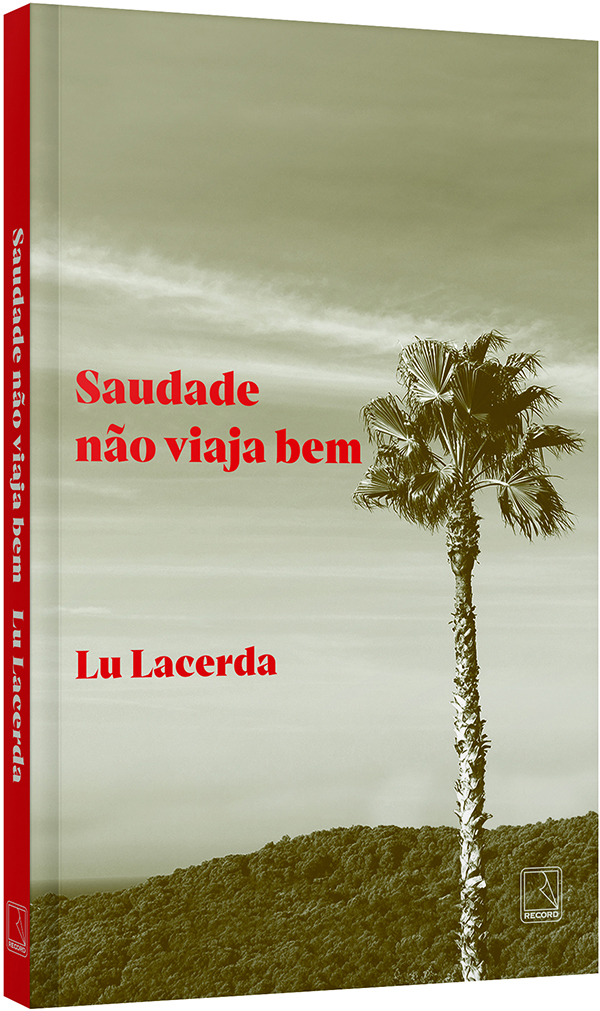Em interessantes páginas iniciais, a narradora, em primeira pessoa, descreve uma crua cena de aborto forçado em Saudade não viaja bem, romance de estreia de Lu Lacerda. Infelizmente, não vai muito além: um romance feminino correto, sem grande investimento temático ou estilístico.
Eu grávida, sem poder ter o filho. Quando meu namorado foi me buscar, muito cedo ainda, me deixei levar (…) numa espécie de transe. (..) Minha recordação me leva ao momento em que eu estava deitada, de pernas abertas, num lugar tão feio e tão frio. Tudo piorou quando o médico mandou que eu abrisse ainda mais as pernas (…)
Seria oportuno desenvolver o tema (ainda pouco tratado na literatura feminina, mas recém-valorizado pela autoficção da francesa Annie Ernaux em O acontecimento). Entretanto, os efeitos emocionais do aborto sobre a narradora-personagem permanecem vagos porque alternados com longos trechos (biográficos?), que relembram sua infância rural na Bahia: deles, emerge a figura altiva do pai, da mãe, das avós na rotina entre o gado e a natureza.
A narradora, ainda sob o efeito da sedação, passa a relembrar a infância na fazenda onde se criou, e, num andamento cronológico regular, estende a lembrança à vida adolescente no Rio de Janeiro, aonde viera estudar.
Não é fácil conectar a memória aos efeitos psicológicos do aborto de um filho que (talvez) não se quisesse perder. Quer dizer, o leitor não encontra ecos de ligação temática entre a infância na roça e o aborto. Talvez seja apenas uma questão de construção, já que os relatos se alternam.
O que sobressai, entretanto — insistente —, é a certeza de que, sobretudo diante das vicissitudes da vida na cidade, a vida na fazenda é sempre melhor e inspiradora. Quando vinha o fotógrafo, a narradora mostra o antagonismo:
Eu e meus irmãos nos arrumávamos tanto que nos transformávamos exatamente naquilo que não éramos. Perdíamos o nosso ar meio rústico, nossa autenticidade, talvez o melhor que tínhamos. Minha mãe brincava: Hoje é dia de virar criança grã-fina. (…) Bem ao contrário das galochinhas e das botas do dia a dia, tão confortáveis, eu me via aprisionada em meus sapatos de festa.
Histórias quase autônomas
Creio até que se poderia ler esta obra como duas narrativas. A que trata do aborto carrega, na amargura da jovem mulher, a confirmação do peso patriarcal sobre os não apaniguados — no caso, essa moça do sertão, que se pôs a namorar um riquinho carioca. A casa dele, de família rica e proeminente, “era belíssima”, as pessoas usavam “roupas finíssimas”; nas paredes, Tarsilas e Portinaris; e, no pescoço da mãe do moço, um “babador” de diamantes. Assim, diante da nordestina, há um herdeiro que deveria brilhar. Nitidamente, a narradora se vê desconcertada diante de taças de cristal e tanto luxo. Cabe a esse namorado (a quem mais?), apavorado com a reação dos pais, contratar, conduzir e pagar todo o procedimento cirúrgico, que consertará seu futuro:
Ele, o também “dono da gravidez”, sem piedade, estava com o poder nas mãos daquilo que era meu; (…) O que mais me perturbava era saber que eu não mandava no meu corpo. (pág. 27) O aborto foi à revelia de meu desejo, mas fiz. Não queria? E por que consenti? (pág.75.)
Ao leitor fica a impressão de que a personagem, mesmo narrando, subjuga-se por se sentir de fato inferior. Resigna-se (como costuma acontecer com não poderosos na sociedade “cordial” brasileira). A personagem, parece, usará essa frustração (afinal, escreve uma narrativa) para, de maneira um tanto pueril, valorizar a pregressa vida rural.
Assim, não se trata de um romance de formação ou de empoderamento feminino; o leitor infere que nada mudou nem mudará: um aborto compulsório é apenas mais uma das violências urbanas que contrariam o lirismo atávico do campo. Assim, a memória vale só como conforto, não será vingança nem trará poder a quem narra — é apenas um antigo paradoxo campo-cidade.
Na fazenda, depois de crescer, era da cidade; na cidade, mesmo adulta, era da fazenda. “Uma eterna deslocada, sempre na contramão”.
Tom narrativo
A extensa lembrança dos anos traz como tarefa louvar no cenário quase idílico, pai, mãe, avós, bisavós; estes personagens trazem consigo muitas sentenças morais. O leitor terá de construir suas personalidades através dessas sentenças — que se estendem por toda a obra.
Cada um é responsável pela interpretação que dá a seus problemas. Tanta gente ruim para morrer e que morre é o gado. (avó)
Amizade e lealdade com filho não é virtude, é obrigação. (a mãe)
Um gênio já disse que a vida só deveria ir até onde fosse a dignidade. (bisavó)
— O que é ingênua, pai? [Ser ingênua] é doce ou amargo? — Mais doce que amargo. Gente de boa-fé extrema é ingênua; gente que não percebe nuvens pesadas é ingênua. (o pai)
A filha, extremamente apegada à mãe, relativiza seu alcoolismo (a mãe acordava com as bochechas rosadas). E o pai, mesmo, liderando autoridade patriarcal em todas as esferas (até na altura da barra dos vestidos), parece condescender com isso. A narradora, então, se alonga na tristeza infinita da mãe: talvez a perda de um filho, talvez a frustração de viver enterrada numa fazenda.
Diferentemente do que afirma o editor Rodrigo Lacerda na orelha do romance, mesmo sob “anos e anos de silenciosa depuração desses temas”, não vejo elaboração sólida neste relato. A nostalgia rural é excessiva e, muitas vezes, simplória. Assim, a força do relato sobre o aborto não consentido será diluída por aquele excesso. (Creio que Lacerda, observador arguto, se refere à possibilidade de autoficção). Porém, a primeira pessoa onisciente em memórias não cria autobiografia por si só — que, na terceira pessoa, ganharia mais intensidade.
Correndo o risco de me repetir ao ler tantas obras femininas contemporâneas, lembro que a literatura feita por mulheres foi definida há mais de 50 anos por Gilda de Mello e Souza como uma construção de “olhar míope” — que enxerga com precisão somente o que está perto, incapaz de ver claramente longe da janela. Creio que algumas de nossas escritoras ainda não superaram essa miopia.
Nesta narrativa, por exemplo, os olhos de tudo o que está na fazenda, nos vestidos, nos vestígios, na toalha da mesa remete a uma literatura ainda sem fôlego para seguir em grandes questões. Como se fosse obrigatório, muitas autoras ainda se equilibram na miudeza das descrições:
(…) vestido de linho rosa, o mais bonito que a vi usando a vida toda. Tinha decote quadrado, mangas muito curtinhas e um pouco armadas, o que ficava bem em seus braços magros e longos. Era justo até a cintura, e a partir dali, algumas pregas bem largas se abriam, indo até a altura do joelho. Era esse o comprimento mais curto que meu pai permitia.
Caras autoras (e não falo somente sobre Lu Lacerda), descrevam menos decotes e mangas, e alonguem-se nas razões sociais de o comprimento não passar do joelho. Não usem um viés didático na cena, das mais comuns, de como preparar a cocaína — que conheceu (quem mais?) pelas mãos do namorado rico. Tudo fica meio maniqueísta.
Ele tirou o pó branco de um saquinho, pegou um prato, aqueceu, colocou ali a droga e, depois de separá-la com um cartão de crédito, fez as linhas formando meu nome; certamente aquilo para ele significava uma homenagem.
A temática feminina de libertação e poder (ostensiva numa das epígrafes autora: Pela autonomia de todas as mulheres) anula-se quando o comprimento do vestido, o aborto forçado, o tempero da casa, o alcoolismo e a cocaína — tudo emerge nas mãos dos homens. Bisavó, avó, mãe e a própria narradora não conseguem, sem levante nem rebelião, forças para conduzir o próprio destino.
Se a autora pretendeu expor maturidade e autoconhecimento feminino no presente em que narra, talvez não tenha sido, ainda, bem-sucedida. Terminamos de ler a obra e nos perguntamos: será que apenas o registro em livro das vicissitudes do clássico patriarcalismo faz de uma mulher uma fortaleza? Creio que não. “A saudade não viaja bem”, como disse na obra a avó de Maria Clara.