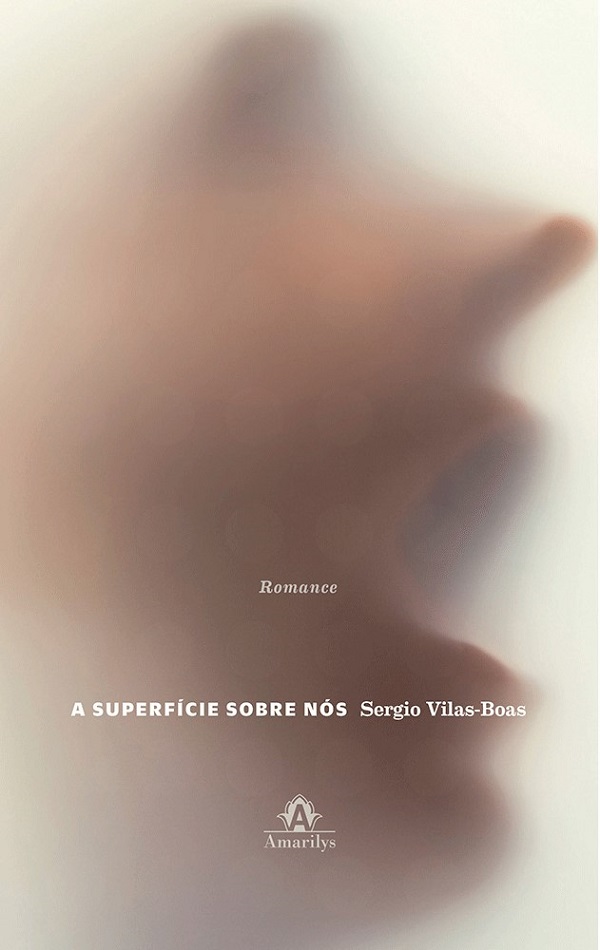Mil rosas roubadas, Silviano Santiago relata o sofrimento e as memórias de um homem ao perder seu melhor amigo, a única pessoa que poderia escrever sua biografia. Mais do que uma ficção que o tempo todo esbarra e tromba na realidade, o livro é uma espécie de ensaio biográfico, uma bela declaração de amor do autor ao produtor musical Ezequiel Neves, seu parceiro que morreu em 2010. Apesar de um tanto meloso — ou exagerado, adjetivo que dá nome a uma das músicas coassinadas por Ezequiel e que ajudaram a eternizar (até o momento, ao menos, já que a eternidade é um bocado longa) o nome de Cazuza, trilha sonora perfeita para a leitura e entendimento do volume —, é um livro bom, tanto que levou o prêmio Oceanos do ano passado.
Ter Mil rosas roubadas em mente pode ser um caminho para se ler A superfície sobre nós, romance mais recente de Sergio Vilas-Boas, estudioso e profundo conhecedor de biografias (é dele livros acadêmicos importantes na área, como Biografias e biógrafos e Biografismo) e também ficcionista — seu Os estrangeiros do trem N, lançado em 1997, foi finalista do Jabuti, inclusive. Na nova obra, Sergio constrói uma narrativa que parte do encontro ocasional do jovem Hugo com o colega de trabalho Jaime, um tanto mais velho, em um bar, onde travam uma conversa que dá origem a uma grande amizade, mas também evidencia as diferentes visões que têm do mundo.
Caminhos que somente se iniciam
O começo do romance é promissor. Ao longo do diálogo inicial entre os personagens, surgem diversos elementos que poderiam, se bem explorados, render uma história — ou ao menos pequenas histórias que comporiam todo o volume — até mesmo necessária dentro do atual panorama da literatura brasileira, que exporia algumas das muitas questões nas quais os integrantes das chamadas gerações Y e baby boomers conflitam.
Exemplos? Temos, claro. “Conceber ou adotar uma criança hoje é talvez o único erro irreparável que um ser humano pode cometer, e certamente o mais difícil de admitir”, diz um dos personagens em dado momento para logo em seguida complementar: “Não faltam possibilidades, portanto, de os escassos recursos da Terra serem drenados em função de um estilo de vida caprichoso, alienado e autodestrutivo”. Gente que confronta essa mania que as pessoas têm de arrumar filhos e cuidar de crianças e, além disso, ainda lembra que o mundo não nos aguentará por muito tempo: gostaria de uma ficção sobre isso.
Outro trecho:
Na Editora Dez, que edita “várias revistas debiloides”, essas minúsculas “rebeldias” eram malvistas; e os funcionários cultuavam a permanência na redação até muito tarde, mesmo sem necessidade, para desespero do velho senhor [a editora-chefe se referia a Jaime assim]. Nos dias de maior pressão — a finalização da edição de alguma revista, por exemplo —, a mulher-monstro [ele se referia assim à editora-chefe] intimava seus assistentes a trabalhar madrugada adentro.
As rebeldias, no caso, são atitudes como entrar e sair no horário combinado, almoçar decentemente, com calma, e não avisar a chefia quando ia ao banheiro ou queria buscar um café. Também gostaria de uma ficção que expusesse ao ridículo essas excrescências que há em qualquer ambiente de trabalho — o meio corporativo parece mesmo ser o esgoto das relações humanas. “Inventaram que o trabalho deve ser tão prazeroso quanto tomar sorvete numa tarde quente”, comenta o personagem que desabafa, ponto que poderia ser explorado profundamente e agregar se a narrativa seguisse esse caminho.
Até mesmo a história que dá início ao livro poderia ser interessante, ainda que pouco original: mais de trezentos profissionais de um jornal (escritor escrevendo sobre jornais, jornalistas, imprensa e afins, eis a falta de originalidade que falei há alguns toques atrás) demitidos por telegrama após a greve de mais de 20 dias que fizeram para tentar receber o que a empresa lhes devia. Uma espécie do famoso passaralho aliado a um golpe para que os empregados ainda saíssem como vilões da história — e sem ter direito a coisa alguma, evidentemente. Dos personagens, o amigo que registra a narrativa era trainee (trainee: medonho, eu sei, mas o povo de algumas áreas parece gostar, do mesmo jeito que gostam de MBA, job, budget e palavras afins) de informática do lugar, enquanto o que fala como um bêbado desabafando sobre a vida que passou é, como facilmente podemos notar, um jornalista com anos de experiência.
Das paralisações, Hugo deixa transparecer algo caro a muita gente de nossos dias. “Participar das assembleias foi uma experiência marcante para mim, talvez por eu ser [na época] um filho único mimado e imaturo. Mas minha situação financeira era tranquila em comparação com a da esmagadora maioria dos meus colegas, incluindo o Jaime […] Com uma gorda mesada, eu não tinha nada a perder. Fazer greve foi até divertido, confesso”. Ou seja, o típico revolucionário — e poderia ser um reacionário, esse tipo de gente há nos dois polos — bancado pelo pai, o que, se não tira o mérito das questões que defende, enfraquece o suposto sacrifício que faz pela causa. Sim, também seria legal ler um romance sobre isso.
Contudo, Sergio passa por essas questões. Como o título do livro entrega, não sei se propositadamente — até acredito que sim —, não consegue imergir, não sai da superfície. Dividida em cinco partes, a narrativa ainda se torna modorrenta, arrastada, cansativa… Da metade para o final, o velho tema que o autor tanto gosta ganha espaço: imigrações. Temos passagens em Portugal, nos Estados Unidos… mas sem brilho, ainda mais se comparadas ao bom trabalho que fez em Os estrangeiros do trem N.
Precisava?
Não bastasse isso, o próprio escritor ainda aparece na história bem mal disfarçado, sob o codinome de Paulo Monfort, autor de um tal de “Os passageiros do trem 7”, um “romance-reportagem [what?] sobre imigrantes brasileiros em Nova York”. Basta pegar Os estrangeiros do trem N para ver que na contracapa a editora classifica o livro com a aberração que é o termo romance-reportagem (ora, ou é romance ou é reportagem). O what entre chaves soa como Sergio mostrando sua insatisfação com o termo.
Essas intromissões em A superfície sobre nós, aliás, também mais atrapalham do que ajudam. Se por um lado dá mais uma camada à obra, uma voz a mais, por outro tenta transmitir ao leitor a impressão de que estamos diante de um texto inacabado, ainda em edição — outro recurso que pode ser visto bastante por aí atualmente, diga-se. Olha só um trecho no qual isso ocorre, só para que fique claro: “Lara foi levada para o quarto somente às quatro da tarde. [Desacordada, ela não se parecia em nada com uma ‘clara flor’.] Tinha uma cara péssima, amarrotada, as pálpebras caídas até o meio, uma secreção branca seca escorrendo pelos cantos da boca e uma palidez perturbadora”. Precisava?