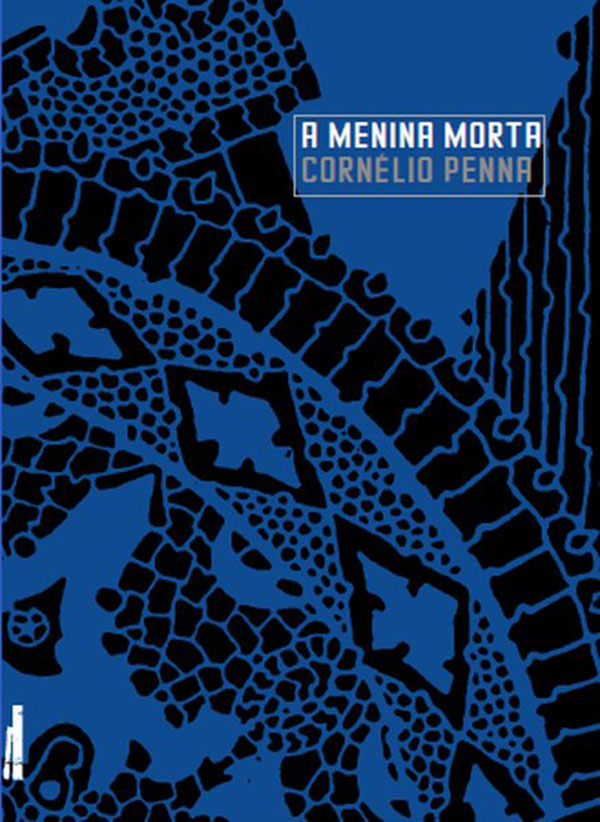Escrito entre 1948-53 e publicado no ano seguinte, A menina morta é o mais importante romance de Cornélio Penna e um dos grandes romances brasileiros do século 20. É boa notícia, portanto, que a Faria e Silva republique a partir de 2020 os quatro romances do autor, descritos por Mário de Andrade como “obras de um antiquário apaixonado (…) que sabe traduzir, como ninguém entre nós, o sabor de beleza misturado ao de segredo, de degeneração e mistério, que torna uma arca antiga, uma caixinha-de-música, um leque, tão evocativos, repletos de sobrevivência humana assombrada”.
Se neste artigo de 1939 Mário também faz críticas ao estilo do autor, sobretudo a um tipo de apego formalmente injustificável ao mistério e ao insólito, neste seu quarto romance, que infelizmente ainda não tinha sido publicado na época da crítica, o retrato do Brasil da escravidão oferece justificação histórica para o não dito. O silêncio e o mistério funcionam aqui não como mero mecanismo literário, destinado a provocar a curiosidade no leitor e a manter a tensão da narrativa, mas como estratégia formal estruturante. Ao tratar de um período histórico traumático, o autor maneja justamente os efeitos sem causas conhecidas, o estranhamento total do cotidiano e coloca o leitor na mesma posição alienada dos personagens subalternos. Neste sentido, Penna supera os traços arbitrários dos romances anteriores, criticados por Mário, e escreve um romance histórico de mistério em que nada é explicado, não por estratagema literário, mas porque, ao tratar com o material histórico, a forma assim o exige.
A descrição detalhista de seu estilo, por vezes quase sociológico (de parentesco com Gilberto Freyre), do funcionamento de toda a maquinaria escravocrata, funciona surpreendentemente bem na forma de romance. Em comparação com a invenção literária bastante focada no regionalismo, nos neologismos, em uma proximidade com o fantástico que se anunciaria a partir da década, a escrita de Penna contrasta pela sobriedade. O romance é construído por pequenos capítulos, com cenas e relatos de atividades cotidianas dos personagens, que lentamente abrem espaço para incursões psicológicas onde seu passado e presente são trazidos da obscuridade maior e vão ganhando contorno. Os capítulos são compostos geralmente por parágrafos longos, com descrições detalhadas de tecidos, ambientes, arquitetura e procedimentos de trabalho na fazenda, etc.
A monotonia que poderia surgir destes catálogos de antiquário, para falar com Mário, se dissipa através da transição muito delicada, quase imperceptível, da tarefa manual para o plano psicológico dos personagens. Penna reproduz com maestria o devaneio típico de quem faz atividades repetitivas no trabalho manual e se utiliza desta transição para ir apresentando partes do quebra-cabeça narrativo. A partir da descrição de uma cena de costura, de cozinha ou de carpintaria, por exemplo, a linha narrativa sobe para um plano cheio de lembranças e esperanças, e o texto fica assim com um mosaico de temporalidades, cheio de babados, mangas e saiotes, como os vestidos de casamento preparados pelas mulheres da casa a partir das revistas francesas…
Não há, no entanto, colorido. O aspecto impressionante do romance vem do contraste, em claro e escuro, do que é revelado e do que não é revelado, das migalhas de sentido oferecidas às personagens e ao leitor. A ambivalência dá a toda narrativa um tom etéreo e melancólico, sobrenatural, que acompanha a obra já desde a morte do título. Por um lado, descrições materiais muito detalhadas, a organização bem azeitada do “enorme organismo” da fazenda e suas centenas de integrantes, o arabesco iluminado até o limite do microscópico. Por outro lado, a completa ignorância sobre as motivações e as forças que dominam o mundo mais amplo, macroscópico, da fazenda e de suas autoridades (o Senhor, os capatazes, os homens que conduzem os negócios). As pessoas, sobretudo da Senzala, mas também da Casa Grande, obedecem pela força da violência. Há um terror estruturante que perpassa cada gesto, cada relação, e diante do qual só se pode manter uma reverência silenciosa, ignorante das motivações. A posição do leitor, guardadas as proporções, está muito mais próxima dos subalternos, dos agregados e dos escravos do que dos senhores, e este é um dos efeitos estético-políticos mais interessantes da obra.
Lógica da perversão
O contexto quase feudal de A menina morta e o modo da narração hiperdescritivo e simultaneamente lacônico lembram O castelo (1926), de Franz Kafka, com a diferença importante de que, enquanto neste o narrador acompanha a posição também ignorante e temerosa do protagonista estrangeiro, em Penna o narrador se permite acompanhar diversos personagens locais. Se a estratégia de Kafka é utilizar a condição de estranho para ressaltar a obscuridade da estrutura social, tão incompreensível para ele quanto para os leitores, em Penna a descrição parece mais interessada em mostrar as relações pessoais e a estrutura perversa da escravidão do ponto de vista daqueles que vivem nela cotidianadamente, daqueles locais, criados nela e reprodutores de sua lógica, sem que por isso, no entanto, ela se torne mais compreensível.
Impressiona muito que a figura do Senhor não seja apenas uma liderança política, mas moral. Todos, incluindo os escravos, veem nele uma emanação da ordem e da segurança. Esta é uma das tensões mais impressionantes do livro. Não é apenas o aspecto material da dominação, mas a dominação psicológica, a internalização da ordem escravocrata na mentalidade dos escravos. Se repetem as cenas muito surpreendentes dos escravos que rasgam suas cartas de alforria, que tratam os senhores como santos, que se submetem e até lutam para a manutenção da ordem que os oprime. É uma versão da “servidão voluntária” de que fala Étienne de La Boétie (1530-1563), intensificada por séculos de escravidão como ordem nacional. A dominação psicológica não se dá apenas pelo terror, mas pelo amor ao dominador, eis a contradição espantosa que o livro revela. Não se trata apenas de identificar-se com ele, de buscar imitá-lo, como no nosso contemporâneo, mas de uma repulsa a si mesmo em prol do outro. Uma anulação da identidade em benefício desta alteridade superior e inalcançável, como explicam os trabalhos, por exemplo, de Frantz Fanon (1925-1961).
No romance, mas também na história racial brasileira, a figura-síntese dessa estranha relação talvez seja a ama de leite, uma mulher escravizada, que tem sua liberdade roubada e que teria todos os motivos éticos do mundo para se rebelar e matar os senhores. Ao invés disso, no entanto, essa mulher desempenha um dos papéis de maior intimidade, a amamentação e o primeiro cuidado do bebê. No romance, Carlota chama sua velha ama de leite, Joviana, de “mãe preta”. Sabemos bem que dentro e fora do romance essa relação em nível pessoal não muda em nada a relação social de dominação mais ampla. Há, na verdade, uma piora, já que a mulher escravizada ainda será forçada a desenvolver sentimentos contraditórios em relação a esta criança, sua futura dona, como dizem os escravos no livro. Se por um lado, é possível dizer que o romance de Penna ainda recai em um tipo de amaciamento das relações entre escravos e senhores de escravos, por outro lado, ele descreve com precisão esta estranha relação “de ama de leite” que persiste, de uma maneira ou de outra, no Brasil contemporâneo.
Representação dolorosa
Representar de maneira crítica esta relação tão cruel e típica do Brasil escravocrata — que foi tão romantizada, por exemplo, pela sociologia freyreana e que hoje em dia é vista com luz mais realista, como resquício de escravidão — é um dos méritos do romance, por mais incômodas que muitas cenas sejam. Ele menos embeleza relações do que relata a complexidade destas contradições. Vemos a cozinheira que serve rigorosamente a comida para os negros na cozinha reagir da seguinte maneira quando a menina toca-lhe as vestes e pede que ela seja mais generosa nas porções:
O fato da menina saber o seu nome e não ter nojo de segurar a sua saia enxovalhada, representava para ela a recompensa de muitas dores… e mais tarde na esteira onde dormia lá na sala grande das negras de dentro, ela muitas vezes beijava o lugar onde se tinham pousado aquelas pequenas mãos que lhe pareciam tão lindas.
Não é uma narrativa heróica, com rebeliões dos oprimidos e vingança ao gosto do contemporâneo, mas é uma representação dolorosa e realista de um complexo de afetos e fenômenos muito difíceis de descrever e que ainda precisam ser melhor compreendidos em nossa sociedade.
Se a escravidão é patriarcal, então as relações de dominação se dão através da família, a partir da figura central do patriarca e senhor da fazenda. Se há uma divisão brutal entre Casa Grande e Senzala, entre brancos e negros, dentro da Casa as relações de parentesco também definem hierarquicamente, ao modo da nobreza, a importância de cada um. Interessante, sobretudo, é a posição dos diversos agregados, essa categoria familiar tão brasileira, que vivem bem “às custas do senhor”, ao mesmo tempo em que estão em constante risco de serem despejados. A micropolítica no controle da casa, de estar nas boas graças dos senhores, se torna não apenas questão de influência, mas de vida ou morte. Penna faz uma escolha estética muito acertada em contar grande parte da história a partir do ponto de vista destes agregados, apresentando os pequenos ódios, competições e alianças, sobretudo das mulheres que, ainda que oriundas de famílias importantes, são pobres, quase sempre simplesmente por serem mulheres, sem direitos e sem condições de trabalhar pelo próprio sustento.
A descrição detalhista de seu estilo, por vezes quase sociológico, do funcionamento de toda a maquinaria escravocrata, funciona surpreendentemente bem na forma de romance.
Cristo martirizado
Haveria, sem dúvida, muito interesse em uma leitura do romance a partir de uma perspectiva que ligasse raça e gênero. Parte grande da tristeza e do sentimento de humilhação de Carlota (e possivelmente de sua mãe) é que nada lhe é comunicado, ainda que ela fosse a Senhora, pelo fato de ser mulher. Mesmo na ausência do Senhor, são outros homens que administram o Grotão. Há uma ambiguidade em sua posição de poder. Ela é protegida, mas com isso perde completamente a autonomia, como em uma dialética do senhor e do escravo que levasse em conta também a posição das mulheres. Mais de uma vez Carlota se sente como uma escrava sendo vendida durante todo o procedimento humilhante do casamento. Trata-se não apenas de um casamento arranjado, mas de um negócio em que ela estará sendo dada para outra família.
A relação entre o mal-estar generalizado na Casa Grande e a escravidão ganha ares religiosos em uma das cenas finais, em que Carlota foge de madrugada para rezar, se espanta com a humanidade do Cristo torturado na cruz e, em seguida, andando sem rumo, se depara com os escravos gemendo no tronco. Nestes raros momentos em que o terror da escravidão surge escancarado no romance, rompe-se o feitiço da dominação carismática e até mesmo a imagem pura da menina, que era amada pelos escravos porque, vez por outra, intercedia por eles, se mancha diante do terror:
Realizou então serem escravos no tronco, e lembrou-se a sorrir das histórias contadas de que a menina morta ia “pedir negro”… Mas, o sorriso gelou-se em seus lábios, porque agora via o que realmente se passava, quais as consequências das ordens dadas por seu pai e como aqueles homens velhos, os feitores de longas barbas e de modos paternais, que a tratavam com enternecido carinho, cumpriam e ultrapassavam as penas a serem aplicadas. Sabia agora o que representava o preço dos pedidos da menina morta, que a ela custavam apenas algumas palavras ditas com meiguice. E teve ódio da criança ligeira de andar dançante, a brincar de intervir vez por outra, em favor daqueles corpos que via agora contorcidos pela posição de seus braços e pernas, presos no tronco, e cujo odor de feras enjauladas lhe subia estonteante às narinas.
Os escravos repetem a imagem do Cristo martirizado e os dois lados da realidade, cuidadosamente separados, sobretudo para as mulheres brancas — carinho paternal e violência da escravidão — finalmente se mostram como uma coisa só. Se a figura da menina era frágil demais para consertar esse mundo cruel, nada mais natural do que sua morte.
Relações alegóricas
Como em Menino de engenho (1932) ou Fogo morto (1943), de José Lins do Rego, em A menina morta as personagens têm relação alegórica com processos históricos. A menina morta, sem dúvida, aponta para a escravidão e o início de sua decadência, como visto por personagens brancas. São retrato da desumanização que opera em via dupla na escravidão, como argumentavam os abolicionistas: desumanizados não eram apenas os escravizados, mas os senhores, transformados em donos de humanos. O movimento do romance não deixa dúvida de que a alegre menina não representava o lado áureo da escravidão (tantas vezes romantizada na literatura brasileira), mas a força de destruição e morte inerentes a ela, insuportável mesmo para os espíritos puros. É de escravidão que morre a menina (e, quem sabe, o país). Assim, é incômoda, sem dúvida, a falta de agência dos personagens negros. Seria interessante ver relatada a vida do romance também dentro das senzalas, assim como a vida interna das personagens negras, que protagonizam poucos dos capítulos. Seria, no entanto, outro livro. Em A menina morta, Cornélio Penna parece focar não tanto no ponto de vista dos negros escravizados (coisa que, salvo engano, apenas mais recentemente a literatura tem conseguido fazer em alto nível, como no exemplo excepcional da Amada, de Toni Morrison), mas, antecipando debates contemporâneos, no ponto de vista da branquitude decadente e, sobretudo, do ponto de vista de suas mulheres, mal posicionadas entre o privilégio racial e a opressão de gênero.