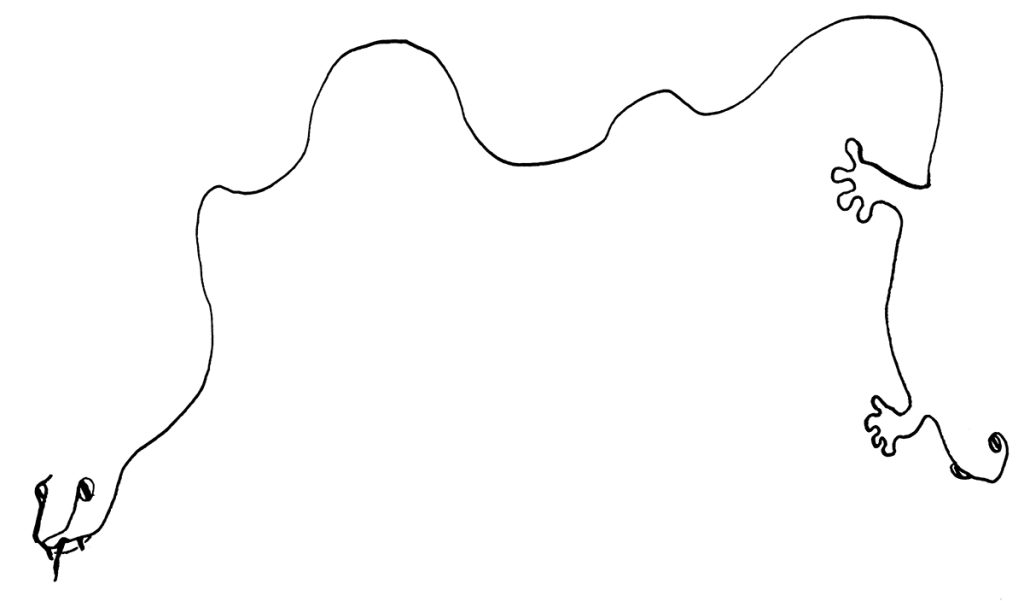Vem de longe minha admiração pelo gaúcho João Simões Lopes Neto. Na biblioteca de meu pai havia um exemplar ricamente ilustrado do Lendas do sul. Tinha certeza de que, aberto o volume, o sortilégio mais uma vez me atingiria — mas eu recalcitrava contra o medo e retornava às gravuras, àquele início perturbador de A Mboitatá:
Foi assim:
num tempo muito antigo, muito, houve uma noite tão comprida que pareceu que nunca mais haveria luz do dia.
Noite escura como breu, sem lume no céu, sem vento, sem serenada e sem rumores, sem cheiro dos pastos maduros nem das flores da mataria.
Lá estava eu novamente, cego imerso no caos, tocando às apalpadelas o vazio que me circundava, temendo que a cobra-grande aparecesse. Depois, à noite, como cruzar o corredor — pequeno trecho do conto, pleno de escuridão — que levava do quarto ao banheiro?
Hoje, quando me disponho a escrever sobre Lendas do sul, há, no entanto, outro obstáculo. É difícil tratar de aspectos que já não tenham sido analisados por Augusto Meyer, um dos poucos mestres da crítica literária nacional, que em três ensaios — presentes no volume Prosa dos pagos (1941-1959) — praticamente esgotou os elogios, os estudos pormenorizados e o levantamento histórico dos temas e das fontes de Simões Lopes Neto. E o fez com seu estilo nobre, inconfundível. Na verdade, qualquer análise da obra do escritor pelotense guarda uma dívida com esse crítico, ainda que prefira citá-lo apenas na bibliografia…
Alegoria e epizeuxe
A lenda do Negrinho do Pastoreio, que Simões Lopes Neto reconta, nasce, como bem definiu Augusto Meyer, do “estrume da escravidão”. Saliente-se, aliás, a sugestiva analogia que o crítico estabelece entre a narrativa e a descrição do naturalista e viajante Auguste de Saint-Hilaire, que tivera a oportunidade de encontrar — e deixou gravado em seu Notícia descritiva da Província do Rio Grande de S. Pedro do Sul — um dos possíveis arquétipos que inspiraram a tradição popular:
Há sempre na sala um negrinho de dez a doze anos que permanece de pé, pronto a ir chamar os outros escravos, a trazer um copo d’água e a fazer todos os pequenos recados necessários ao serviço interior da casa. Não conheço criatura mais desgraçada que esta criança. Não se assenta, nunca ninguém lhe sorri, nunca se diverte, passa a vida tristemente apoiado à parede e é muitas vezes martirizado pelos filhos de seu senhor.
Voltemos à lenda. Depois de nos remeter a um tempo imemorial, o narrador apresenta o estancieiro “muito mau, muito”. Vilão da história, ele perseguirá, com a ajuda do filho — “menino maleva” e “cargoso” —, o pobre Negrinho, ginete numa corrida de cavalos da qual sai, desgraçadamente, derrotado. O estancieiro, apesar de ter o melhor animal, não vence a disputa, talvez por causa de sua ganância: ao combinar a corrida com o vizinho, não aceita a proposta do oponente, de doar o prêmio de mil onças de ouro aos pobres. Na volta para casa, a descrição do perdedor deixa antever a maldade que recairá sobre o escravo:
O estancieiro […] veio pensando, pensando, calado, em todo o caminho. A cara dele vinha lisa, mas o coração vinha corcoveando como touro de banhado laçado meia espalda. O trompaço das mil onças tinha-lhe arrebentado a alma.
A frustração do personagem atinge o protagonista, elemento mais fraco, indefeso, que se torna, portanto, bode expiatório. De surra em surra, o drama do Negrinho se agiganta graças à diligente maldade do filho do estancieiro, sempre pronto a criar novas dificuldades quando a solução se avizinha e o escravo está a um passo de retomar seu cotidiano. Bem e mal se enfrentam numa cena evangélica: o Negrinho é a vítima sem palavras — o narrador permite-lhe apenas gemer ou sorrir —, enquanto estancieiro e filho tripudiam, entregam-se ao sadismo incontrolável. No derradeiro castigo, quando o corpo do cândido escravo é lançado às formigas, o narrador prenuncia: “pareceu que morreu”. Seguem-se noites e dias estranhos, de cerração forte, durante os quais o estancieiro sonha
que ele era ele mesmo, mil vezes e que tinha mil filhos e mil negrinhos, mil cavalos baios e mil vezes mil onças de ouro… e que tudo isto cabia folgado dentro de um formigueiro pequeno…
Poder, riqueza e maldade transformam-se, assim, no que realmente são: desprezível, impotente formigueiro. Trata-se de sonho profético, cuja chave o truculento fazendeiro só perceberá na terceira e alegórica manhã, quando, dirigindo-se à boca do formigueiro, encontra o Negrinho “de pé, com a pele lisa, perfeita, sacudindo de si as formigas que o cobriam ainda” — e a seu lado, “a Virgem, Nossa Senhora, tão serena, pousada na terra, mas mostrando que estava no céu”. Montado no baio e comandando a tropilha do senhor, o Negrinho parte a galope, agora transformado em milagre, pronto a repetir na vida dos fiéis o que tentou fazer desesperadamente por seu torturador: encontrar-lhe os cavalos perdidos e trazê-los com segurança à fazenda.
De fato, em nosso imaginário, só a alegoria — e não apenas o mero símbolo — pode explicar, dado o seu sentido moral, o sofrimento absurdo e despropositado, a “infância triturada na engrenagem da estrutura colonial”, como afirmou, com agudeza, Augusto Meyer.
Mas a técnica de Simões Lopes Neto não se revela apenas na imagística. “Onde o modelo rasteja, ele voa”, diz Meyer. Vejam, por exemplo, a habilidade do autor ao retardar a informação de que é o Negrinho quem, durante a corrida, cavalga o baio do estancieiro, o que lança o personagem no centro de seu drama de forma abrupta, com ele em plena disputa, a pedir auxílio à “Virgem Madrinha”. E, melhor, sempre reencontro com prazer o uso que ele faz da epizeuxe, enfatizando, por meio de certas repetições, as experiências dramáticas do protagonista. Tais construções pleonásticas amoldam-se bem ao modelo dessa legenda típica de alguns martirológios, ampliando nossa compaixão.
Anáfora e humor
A salamanca do Jarau é narrativa mais complexa. O protagonista, o vaqueiro pobre Blau Nunes, típico anti-herói, já inicia a história sob o feitiço do Caipora, que, encontrado em certo campo, trouxera-lhe má sorte: “Gaúcho valente que era dantes, ainda era valente, agora; mas, quando cruzava o facão com qualquer paisano, o ferro da sua mão ia mermando e o do contrário o lanhava…”. É nesse estado frágil que se deparará, enquanto busca um boi barroso, com a figura mítica do “santão da salamanca do cerro”. Instigado por este, repetirá a lenda que a avó lhe contava, sobre como o Anhangá-pitã, o demônio, encontra-se, na América, com os mouros fugidos da Guerra da Reconquista, seus servos na Península Ibérica. Vinham em busca de riquezas, a fim de “alçar de novo a Meia-Lua sobre a Estrela de Belém”. Anhangá-pitã os recebe com alegria, pois introduzirão, finalmente, a ganância numa “gente sem cobiça de riquezas”. Trata-se, percebemos, do reconto da introdução do Mal no Jardim do Éden. Ocorre, a seguir, dupla transformação: o demônio segura o “condão mágico” que eles traziam e o transforma numa “pedra transparente”. Quanto à fada moura que também os acompanhava, “demudou-a em teiniaguá, sem cabeça. E por cabeça encravou então no novo corpo da encantada a pedra, aquela, que era condão, aquele”. A essa híbrida lagartixa, o demônio ensina os caminhos secretos que levam a cavernas repletas de tesouros.
Conclui-se, assim, a primeira parte da história. A segunda, o narrador deixa a cargo do santão “de face branca e tristonha”, que passa a completar o que Blau Nunes lhe contara. A narrativa torna-se, então, autobiográfica — e descobrimos que o velho fora, na longínqua juventude, em tempos que remontam à primeira presença jesuítica no Sul, um sacristão devotado. Ele encontra, certo dia, a teiniaguá, “a lagartixa engraçada e buliçosa”, prende-a num chifre e leva-a consigo, escondendo-a numa canastra, certo de que as promessas de riqueza que a lenda contava se realizariam em sua vida. Essa história é, portanto, a concretização do relato maravilhoso que Blau Nunes narrara. O sacristão delira em seu sonho de fortuna. E quando abre, à noite, a canastra, para, em sua inocência, alimentar a lagartixa, esta se transforma na princesa moura — será ela, mulher de esplêndida beleza que esconde uma essência rasteira, quem lhe proporá o pacto fáustico. A dívida contraída deverá ser paga da pior forma, a do ser destruído em sua unidade, obrigado a servir a dois senhores:
Cada noite era meu ninho o regaço da moura; mas, quando batia a alva, ela desaparecia ante a minha face cavada de olheiras…
E crivado de pecados mortais, no adjutório da missa trocava os amém, e todo me estortegava e doía quando o padre lançava a bênção sobre a gente ajoelhada, que rezava para alívio dos seus pobres pecados, que nem pecados eram, comparados com os meus…
Antagonismo que o sacristão experimentará de forma paroxística, quase livre da prisão a que os padres o condenam quando descobrem seus crimes, mas definitivamente acorrentado ao Mal. Vejam como Simões Lopes Neto constrói o quadro, compondo um texto sedutoramente anafórico:
Fiquei sozinho, ouvindo com os ouvidos da minha cabeça as ladainhas que iam minguando, em retirada… mas também ouvindo com os ouvidos do pensamento o chamado carinhoso da teiniaguá; os olhos do meu rosto viam a consolação da graça de Maria Puríssima que se alonjava… mas os olhos do pensamento viam a tentação do riso mimoso da teiniaguá; o nariz do meu rosto tomava o faro do incenso que fugia, ardendo e perfumando as santidades… mas o faro do pensamento sorvia a essência das flores do mel fino de que a teiniaguá tanto gostava; a língua da minha boca estava seca, de agonia, dura de terror, amarga de doença… mas a língua do pensamento saboreava os beijos da teiniaguá, doces e macios, frescos e sumarentos como polpa de guabiju colhido ao nascer do sol; o tato das minhas mãos tocava manilhas de ferro, que me prendiam por braços e pernas… mas o tato do pensamento roçava sôfrego pelo corpo da encantada, torneado e rijo, que se encolhia em ânsias, arrepiado como um lombo de jaguar no cio, que se estendia planchado como um corpo de cascavel em fúria…
Agora, passados duzentos anos, o sacristão lamenta-se ao paciente vaqueiro: tem todas as riquezas escondidas nas cavernas cujos caminhos o demônio ensinou à lagartixa-princesa, mas é como se não as possuísse:
E eu olho para tudo, enfarado de ter tanto e de não poder gozar nada entre os homens, como quando era como eles e como eles gemia necessidades e cuspia invejas, tendo horas de bom coração por dias de maldade e sempre aborrecimento do que possuía, ambicionando o que não possuía…
É o preço a pagar pela hybris, pela ambição desmedida.
Inicia-se, então, a terceira história dentro da narrativa, com o comando de volta ao narrador onisciente. Como o vaqueiro, ao chegar, saudou o velho usando uma fórmula cristã — e foi o primeiro a fazê-lo em tantos anos —, tem direito a entrar na caverna do Jarau, passar por sete provas e, se não for vencido, encontrar-se com a princesa e ver seus sonhos realizados. Blau aceita, vence as provas e recusa os favores que a moura, agora uma “velha carquincha e curvada, tremendo de caduca”, lhe oferece. Mas não age assim por ser bom ou honesto; ao contrário, diz não a cada um dos favores apresentados apenas por querer todos. Na verdade, repete a ganância do sacristão, revelando sua frágil condição humana. O resultado é ver-se expulso da caverna. Monta seu cavalo, cheio de desânimo, mas o sacristão reaparece, oferecendo-lhe consolo: uma onça de ouro que lhe “dará tantas outras quantas quiseres, mas sempre de uma em uma e nunca mais que uma por vez”.
Começa assim a verdadeira prova moral do vaqueiro Blau Nunes. A princípio, tudo corre bem. A cada onça de ouro retirada do cinto sob o poncho, nova onça surge. Simões Lopes Neto insere, então, um quadro agradavelmente jocoso: ao comprar certo campo e dez mil cabeças de gado, o vaqueiro precisa desembolsar três mil onças, o que leva um dia inteiro:
Cansou-lhe o braço; cansou-lhe o corpo; não falhava golpe, mas tinha de ser como martelada, que não se dá duas ao mesmo tempo…
O vendedor, à espera que Blau completasse a soma, saiu, mateou, sesteou; e quando, sobre a tarde, voltou à ramada, lá estava ele ainda aparando onça trás onça!…
Ao escurecer estava completo o ajuste.
A fama do vaqueiro se alastra. Mas tudo que recebe em seus negócios evapora-se “como água em tijolo quente”. E quem aceita negociar com ele, a seguir perde as onças que recebe. Blau Nunes, abandonado por todos, condenado ao isolamento, toma sua primeira decisão realmente heróica: volta ao cerro do Jarau para devolver a onça ao velho. Sua resolução resgata-o para a verdade, transformando-o, novamente, no vaqueiro destemido e simples — mas salva também seu interlocutor. Este, ao receber de Blau, na chegada e na despedida, cumprimentos cristãos, alcança o número cabalístico exigido para se ver livre da lagartixa-princesa. Nesse mesmo instante, como prometia a lenda, a caverna explode e os tesouros do demônio transformam-se em fumaça:
Blau Nunes também não quis mais ver; traçou sobre o seu peito uma cruz larga, de defesa, na testa do seu cavalo outra, e deu de rédea e despacito foi baixando a encosta do cerro, com o coração aliviado e retinindo como se dentro dele cantasse o passarinho verde…
E agora, estava certo de que era pobre como dantes, porém que comeria em paz o seu churrasco…; e em paz o seu chimarrão, em paz a sua sesta, em paz a sua vida!…
Ao recusar a quimera demoníaca, Blau Nunes não salva apenas a si mesmo, mas quebra a corrente de uma história de sujeição ao Mal.
No ensaio em que analisa o conto, Augusto Meyer recupera as tradições que formaram essa lenda hoje politicamente incorreta, que coloca os muçulmanos como sócios do demônio — o que certamente levará algum membro do Conselho Nacional de Educação a, em breve, propor a censura de Simões Lopes Neto… E ao analisar as linhas que abrem a narrativa, plenas do que ele chama de “boleio de frase”, Meyer sintetiza as qualidades estilísticas:
Escolhi esta nesga de exemplo porque, ao primeiro relance, não há nada mais banal; é o tom da própria banalidade. Bem examinada a construção, todavia, nada mais sutil; as frequentes pausas respiratórias, o descosido e alinhavado no modo de contar, a habilidade na repetição — a meu ver proposital — das preposições, que nesse caso logo sugerem a pronúncia da nossa gente da campanha, tudo se acha amalgamado com arte perfeita, que não poderia ter sido simples intuição, mas fruto de longo amadurecimento. Como esse, há outros exemplos, noutro registro de expressão, todos passíveis do mesmo reparo.
O narrador ideal
A Mboitatá, contudo, é a narrativa mais admirável. Simões Lopes Neto conseguiu criar um exemplo perfeito de sintetismo, construindo-o por meio de elementos que, de forma reiterada, transportam-nos ao universo mítico. Numa cosmologia primitiva, a longa noite está instaurada — e o que veio antes dela permanecerá incógnito. O homem, anulado diante do cosmo que se desorganizou, encontra-se no anti-gênesis. Estamos in illo tempore: um passado indefinido, em meio ao caos. A desordem absoluta, que enche de pavor homens e animais, favorece o surgimento do prodígio maléfico: a serpente que devora olhos.
O narrador assume o papel de quem detém uma verdade ancestral. Há austeridade no narrar. E ele não permite dúvidas ao dizer que “os homens viveram abichornados, na tristeza dura”, usando o verbo no pretérito perfeito, de maneira a salientar, semelhante a uma testemunha, os fatos que se desenrolaram num tempo indeterminado.
Vejam com que habilidade o narrador rejeita, no início de diferentes trechos, partes do seu próprio testemunho — “Minto”, ele diz —, de maneira a intensificar a dramaticidade do relato e inserir novos elementos, que desequilibram as poucas certezas do leitor: por exemplo, na parte II, o canto do pássaro que “agüenta a esperança dos homens” — bela figura, construída graças à acepção inusual do verbo.
A reflexão moral da parte IV pausa a narrativa e enfatiza seu caráter universal, destruindo a possibilidade de os leitores reduzirem o impacto da mensagem ao microcosmo rio-grandense. E, logo a seguir, ao retomar a linha mestra do relato, o discurso se hiperboliza, a fim de materializar ainda mais a cobra-grande e sua fome descomunal. Na parte VI, o “vai” anafórico cria o continuum, trecho síntese que faz nascer a cobra, “uma luzerna, um clarão sem chamas, […] um fogaréu azulado, de luz amarela e triste e fria, saída dos olhos, que fora guardada neles, quando ainda estavam vivos…”. Estamos, assim, em plena “persuasão da continuidade”, para recordar a feliz expressão de Northrop Frye.
A morte do ser mítico não diminui a intensidade do relato. Ao contrário, é a conseqüência esperada, pois não há outro destino possível a quem se alimenta do que está morto, ainda que lhe reste alguma frágil luz. O sol renasce, então, tímido, e lentamente a natureza recupera sua ordem. Mas a luz da boitatá permanece como fantasmagoria ou malefício. No entanto, aquilo que ainda causa medo serve também à coragem:
Quem encontra a boitatá pode até ficar cego… Quando alguém topa com ela só tem dois meios de se livrar: ou ficar parado, muito quieto, de olhos fechados apertados e sem respirar, até ir-se ela embora, ou, se anda a cavalo, desenrodilhar o laço, fazer uma armada grande e atirar-lha em cima, e tocar a galope, trazendo o laço de arrasto, todo solto, até a ilhapa!
A boitatá vem acompanhando o ferro da argola… mas de repente, batendo numa macega, toda se desmancha, e vai esfarinhando a luz, para emulitar-se de novo, com vagar, na aragem que ajuda.
Simões Lopes Neto é o mestre e sábio de que nos fala Walter Benjamin em seu O narrador — Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov: ele sabe, intuitivamente, que os relatos sobre nossos medos primevos ensinam os homens a “enfrentar as forças do mundo mítico com astúcia e arrogância”.
A prova de destreza à qual o gaúcho é chamado, venceu-a Simões Lopes Neto, ao não se render às fórmulas regionalistas fáceis, que, edificando um monumento ao localismo, acreditam ter encontrado receita infalível de originalidade. Ele é o narrador ideal de Benjamin, “que poderia deixar a luz tênue de sua narração consumir completamente a mecha de sua vida”. Superou o mero registro da oralidade e soube controlar, com perfeição, os elementos da sintaxe, da riqueza vocabular — e também da imagística, da simbólica. Em A Mboitatá, experimentamos, sim, o horror — mas hoje, ao abrir a porta do quarto e deparar-me com a escuridão, cruzo-a sem me dar ao trabalho de acender a luz, pois o narrador conduziu-me de volta à sonhada querência.
NOTA
Desde a edição 122 do Rascunho (junho de 2010), o crítico Rodrigo Gurgel escreve a respeito dos principais prosadores da literatura brasileira. Na próxima edição, Antônio Sales e Aves de arribação.