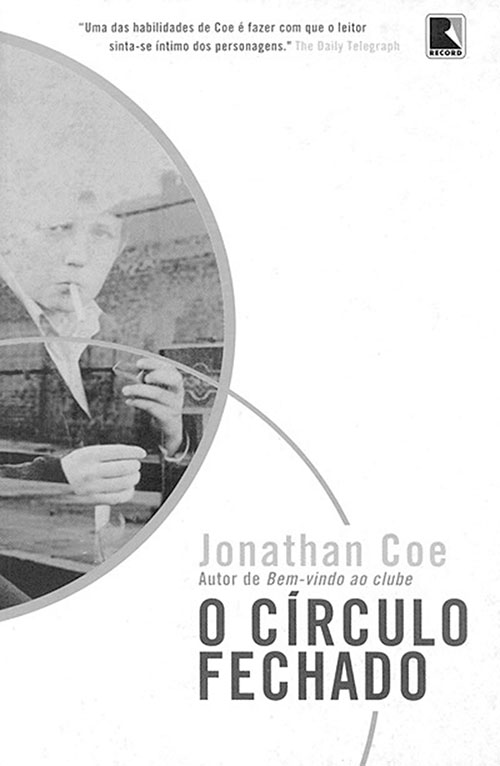Uma resenha do novo romance traduzido de Jonathan Coe, O círculo fechado, pode ser feita sem dificuldade maior. Basta dizer que se trata de um belo romance, um relato sensível sobre a chegada da maturidade na vida de um grupo de amigos nascidos na virada dos anos 1950 para os 1960, em Birmingham, Inglaterra; chegada de maturidade que se acompanha, como é de esperar, por muitas desilusões, por crises pessoais e coletivas, e que se faz perceptível também no quadro mais amplo da história de nosso tempo, este mesmo aqui, o mundo pós-11 de setembro, pós-Torres Gêmeas nova-iorquinas derrubadas pelo terrorismo, o mundo pós-invasão do Iraque pelo Império ora governado por Bush filho.
Mas, sendo um romance com raízes históricas reconhecíveis, não é romance social no sentido de desenho da dinâmica das classes sociais em confronto e disputa. Os protagonistas são gente como o leitor e eu, de classe média sobrevivente, mais ou menos confortável; há dois casos acima da linha superior dessa imprecisa classe — um jornalista casado com uma aristocrata e um político jovem e em ascensão —, e há algum caso, por sinal de personagem secundário, que vive no limite inferior, de gente que sobrevive com alguma dificuldade na selva atual.
Se fosse para colar um rótulo temático de reconhecimento imediato, seria possível dizer que se trata de um romance da era Blair, o primeiro-ministro britânico que já está no cargo há alguns anos e parece ter apetite e fôlego para muito mais. Mas esta seria uma etiqueta empobrecedora, mesmo que justa; porque valeria lembrar que não foi apenas em Tony Blair que se manifestou o fenômeno de ser um político de esquerda eleito como reação ao neoliberalismo privatizante anterior mas que se revela, afinal, um fiel seguidor da cartilha do FMI e da pauta dos Estados Unidos, o que inclui, no caso dele, até mesmo uma participação na invasão ao Iraque. Além de Blair, talvez com mais surpresa ainda, Lula, que passou de esperança difusa e consistente numa reorganização nacional — pela esquerda e com ênfase na vida das classes inferiores —, a gestor querido (pelos bancos) de superávits primários absurdos e ligeiramente assassinos, para além de ser, ao que as evidências indicam, se não participante ao menos testemunha de um esquema de larga corrupção, para decepção de tantos de nós.
Quer dizer: tudo somado, o romance de Coe fala da vida de gente como o leitor e eu, gente integrada ao mundo de nossos dias, gente que lê e acompanha o caminho do mundo, gente com medo da truculência — eles lá com medo do terrorismo vagamente ideológico, nós aqui com pavor da delinqüência pura e simples, com profundos nexos com o tráfico de drogas, tema a respeito do qual, falando nisso, temos mantido uma distância cada vez mais esquizofrênica.
Um mundo
Mas há muito mais a dizer sobre o ótimo romance que é este O círculo fechado, nome por sinal inútil, de uma negatividade meramente ornamental, que não ajuda a revelar as profundidades que o próprio romance sonda com grande talento. Para falar mais detidamente sobre os significados que ele tem, vale contar um pouco de sua história: em torno da virada do milênio — aquela em que ficamos à espera de um tal “bug”, que não veio, lembra? —, as trajetórias de alguns antigos colegas de colégio, na cidade de Birmingham, começam a entrar em rota de encontro. Claire, que teve um filho ainda jovem mas desistiu do casamento e foi morar sozinha na Itália, retorna à cidade natal ainda com saudade de sua irmã Míriam, morta em circunstâncias obscuras anos antes. Benjamin Trotter, que quando adolescente prometia vir a ser um talento literário superior, é um contador que carrega as marcas de uma vocação inconclusa, sempre às voltas com os originais intermináveis de um romance que não sai, e além disso encontra-se casado há muitos anos com Emily, numa relação sem-gracíssima, sem filhos. Acresce que Benjamin tem em seu passado um grande amor, uma mulher chamada Cecily, que o largou para viver uma relação homossexual, mas que permaneceu na cabeça e no coração dele, um fracassado. Seu irmão, Paul Trotter, é o tal político trabalhista em ascensão, no quadro do pragmatismo pós-ideológico; tem vagas idéias sobre a vida, e na prática o que quer mesmo é brilhar para o público, não importando de que lado esteja ou a idéia que defenda; é casado, mais por conveniência do que por qualquer outro motivo, mas em seguida terá uma relação paralela com uma moça, jornalista, sua assessora de imprensa. Completa o quarteto básico do livro o jornalista Doug, que vive em Londres, casado com a citada aristocrata e com uma carreira mais ou menos (em certo momento, será convidado para ser editor da irrelevante seção de livros de seu jornal, o que resulta em decepção, já que ele queria a editoria de política).
Isso é o básico, tão básico que ao dizê-lo fica a sensação de que falta ainda a alma do romance, que não se movimenta apenas em torno dos quatro, nem apenas ao redor de carreiras pessoais. Circularão pessoas e problemas do maior interesse: a fama e o modo de consegui-la numa sociedade regida pela televisão, incluindo reality shows; a desimportante vida sindical de uma cidade ameaçada de perder a fábrica multinacional que, no passado, garantia empregos para centenas; a memória da brutalidade da vida colegial; o frio e calculista pragmatismo dos agentes globais, gestores de megaempresas e políticos que venderam a alma esquerdista por uns trocados e pelo prestígio; o racismo latente na esclarecida sociedade européia, contra negros e contra descendentes de imigrantes árabes e africanos; a entrada de antigas instituições sublimes, como a arte e a religião, no circuito das mercadorias.
Mas também estão presentes cenas e conflitos do mais profundo humanismo — ok, a palavra é velha e gasta, mas como dizer sem ela aqueles lampejos de solidariedade, de amizade, de amor, de paixão, de compreensão da vida? Mesmo um cretino como o político Paul será protagonista de um comovente momento do romance, quando vai encontrar um velho amigo de adolescência que, no presente das ações, é executivo da empresa alemã que está por desativar a mencionada fábrica de Birmingham. Se o livro por acaso virar filme, será este um dos momentos altos: dois homens vencedores neste mundo feroz — um político, outro executivo, ambos globais — se reencontram e compartilham lembranças do passado, num cenário nórdico sensacional, um verdadeiro hino à amizade, aquela que passa por cima de tudo. Outro momento raiando pelo sublime será o desfecho do romance, que envolve dois dos amigos que se reencontram, adultos, maduros e desencantados, e dois adolescentes, filhos dos primeiros, que por serem jovens ainda não encontraram toda a dureza do mundo. Mas não tem cabimento repassar aqui a cena, que é linda e merece ser vivida em sua integralidade pelo leitor que lá chegar.
Como se pode ver pela amostra, o livro traz um mundo dentro de si. Para o leitor norte-americano, poderia parecer um pouco excessivo o apego localista dos personagens, que saem mas voltam, como que imantados pela origem, ao contrário do que ocorre no país sem nome, os Estados Unidos, em que todo mundo parece o tempo todo estar saindo para outro lado, sem raiz ou renegando a raiz; para o leitor brasileiro, talvez pareçam obscuras certas passagens em que se alude a restrições quanto a relações sociais, restrições marcadas por sólidas mas invisíveis barreiras, que ao mesmo tempo levam a uma grande solidariedade intraclasse e a uma também sólida exclusão extraclasse; mais ainda, as próprias descrições feitas ao largo do romance, que tornam bastante nítidas tais restrições, são bastante estranhas ao leitor brasileiro que seja inocente da consistente estratificação social existente e atuante na sociedade britânica, em que quem é de uma classe muito dificilmente transita para outra, podendo no máximo relacionar-se com ela. Pois até nisso o livro de Coe é interessante, porque nos dá um quadro preciso, ainda que sem palavras, do quanto a tradição pesa sobre os indivíduos, e não apenas sobre os aristocratas, porque também nos elementos da pequena burguesia, a quem se proporciona escola e oportunidades, se pode ler a estabilidade das classes e dos grupos sociais na velha Ilha do Norte.
Ângulo renovado
Para ir mais adiante na conversa, vale a pena olhar panoramicamente para o livro, de modo a vislumbrar seu lugar na atualidade, pelo menos naquela porção do terreno da atualidade que este resenhista consegue alcançar. Jonathan Coe, nascido em 1961, ao lado de oferecer um belo romance que se presta à reflexão, parece estar, também, ajudando a sepultar um fantasma que nos anos 70 ainda tinha certo fôlego — o fantasma da morte do romance. Hoje ninguém mais fala nisso, mas era um tema de relevo, a partir de algumas evidências ou pseudo-evidências: primeiro, o romance experimental europeu dos anos 1910 e 20 (Joyce, Woolf, Proust) parecia ter esgotado as energias renovadoras; segundo, o “novo-romance” francês indicava que mesmo a capacidade de organizar um ponto de vista narrativo parecia ter desaparecido, ou quando muito a literatura virava uma brincadeira de fundos falsos, mis-en-abîme e coisas do gênero, como o Borges que chegou na Europa, com seus labirintos aparentemente assépticos; terceiro, a onda do romance dito “mágico”, de origem latino-americana (García Márquez à frente), sugeria que apenas histórias de fundo irracional ainda mereciam o prestígio da narração completa; quarto, mas não último, o cinema parecia encarnar as derradeiras forças narrativas da cultura ocidental — o cinema e não mais o romance.
Claro que permaneciam em atuação esquemas antigos de relato ficcional, conquistados nas gerações anteriores. E claro também que o romance como forma estava passando por uma baixa, a que se seguiria uma alta nova, renovada: porque ali mesmo, nos anos 1970 e 80, começou por exemplo uma onda de romance histórico feito na universidade ou em sua periferia (no Brasil, Silviano Santiago, Márcio Souza, Luiz Antônio de Assis Brasil, Ana Miranda; na Europa, exemplarmente, Umberto Eco). Era um pouco do velho romance do herói problemático em busca de valores autênticos numa sociedade degradada (segunda o resumo de Lucien Goldman para as teses do jovem Gyorg Lukács), mas agora feito profissionalmente e sem a relativa ingenuidade que no século 19 ainda era possível.
Também outros esquemas mais ou menos tradicionais ganharam expressão. O aspecto formativo do romance — o relato da vida daquele indivíduo problemático, que transita do campo para a cidade, do passado para o futuro, de estruturas sociais e mentais rudimentares para outras mais exigentes e sofisticadas, enfim da ingenuidade para a desilusão —, este aspecto continuou tendo força, sobretudo porque ainda havia formações sociais e históricas periféricas para dar conta. Romancistas do Leste Europeu e de países secundários da (e à) Europa começam a aparecer e a ser traduzidos, ofertando todo um espetáculo de renovação temática: Kadaré, Saramago, Oz, Coetzee. No Brasil, guardadas várias diferenças relevantes, é o caso de Charles Kiefer, Cristovão Tezza, Marilene Felinto e Milton Hatoum, cada qual a contar a experiência de uma região, de um segmento social brasileiro, na forma ou pelo menos no espírito do velho e bom Bildungsroman.
A narrativa de vocação intimista, focada mais na psicologia dos personagens do que no desenho da experiência coletiva explícita, também se renovou, alcançando expressões fortes. No Brasil, a fada-madrinha é Clarice Lispector, que vinha de antes mas floresceu com sua obra madura, com uma herança que foi aproveitada por Caio Fernando Abreu, João Gilberto Noll, Bernardo Carvalho, igualmente muito distintos entre si mas irmãos dessa fratria a que se soma um caso exemplar de Atiq Rahimi, afegão, que como os anteriores apresenta personagens que vivem por cima das fronteiras nacionais e culturais, em trânsito mais ou menos desesperado por uma vida rarefeita até mesmo de relações humanas decentes.
A enumeração poderia seguir, apontando outras forças vivas do romance: a narrativa de vanguarda, mais como gênero literário do que como representação de força social relevante (Diogo Mainardi, Valêncio Xavier, Juremir Machado da Silva); a narrativa pop (Cláudia Tajes, Patrícia Melo, André Takeda, Daniel Galera) ou rock (Fausto Fawcett, André Pelizzari); a narrativa realista renovada, que revitaliza o velho realismo destinado ao desenho da vida dos de baixo, dos miseráveis (Luiz Ruffato, Paulo Lins, Marçal Aquino, Paulo Ribeiro, Marcelino Freire), mas também no registro também realista e crítico, mas com algum lirismo, da vida das classes médias urbanas, tema e âmbito estes que, no Brasil, contam com gente como Fernando Bonassi, Bernardo Ajzemberg e Marcelo Carneiro da Cunha. Esta última me parece ser a família de Coe.
Mas Coe apresenta um traço relevante a mais, traço que o coloca já na companhia do que de melhor se produz na narrativa de nosso tempo (segundo a opinião deste leitor aqui, evidentemente): a exemplo de Ricardo Piglia, Paul Auster, Roberto Bolaño, Chico Buarque e poucos outros, Coe integra em sua narrativa o Acaso, tomado como um fator relevante na vida humana. Não é pouca coisa. Para deixar claro: Coe e os recém-mencionados não escrevem literatura de tipo místico, que faça do Acaso a regra; o que ele e eles fazem é dar espaço para o Acaso, mostrar como ele compõe a vida, numa proporção que nossa visão triunfantemente darwinista negligencia por sua própria natureza.
Esta é a matriz do que estou chamando de “reencantamento do mundo”: escritores profundamente orientados pela visão materialista do mundo, que portanto estão muito longe das concepções místicas e religiosas, olham para o espetáculo da vida humana de um ângulo renovado, que supera tanto a velha perspectiva do herói problemático, este ser em trânsito em direção à Modernidade, à Cidade e logo à Desilusão, quanto o mero racionalismo extremado, este que compunha personagens erráticos, eternos adolescentes em direção ao Caos. Para Coe e seus pares, nós somos personagens já desiludidos, já integrados na Cidade e na Modernidade; por isso, para ele nossa vida bem pode ser definida com termos de um velho sábio escritor brasileiro: o que existe é homem humano, travessia.