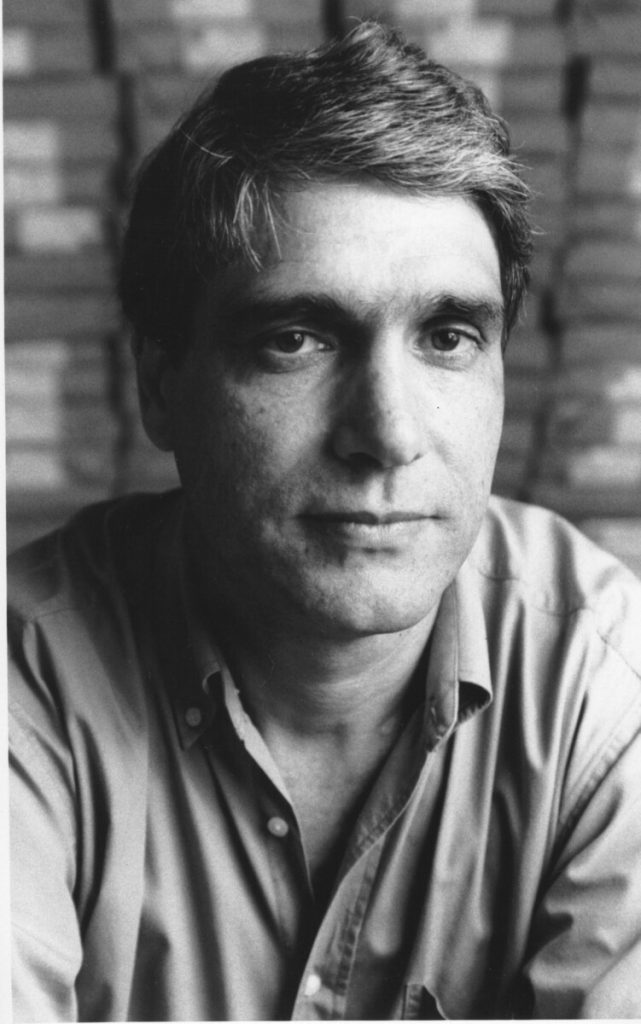A construção de uma carreira nas artes é um processo sempre interessante de se observar. Acompanhando-se o passo a passo de uma trajetória, tão curioso quanto descobrir suas várias peculiaridades é perceber também o que ela tem em comum com a de outros artistas. A um observador minimamente atento, por exemplo, é notório o fato de que as obras-primas via de regra surgem na maturidade criativa — algo absolutamente indissociável da experiência de vida —; por dedução, espera-se então que os artistas já destacados na juventude venham conquistar a excelência quando atingirem a idade madura, e muito dificilmente antes dela. Por outro lado, quem começa tardiamente, se não teve a oportunidade de se exercitar tanto quanto um estreante mais jovem, nem de contar com a avidez juvenil, propulsora de alguns dos grandes movimentos de dissensão que revigoram a arte, conseguiria em contrapartida abreviar algumas etapas de sua formação, ao contar já de saída com uma visão de mundo privilegiada pelo passar dos anos. Na literatura, essa é uma realidade recorrente: são inúmeros os casos de escritores que debutam na meia-idade e em pouco tempo se tornam importantes e respeitados em seu ofício. A verdade é que o texto literário — situação que se aplica também às demais artes — não nasce no instante em que o autor se dispõe a escrevê-lo. Semelhante à gestação de um ser vivo, a produção artística começa muito antes de sua realização e nada mais é que o reflexo de um conhecimento sedimentado ao longo do tempo e da interpretação original que der o autor a esse conhecimento.
Paulo Rodrigues protagoniza um caso exemplar: estreou como escritor em 2001, aos 53 anos, ao lançar a novela À margem da linha, logo conquistando com ela o prêmio revelação da APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte). Antes disso, havia chamado a atenção do escritor Raduan Nassar, jurado de um concurso literário promovido pela revista Entrelinhas da Telesp, empresa onde Rodrigues trabalhava antes de se tornar funcionário do sindicato dessa categoria. Do concurso, ele participou e ganhou em duas edições na década de 70. De Nassar, mereceu a amizade e o estímulo de uma avaliação correta e bastante positiva. Ou seja, mesmo que se considere ter a carreira começado com a publicação da novela — que dormiu numa gaveta por incríveis 15 anos antes de merecer o interesse de uma editora, a bem conceituada Cosac & Naify —, não se pode desprezar o fato de que alguns dos trabalhos do autor já têm pelo menos um quarto de século de existência.
Redemoinho, novo livro de Paulo Rodrigues, vem confirmar sua intenção de perseverar como escritor. São oito contos, apresentados em outra das edições caprichadas da Cosac & Naify, agora um belo projeto gráfico que leva as assinaturas de Raul Loureiro e Luciana Facchini. Ao longo de suas enxutíssimas 108 páginas, Rodrigues demonstra, mais do que conhecer o gênero no qual se aventura, uma concepção literária própria e, neste sentido, muito bem realizada.
Se a primeira boa característica a saltar aos olhos é a perfeita unidade formada pela reunião dos oito contos, a surpresa maior vem quando se descobre que eles foram gerados em diferentes épocas dentro de um intervalo de 25 anos. Em se tratando de autor recém-chegado ao segundo livro — e o primeiro dedicado ao conto —, é um feito e tanto. O longo período de maturação de que gozaram essas histórias provavelmente responda por sua homogeneidade formal. Paciência é um atributo tão caro quanto raro para quem escreve: se, por um lado, o diálogo com o grande público (sem o qual uma carreira simplesmente não existe) custou bastante a acontecer, por outro, Rodrigues demonstra ter tirado um bom proveito desse lapso interminável. Também impressiona positivamente a serenidade e a segurança com que são narrados os contos. A linguagem é simples, sem rebusques ou grandes pretensões estilísticas, mas limpa, sóbria, atual, condizente com a estrutura narrativa e os personagens. Mesmo assim, percebe-se que foi dada a devida atenção à eufonia do discurso.
Em Redemoinho, as histórias são urdidas com uma notável economia de ação. O que está de fato acontecendo vem à tona em porções homeopáticas, nem sempre de maneira clara, mas cifrado, diluído numa prosa de contornos reflexivos, onde importa mais o que pensa e sente o personagem do que a situação real vivida por ele. Neste aspecto, chega-se a ouvir uns ecos de Clarice. De forma até certo ponto análoga à epifania — marca registrada da autora de A hora da estrela —, aqui a estranheza é fruto de situações bizarras ou violentas que eventualmente quebram o fluxo previsto do relato. Muitos desses eventos são restritos à imaginação do narrador, e o leitor às vezes custa um pouco a se aperceber disto. Como um lençol freático, existe sob a contenção elegante da narrativa algo que se move livremente, incontido e fluido, que só vem à superfície em jorros extravasantes de uma angústia reprimida por fatores éticos, morais e até mesmo religiosos.
Catedral, que abre o volume, traz a história de um rapaz “despreparado e bruto” do interior que vem estudar na cidade grande, ganha aí um outro lar, em tudo diferente da casa paterna, e acaba construindo com o novo pai uma relação estranha e nebulosa. Existe um elemento desagregador entre os dois, e um provável caso de incesto parece ser o responsável por ele, embora tudo seja apenas insinuado e nunca explicitado. Rodrigues cria toda uma atmosfera incestuosa sem que aparentemente haja alguma relação de sangue entre os personagens; despista tão bem, que até mesmo é impossível se ter certeza sobre a identidade real dos protagonistas do suposto pseudo-incesto. O final, como se pode prever, converge a uma inevitável explosão e, a partir dela, um necessário reordenamento.
Em Alfredo aos dezessete, Rodrigues trabalha a descoberta do sexo, construindo um personagem tímido e esquivo:
“Tinha o rosto coberto de acne, o corpo desengonçado e a pretensão de uma bolsa de estudos. Mania de ficar em frente ao espelho magoando uma espinha enquanto matutava uma equação. Medo da licenciosidade dos colegas, de sua arrogância e de suas cruéis zombarias. Medo, sim, dos rapazes, mas ainda maior das meninas.”
A abordagem original de um tema tão surrado é um esforço criativo que tem na mescla de fantasia e realidade seu maior sustentáculo. A violência — de novo ela — vem à tona sob forma de um delírio, tão bem conduzido, que o leitor se surpreende ao compreender do que se trata realmente.
Lama e Coágulo são fábulas modernas, onde a alegoria e a metáfora, presentes também nos demais contos, agora são as próprias condutoras do espetáculo. Na mesma direção vem Quarto nupcial, um interessante relato surrealista — e um dos melhores momentos da coletânea — que joga com uma inusitada analogia: o quarto de hospital, onde definha um doente terminal, e o seu quarto de núpcias. Relacionar morte e casamento é uma idéia mais do que batida; a novidade deste conto é trazer o exercício para o espaço físico:
“Neste pequeno quarto, Estela e eu nos prendemos à vida pelo rol das mesmas lembranças. Lembranças que eu tento recuperar na penumbra, e que ela, provavelmente, retém no aço do espelho.
Debruçado sobre o parapeito da veneziana, eu olho o escuro de frente. Para mim, a noite se resume a luzes e trevas. Devo parecer um observador noturno, porém nada observo; apenas tento, com a força do olhar, manter as luzes acesas para que as trevas não invadam para sempre o meu quarto, levando de roldão todas as respostas.”
Outro bom momento é Encontro com Paul. “Seria bom conhecer Paul depois de tanta espera” é a frase enigmática que abre o conto, onde Rodrigues consegue a proeza de construir a angústia de uma espera sem que o personagem esperado seja sequer conhecido do narrador. Isto é justamente o que o livro tem de melhor: o talento de Rodrigues em criar uma trama emocional na qual se encaixam, fácil e livremente, diversas possibilidades factuais.
A família e seus desacertos estão por trás de quase todas as histórias. A evocação da mãe pelo narrador é recorrente, e em Lama, Rodrigues vale-se da forma epistolar, cujo destinatário é justamente a figura materna. Enquanto o pai aparece sempre com o estereótipo do ser dominador, irascível ou repulsivo na relação familiar, a mãe se contrapõe como elemento conciliador, sensível, dotado de um pragmatismo tocante quando o que está em jogo é o bem-estar dos filhos. Essa visão, acrescida de uma percepção também maniqueísta do mundo, com pitadas de conservadorismo moral e religioso, responde pelo principal defeito da obra. Os personagens, por seu turno, são reprimidos por fatores que soam meio fora de moda no mundo contemporâneo. É bem verdade que eles fazem parte de um universo periférico do maior centro urbano brasileiro, regido ainda pela moral ultraconservadora dos retirantes e de uma ótica bastante limitada pelo revés cotidiano; é verdade, também, que esta é a realidade que o autor melhor conhece, pois é o ambiente em que nasceu. A grande e boa surpresa que o livro deixa de provocar é uma leitura multifacetada e mais complexa da vida.
Ao fim e ao cabo, o leitor pode pensar que o caso de Paulo Rodrigues é um exemplo às avessas do que se afirmou no início da resenha. Não é. A sabedoria dos anos cristalizou-se nele sob forma de uma linguagem original e de uma força criativa capaz de tirar leite de onde se supunha existir apenas pedra. Resta agora mostrar ao leitor que existem outras possibilidades no mundo além dessa rocha.