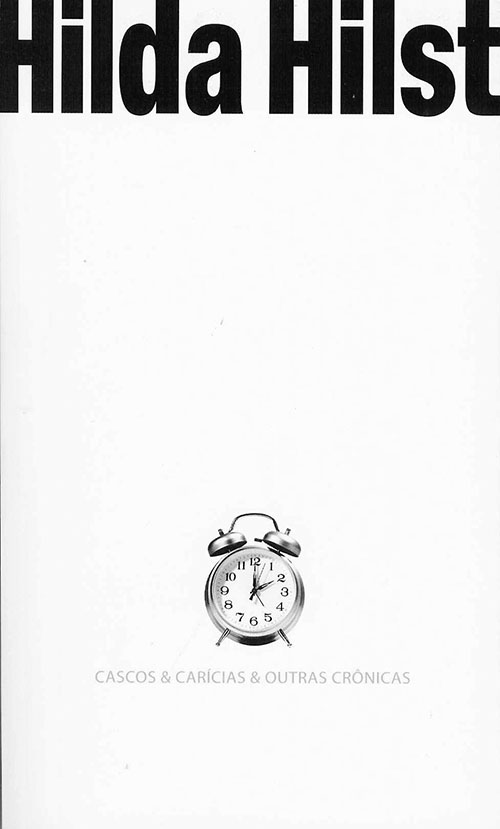Três anos desde a morte de Hilda Hilst e finalmente temos (quase) toda sua obra disponível em destaque nas livrarias. Sob organização de Alcir Pécora e selo da Editora Globo, agora se completa, com Cascos & carícias & outras crônicas, a coleção dos vinte livros, entre prosa e poesia, que somam mais de quatro décadas de sua literatura. Quanto à publicação de seu teatro reunido, ainda aguardamos.
De um lado, é pena que ela não tenha vivido para ver o relançamento de sua obra sob as feições de um nome legitimamente consagrado. De outro lado, é certo que Hilda vive. Impossível não a ouvir falar, ou desvairar, no caso de suas crônicas. Desvairar, sim, de tanta lucidez. Hilda colérica, mas de uma “cólera sagrada”, Hilda embriagada, da embriaguez de uma amplidão, escrevendo como poucos ousariam escrever, com uma nudez desconcertante, realmente obscena em sua mordacidade e em seu amor: cascos e carícias.
“Como a gente faz pra vida não doer tanto?” é o soluço que há por trás do humor de Hilda, um humor em cujo riso está plantada aquela “superfície de gelo” na qual a poeta evoca Deus. Abrasador, como aquele frio intenso que arde tanto quanto o fogo, é esse riso que as crônicas provocam quando expõem a loucura da barbárie, da estupidez e da indiferença, entre outros atributos sinistros do “Homo maniacus”, presente em toda parte, sempre na ordem do dia.
Porque “nascemos pornográficos” e “há carrascos em demasia no mundo”, porque são “crimes hediondos, (…) execuções sumárias, terrorismo” e é “mais fácil compreender Heidegger, Wittgenstein, sânscrito, copta, do que compreender explicações de ministros e quejandos”, só o riso insano pode contracenar nesse espetáculo com tamanha celebridade do absurdo, só o desvairadamente cômico para causar espanto quando nada mais sói espantar, “Mentira, Engodo, Morte, Hipocrisia”. E porque “é crua e dura a vida” (ainda que possa ser também “tão generosa e mítica”), porque o homem não descansa “de tudo o que cansa e mortifica: / o amor, a fome, o átomo, o câncer”, a poeta padece de compaixão e procura salvar-se pela poesia.
Como diz Alcir Pécora, na nota introdutória de Cascos & carícias, o cenário brasileiro do início dos anos 90, nas crônicas da autora, “especialmente no que diz respeito à sua indignação contra a roubalheira generalizada do governo e a insensibilidade venal e cruel dos políticos, é seguramente tão atual, hoje, como no tempo em que as escreveu”. E mais atual do que nunca a selvageria, o horror dos seqüestros, dos assassinatos, das balas perdidas, a paranóia urbana, a indigência moral de uns e outros, a ignorância generalizada, a tortura, a tirania. Atualíssimo também, como não?, o carnaval, o furor da moda publicitária, dos templos da estética e das academias, o mercado do tédio e da alienação, enfim, um colorido analfabetismo. O que não diria Hilda sobre tudo isso, sobre toda essa “monstruosidade de irrealidades”, o asco, o estupor, o cansaço que ela mais uma vez não sentiria.
Que ridícula altivez da intelectualidade, que trágica severidade dos civilizados em um país de milhões de sedentos e famintos, terra de confins onde ainda é remota a realidade da leitura e da escrita. “Loucos explodindo tudo, matando todos, crianças desesperadas sangrando, gases letais invadindo as cidades, miséria, fome absoluta (…) E súbito as idiotias: se assembléia tem acento, se fiofó não”. Que fazer? “Urrar, Rir, Vociferar”. Como viver? “A garganta candente, devassada”. Esperança? Nenhuma, senão “ficar, ainda que seja a marretadas, no coração do outro”.
A poeta que insiste em apostar na vida, em protestar contra a lógica da “tua fome pelo meu lucro”, é esta mulher alcoólica, apaixonada, ensandecida, que melhor reconhece seu parentesco com os bichos que com o senso comum da raça humana; a escandalosa e sexagenária articulista que recorre ao “sórdido pueril” de suas parábolas para falar do “sórdido mais abjeto” do cotidiano das notícias. No final das crônicas, um poema de Drummond, versos de Jorge de Lima, ou, inopinadamente, um dos cantares da própria autora, porque, de fato, é assim, inopinada e fatalmente necessária a vertigem da poesia: “Enquanto vive um poeta/ o homem está vivo”. Sobre esse amor e essa cólera da vida, Hilda escreve, transcreve passagens de Arthur Koestler, Isaac Bashevis Singer, Ernest Becker, fala da urgência de “uma consciência cósmica” para trazer de volta ao homem o que anda lhe faltando: o espírito. E de dentro do amor e da cólera, Hilda vive, e tudo vive nela, com ela sofre, se revolta e exulta, “no possível infinito”.
Olhos de cão
Se é inútil pensar em uma política do afeto, da solidariedade e da coragem, se a torpeza impera e o coração está cada vez mais duro, fica a poeta “desgrenhada e patética”, convencida de que nada tem a ver com este mundo, que ela vem do “Quinteto do Pégaso”, ou de “Andrômeda, mas Não Mesmo Daqui”. Hilda com seus olhos de cão e seu corpo de lhama: nesta condição à margem, de quem tudo dá e tudo perde, ela canta para o Homem do seu tempo: “(…) Te cantarei Aquele/ Que me fez poeta e que me prometeu/ Compaixão e ternura e paz na Terra/ Se ainda encontrasse em ti o que te deu”. Um poema à espreita da alma, e cada uma das crônicas também. “Por favor, leitor, repense seus hábitos, seus costumes. RECONSTRUA-SE”. Reencontre sua alma, ela continua dizendo, sua dignidade, liberdade de consciência. Este apelo nos lembra a própria luta amorosa em que se envolveu Mário Faustino (não por acaso um dos poetas brasileiros admirados por Hilda), que, no final dos anos 50, elaborou todo um projeto para a formação de uma consciência crítica, sob o ponto de vista cultural e lingüístico, e uma transformação sensível, sob o ponto de vista existencial e humano.
Lemos os textos de Cascos & carícias e o nosso pudor vai para o chão, perdemos qualquer ponta de arrogância, nos reeducamos. “Quem sabe se consigo ativar vossas serotoninas com esta croniqueta primorosa” — e lá vem Hilda, elegantemente inoportuna, fazer o mais impassível dos leitores escorregar do seu palanque. Ficamos todos cômicos, dignos de piedade, com aquele riso de caveira no rosto, meio esdrúxulo, meio desolador, mas que é igual para todos, como somos iguais na velhice e na solidão. E, cá entre nós, podemos até rir, e rimos, quando a escritora se apresenta na voz do Dr. Fritz para pedir dinheiro aos seus leitores, quando faz suas considerações acerca da morte do poeta, ou ainda na mensagem de socorro que ela manda para os seus amigos médicos, mas, convenhamos, estamos rindo de angústia. Tamanho discernimento da decadência e do sem sentido das coisas, na verdade, dói, e muito.
É com uma tal franqueza que Hilda se expõe, tomando para si mesma a dor do outro, com tamanha entrega ela escreve, que não é possível separar sua literatura do assombro com que ela encara o mundo. Trata-se de um mesmo badalar, de uma só pulsação: “(…) comprem o meu abismo de ser e de ter sido, meu lado compassivo, o fervoroso de mim que foi perdido, minha boca aberta (ou comprem meus dentes, ao menos para sorrir amarelo), comprem minhas frases (se as houver) na agonia visceral da despedida, e se eu nada disser comprem o silêncio do poeta, ou minha pele manchada, égua vermelha e manca galopando insana pela casa”.
De fato, “o silêncio do poeta” foi o que a autora nos ofereceu nos seus últimos anos. Não exatamente porque seus textos tendessem a um colapso interno da linguagem, a um abandono por escassez ou entorpecimento, senão por muito já ter sido entregue, desejado e dito. Como aquela sua personagem, a branca e pequenina Mirta, que foi definhando de tanto querer ser a estória do escritor, Hilda se deixou consumir por sua própria exuberância. Se houve uma interdição, foi da ordem de outros mundos. “O poeta é um profeta”, ela diz, mais de uma vez, e um profeta de si mesmo, por que não?, quando pensamos que a própria poeta escreveu sua “aventura-desventura” ao assumir para si mesma um recomeço depois da leitura de Nikos Kazantzakis, e fundar seu Monte Athos na Casa do Sol. Não uma preferência, mas uma conversão.
Na citação de Georges Bataille em um de seus textos, Hilda fala do esplendor desse despojamento: “Um luxo autêntico exige um desprezo total pelas riquezas, a sombria indiferença de quem recusa o trabalho e faz da sua vida, por um lado, um esplendor infinitamente arruinado, e por outro, um insulto silencioso à laboriosa mentira dos ricos…”. Daí por que as crônicas de Cascos & carícias quase sempre desembocam em poemas, por que seu humor aflige, por que sua perplexidade não se afasta de sua galhardia: o entusiasmo é um só, e um mesmo espírito.
E ainda que sejam tempos escuros, e seja “difícil a Poesia”, ainda que, em homenagem a García Lorca, a poeta cante: “Os cardos, companheiro, a aspereza, o luto/ A tua morte outra vez, a nossa morte, assim o mundo:/ Deglutindo a palavra cada vez e cada vez mais fundo”, nós diremos — viva Hilda. Viva sua rebeldia, e seu júbilo.