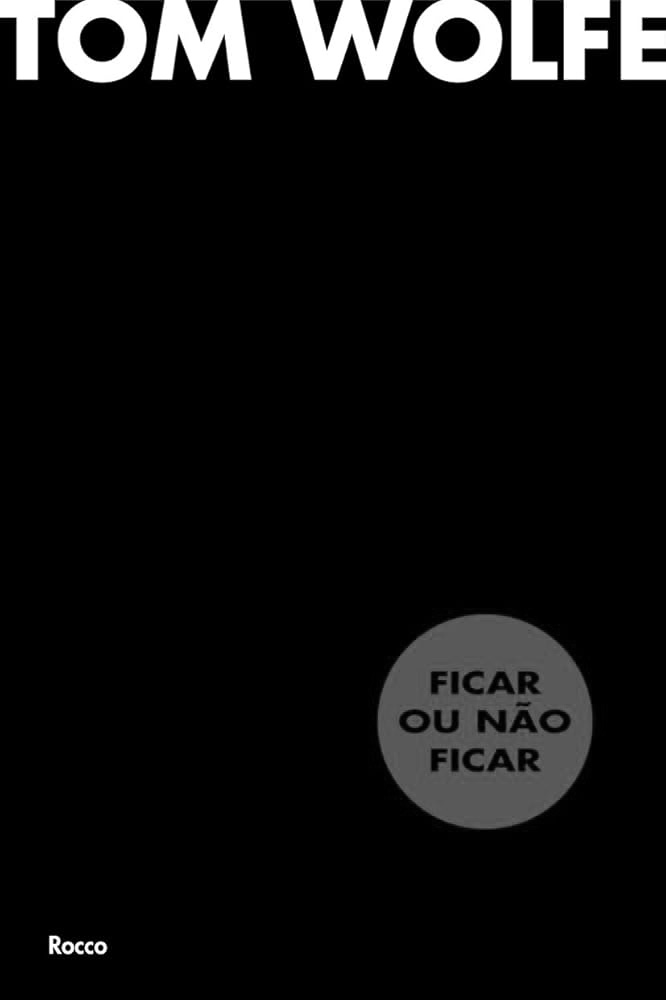Para início de conversa, é preciso dizer que ele é um homem conservador. Se você gelou somente à menção da palavra, sugiro que se retire. Lê-lo, pois, é uma experiência também de tolerância, já que a maioria dos intelequituais (sic) se diz liberal. Para que vocês saibam — isso não é um exercício de vaidade; o dado é importante para o decorrer do texto, sinto muito —, eu também sou um conservador. Isso significa que minhas convicções estéticas não andam de um lado para outro, ao sabor dos lançamentos de mais uma editora. Tampouco quer dizer que eles estejam sedimentados, obviamente. Tendem, contudo, para a apreciação da arte como algo duradouro, coisa que a maioria daqueles que se auto-intitulam críticos abomina. A arte, para eles, é algo extremamente passageiro, digno de nota e reverência hoje, e tão-somente hoje.
Dizia eu, porém, que Tom Wolfe, o autor de Ficar ou não ficar é um conservador. Nos ensaios reunidos neste livro, ele destila sua visão quase paleolítica de um mundo em transformação, transformação essa que nem sempre — o senhor há de concordar — é para melhor. Os ensaios, em sua maioria, foram escritos no final da década de 90, e revelam um interessante retrato do fien-de-siècle, sob a pena deste que é, na pior das hipóteses, um grande humorista. Pior para quem lê-lo sob o pesado manto da ideologia.
Ao livro, pois, que começa com um ensaio que é, na verdade, uma espécie de nota para ser lida num futuro remoto. Intitulado Ficar: como era a vida na virada do segundo milênio: o mundo americano, ele faz um paralelo com os textos que tentaram resgatar, por meio de uma “história do cotidiano”, a virada de 999 para 1000. É, possivelmente, o mais divertido e mais cínico dos textos do livro. Já na primeira frase, somos apresentados à prosa corrosiva de Wolfe:
“No ano 2000, o termo ‘classe trabalhadora’ já caíra em desuso nos Estados Unidos, e ‘proletariado’ era algo tão obsoleto que só era empregado por poucos acadêmicos marxistas, velhos, amargurados e de orelha peluda”.
Alguma objeção? Ainda bem. Para Wolfe, além do termo “proletariado”, outras palavras que perderam completamente a razão de ser no século 20 foram “pornografia”, “perversão”, e a expressão “sair com”. A primeira porque todos somos estimulados a consumi-la, como se em gôndolas de supermercado; a segunda porque simplesmente os tabus sexuais caíram por terra; e a terceira porque hoje ninguém sai-com — as pessoas ficam. Você pode estar já roendo as unhas de raiva e dizendo que isso não é novidade nenhuma, que qualquer Luis Fernando Veríssimo escreve coisa parecida. Lembre-se, contudo, que o texto é um quase-panfleto bem-humorado, digno de ser colocado numa destas cápsulas do tempo, junto com camisetas de times de futebol e discos de grupelhos de rock. (Se ainda assim você persistir com a idéia de que falta longevidade ao ensaio, sugiro uma ida ao barbeiro, para cortar os pêlos da orelha. Indolor). O ápice do ensaio é quando Wolfe descreve o simples ato de “ficar”, praticado, segundo ele, por qualquer criança a partir da puberdade. As etapas de uma ficada, ainda de acordo com Wolfe, são quatro e, antigamente — não tão antigamente — iam do beijo até o sexo propriamente dito; hoje em dia, vão da felação a descobrir o nome dos envolvidos. Só que, no fim do século 20, chegar até o ponto de saber o nome dos envolvidos era algo raro.
Não é só desse tipo de texto que vive Ficar ou não ficar. Num longo ensaio intitulado Dois rapazes a caminho do Oeste, Wolfe traça o perfil de Robert Noyce, um dos primeiros habitantes do chamado Vale do Silício, aquela região da Califórnia que reúne as principais indústrias de alta tecnologia do mundo. Noyce foi, simplesmente, o fundador da Intel, a empresa responsável pelo funcionamento deste computador no qual escrevo (maldito Noyce, você pensou). Pois Wolfe parte de uma premissa básica, já explorada sucessivas vezes pelos sociólogos de plantão, anglófilos ou francófilos, em sua maioria: o da ética protestante. Sem citar Max Weber, o teórico de tal conceito, Wolfe passeia pela história de uma pequena cidade do Meio-oeste americano, Grinnell. Fundada por um pastor congregacionista, esta cidade daria ao mundo grandes mentes, responsáveis pelos maiores avanços tecnológicos dos últimos 50 anos. Só que ninguém sabe quem são (não confundir com o exibicionista Bill Gates), porque estes homens pautam seu trabalho principalmente por uma política de abolição da divisão de classes dentro da empresa e, sobretudo, pela não-ostentação. Gente como Noyce, um dos homens mais ricos do mundo, do qual pouca gente ouviu falar. Claro que, no ensaio, não faltam críticas aos homens de Palo Alto que só pensam em trabalho. É a tal “ética protestante” levada às últimas conseqüências e causadora, também, de certa decadência de que goza a sociedade americana (lembre-se: ele é um conservador). Eis um exemplo da visão cáustica de Wolfe:
“Estas pessoas [os executivos do Vale do Silício] não poderiam estar mais equivocadas. A nova estirpe do Vale do Silício vivia para o trabalho. Sua disciplina chegava a provocar dores nas costas. Todos trabalhavam muitas horas, e continuavam a trabalhar nos fins de semana. Envolviam-se com as empresas como se fazia outrora, nos florescentes dias da indústria automobilística. No Vale do Silício, um jovem engenheiro chegava ao trabalho às oito da manhã, trabalhava até a hora do almoço, ia embora às seis e meia ou sete, dirigia o carro até chegar em casa, brincava com o bebê durante meia hora, jantava com a mulher, ia para a cama com ela, dava-lhe um rápido trato, depois levantava, largava-a lá no escuro e trabalhava à sua escrivaninha por duas ou três horas em ‘umas coisas que tive de trazer para casa’”.
No mesmo ensaio, Wolfe faz uma crítica aos proclamados anos 60, com seus fedorentos hippies. Nesta época a tecnologia deu seus maiores saltos, conseguindo simplesmente colocar o homem na Lua (há quem duvide). Os hippies, contudo, guiados por gurus lisérgicos, se autodenominavam Homo novus, e eram contra qualquer tipo de avanço tecnológico. Hoje, mais de 40 anos depois, ainda há gente assim.
“O Homo novus forjara uma cadeia lógica que dizia o seguinte: como a ciência é igual ao complexo industrial-militar [eram tempos da Guerra do Vietnã], o complexo industrial-militar é igual ao capitalismo, e o capitalismo é igual ao fascismo, a ciência é igual ao fascismo.”
Não, qualquer semelhança com as reações contra os avanços da medicina, hoje em dia, não é mera coincidência. Adiante, Wolfe os diagnostica com “os reacionários da nova era. Eram a vanguarda do atraso. Queriam cancelar o futuro. Eram natimortos, ossificados e prematuramente senis”.
Se Tom Wolfe, no entanto, se mostra um entusiasta da tecnologia enquanto empreendedor da tal ética protestante até mesmo nas aristocráticas empresas do Leste dos Estados Unidos, mostra-se bastante irritadiço com a auto-indulgência de certas invenções recentes, principalmente com a Internet e seus correlatos. O foco principal dos dois ensaios sobre o assunto, Digibesteiras, pó de pirlimpimpim e o formigueiro humano e Lamento, mas sua alma acaba de morrer, passa também pela chamada psicologia darwinista, hoje tão em voga, e que encontra, nos primórdios da internet, quando isso era só uma quimera macluhaniana, uma de suas principais bases de sustentação.
No primeiro deles, algo que chama a atenção é a estrutura do ensaio. Wolfe nos faz admirar dois personagens-chave das teorias da comunicação, Pierre Teilhard de Chardin e Marshall McLuhan. Os dois foram, por assim dizer, os precursores desta história de “aldeia global” (Teilhard a chamava de “noosfera”). Depois de gastar algumas centenas de palavras fazendo com que o leitor simpatize com os dois, principalmente com o primeiro, suposta vítima de um conluio católico, Wolfe dá um giro de 180 graus e diz:
“Detesto ter que dar esta notícia à tribo do digi-reino mágico, mas a verdade nua e crua é que a Web, a Internet, faz apenas uma coisa. Acelera a obtenção e a disseminação de informações (…). Todo o resto é digibesteira”.
E então Tom Wolfe entra no assunto que realmente lhe interessa: a bio-psicologia, a psicologia darwiniana ou a psicologia evolucionista. Tudo um monte de besteira, claro. Segundo estas teorias, toda a ação do homem, tudo o que você faz e pensa não passa de atos pré-programados por seus genes. Livre-arbítrio? Que nada: genes. Ego? Consciência? Alma? Genes. Genes. Genes. Para atacar os inventores desta nova “modalidade científica”, Wolfe usa o mesmo artifício, ou seja, conta a historinha de suas vítimas para depois atacá-las. E assim que conhecemos Edward O. Wilson, mais tarde alcunhado de Darwin II, e Richard Dawkins, os luminares desta nova baboseira.
Sobre arte, arte mesmo, Tom Wolfe só trata em três ensaios, provavelmente os melhores do livro. No País dos marxistas rococós poderia ser escrito por qualquer intelectual brasileiro, se tivéssemos intelectuais realmente inteligentes. Nele, Wolfe fala da influência da cultura européia na construção desta entidade chamada “intelectual americano”. Para tanto, aponta algumas características que servem para, digamos, diagnosticar o intelectual diante de uma platéia, como a indignação, por exemplo. Você, leitor, certamente conhece o tipo indignado. Para Wolfe, contudo, “a indignação moral é uma técnica utilizada para dotar os idiotas de dignidade”. Tudo bem a frase é, na verdade, de Marshall McLuhan, mas quem se importa diante da força e veracidade da frase? Adiante, Tom Wolfe define o intelectual como um ser que “domina um certo campo do saber, mas que só opina publicamente sobre outros”.
Para mim, a melhor parte de todo o livro de 259 páginas está na 151. Ainda no ensaio No país dos marxistas rococós, Tom Wolfe discorre sobre o estilo, por assim dizer, dos acadêmicos — aqueles de orelha peluda, não importa se homens ou mulheres. Ele cita o caso de Judith Butler, uma destas acadêmicas ícones do politicamente correto. É de rolar de dar gargalhadas:
“Em 1998, o periódico Philosophy and Literature deu-lhe [a Judith Butler, obviamente] o prêmio principal no Concurso de Pior Redação por uma frase que começava assim: ‘A passagem de um relato estruturalista em que o capital é entendido como estruturador de relações sociais de formas relativamente homólogas a uma visão de hegemonia em que as relações de poder sujeitar-se à repetição, convergência e rearticulação…’ O trecho continha mais cinqüenta e nove palavras”.
Qualquer intelectual brasileiro escreve coisas parecidas. E é elogiado por sua “capacidade de abstração”!
Para Wolfe, o trabalho de um intelectual é adquirir conhecimento, e não este esnobismo fácil. O senhor ao fundo levantou a mão. Quer discordar? Cartas para a redação, por favor. E nada de insultos.
Em O artista invisível, Tom Wolfe faz uma apologia à arte figurativa, hoje completamente esquecida. Ele é taxativo: “A imaginação sem habilidade nos dá a arte contemporânea”. Coisa que se comprova numa visita rápida a qualquer Bienal.
Já em O grande aprendizado, o autor se mostra surpreendentemente otimista em relação ao século 21. Segundo Wolfe, este será o século em que as pessoas olharão para o monstruoso século 20 e dirão, sem rodeios: “Que merda!”. E aprenderão a pintar e a esculpir novamente. E a prenderão a tocar instrumentos de verdade novamente. E aprenderão a escrever frases novamente. E o soneto, quem sabe, renascerá. E a arquitetura ganhará novamente toques realmente autorais e individuais. E o cinema e o teatro privilegiarão bons atores e ótimos textos. Será, pois, o século em que o homem se redescobrirá com Homo sapiens sapiens. Será?
O mais controverso dos ensaios é, provavelmente, Os Três Patetas. Antes de falar sobre ele, contudo, vale dar uma pincelada em O caso New Yorker, que conferiu a Wolfe fama. Nele o autor trata da personalidade reclusa e irascível de William Shawn, editor da prestigiada revista New Yorker. Para se ter uma idéia da briga que Wolfe adquiriu com este artigo, até o ultra-recluso J. D. Salinger, que deixa nosso Dalton Trevisan no chinelo no quesito privacidade, escreveu para Wolfe, a fim de recriminá-lo pelo artigo. O texto, contudo, perdeu, especialmente para nós, brasileiros, um pouco da sua virulência. Não temos a exata medida da importância da New Yorker na imprensa americana. Malcomparando, dá para se dizer que foi como se Tom Wolfe escreve laudas e laudas falando mal da Veja. Malcomparando. Malcomparando. (É preciso repetir várias vezes).
Os Três Patetas é uma briguinha literária entre Tom Wolfe e o trio John Updike, Norman Mailer e John Irving. O caso é o seguinte: Tom Wolfe escreveu um livro, O Homem por Inteiro, que vendeu milhões de exemplares e que foi sucesso de crítica na maior parte dos suplementos americanos — exceto aqueles que continham artigos dos tais três patetas. Wolfe se “pelou” por isso e resolveu partir para a briga. A partir daí, resolveu desfiar toda uma teoria do romance contemporâneo, vendo, na prosa dos três escritores em questão, indícios que apontavam para uma crise iminente do gênero, caso não fossem mudadas urgentemente as regras do jogo. Estava armado o barraco.
Wolfe teoriza que o romance moderno precisa de fôlego e, para tanto, o escritor tem que entrar no mundo. Impossível discordar totalmente dele. É certo que Wolfe escreve isso sob influência da musa do ressentimento, mas suas colocações são mais do que pertinentes. Ele cita, para dar um exemplo, estes romances meta-linguísticos ou, pior, estes romances que tem como personagens escritores que ficam encarcerados em suas casas em uma cidadezinha qualquer. Nada mais enfadonho para o leitor, claro. A alternativa, então, seria a de um escritor que resolvesse pesquisar a fundo o assunto sobre o que se propõe escrever, num exercício de reportagem mesmo. Sem delongas, a mensagem de Wolfe é: chega de masturbação literária.
Ah, se ele visse o estado da literatura brasileira?…
Disse-se isso no início deste texto: Tom Wolfe é um conservador. Lê-lo é, muitas vezes, um exercício de tolerância. Num mundo que prega “mil revoluções por minuto”, conceber alguém apegado a valores é algo que exige, sobretudo, imaginação fértil. Dândi do jornalismo, crítico ferrenho de um mundo em falso progresso, este é Tom Wolfe. O leitor dado a uma estrelinha no peito pode até xingá-lo, mas não pode se furtar à força de seus argumentos.