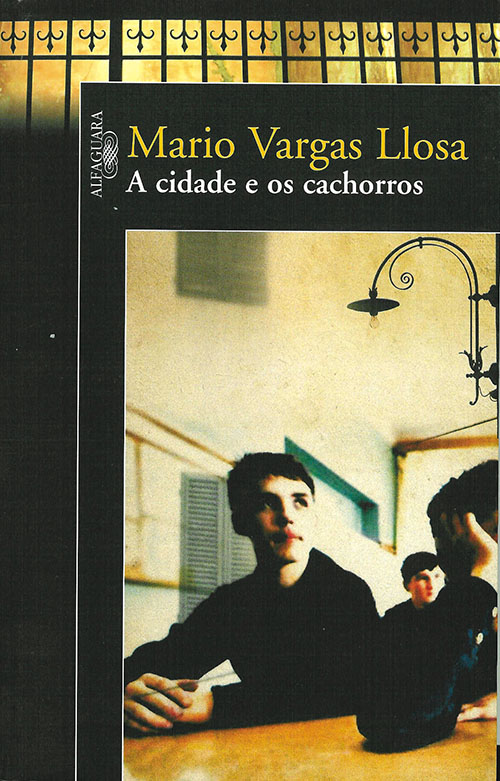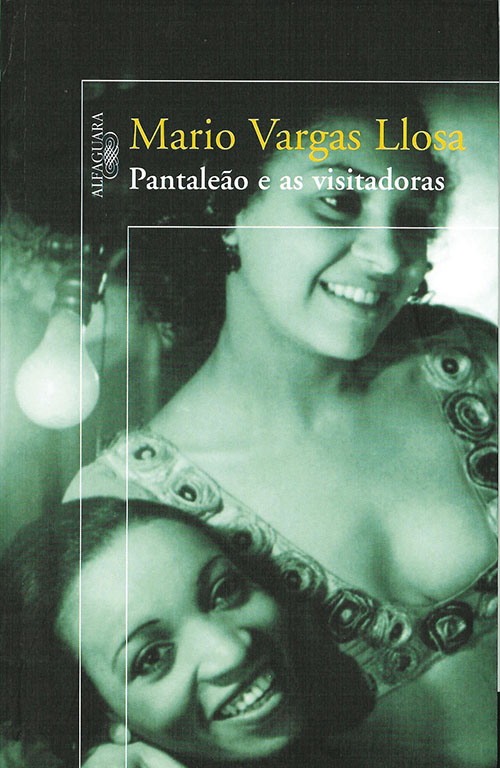Mario Vargas Llosa é um escritor injustiçado. Não, esta frase não desmerece o enorme renome que o autor peruano atingiu nas últimas décadas, tornando-se, ao lado de Gabriel García Márquez, a síntese do chamado boom latino-americano que encantou o planeta no final da década de 60, início da década de 70. Llosa teve ainda a (rara) sorte de conquistar o grande público: é lido em todo canto do planeta, nas mais diversas línguas, tão popular que por pouco não se tornou presidente do Peru em 1990 (foi derrotado por Alberto Fujimori). Onde está a injustiça, então? Em seus pares. Se agrada aos gregos e troianos de crítica e público, não raro é criticado por outros escritores. Principalmente os contemporâneos.
Para eles, Llosa é uma rocha que ainda não percebeu o estado avançado de decomposição em que se encontra. Um figurão do passado que não sabe a hora de sair de cena. Sobre ele, o grande autor argentino Juan José Saer afirmou: “suas formas literárias me parecem caducas”. Outro argentino, Ricardo Piglia, o chama de “escritor convencional”. Ao contrário do que pensam alguns, chileno Roberto Bolaño o admirava e até chegou a escrever o prefácio de uma reedição dele, mas via tanto no peruano quanto em outros medalhões do boom a perpetuação de um modelo arcaico. Há quem diga que a inimizade dos latinos contemporâneos, formados por duros anos de ditadura, advém do posicionamento político de Llosa, direitista assumido e um dos precursores do neoliberalismo no continente. Afirmar isso, porém, é reducionismo. O próprio Saer se justifica, acrescentando que admira outros autores “de direita”, como Céline e Borges. A bronca, portanto, seria somente em relação à prosa de Llosa.
Ele, por certo, pratica uma literatura de corte mais clássico do que alguns de seus contemporâneos. Vargas Llosa idolatra Flaubert, o esteta máximo do texto, e seus livros refletem esse lado do estilista em busca da palavra justa. Ao mesmo tempo, como os grandes romancistas do século 19 (com destaque para os russos), procura abarcar em suas narrativas o máximo possível de assuntos que, aglomerados, formam uma analogia com a vida humana em todos os sentidos. O “romance total”. Pronto: temos como resultado uma figura que está um século atrasada no tempo, almejando uma obra que já nasceu ultrapassada, careta, prejudicada por uma inusitada inclinação pelo narrar, pelo contar histórias, pelo ato de tentar, através da vida dos personagens, traduzir um pouco da história de uma cidade, de um país, de um continente. Certo?
Errado. Talvez fosse assim se Llosa não tivesse, ao mesmo tempo, lido, estudado (sim, estudado, e quem ler a coletânea de ensaios/resenhas A verdade das mentiras pode notar isso bem) e admirado vários autores do século 20. O mesmo fã de Flaubert e Tolstói debruçou-se sobre Vladimir Nabokov, Günther Grass e James Joyce. E, com zelo especial, William Faulkner. Essa bagagem permitiu que Vargas Llosa engendrasse um poderoso condomínio narrativo, combinando as duas escolas: a amplitude social da época áurea do romance com a ousadia lingüística dos modernos. Uma característica clara em dois trabalhos reeditados há pouco tempo no Brasil pela Alfaguara, A cidade e os cachorros (1962) e Pantaleão e as visitadoras (1973). A princípio, dois livros totalmente diferentes entre si. O primeiro é um romance de formação doloroso, com brutalidades se sucedendo a cada página. O segundo, uma comédia rasgada, com piadas hilárias se sucedendo a cada página. Um leitor atento não demora a perceber que, apesar da diferença de tom, há semelhanças entre eles. O trágico traz algo de cômico; o cômico é intrínseco à tragédia.
Quebrar regras
O autobiográfico A cidade e os cachorros fala sobre um grupo de estudantes do Colégio Militar Leôncio Prado, de Lima. Cada um deles possui um background distinto, seja familiar ou social. Em comum entre quase todos eles é a vontade de quebrar as regras. Frutos de um ambiente cruel, tornam-se cruéis. Ou ao menos acreditam nisso. Burlam todas as regras: fumam, fornicam com cadelas e galinhas (e entre si), bebem, fogem do colégio, ridicularizam os oficiais. Como são humilhados pelos maiores, humilham os mais novos. Encaram a paixão de uma maneira quase blasé, um elemento estranho a interferir em sua suposta impassibilidade em relação às mazelas do coração. Perder a pose significa perder status; perder status significa, num lugar desses, perder a vida. O único que destoa do comportamento básico do Leôncio Prado é o cadete Ricardo Arana, ridicularizado diariamente pelos colegas.
Llosa não recorre a métodos fáceis para contar a história — e aqui começa a defesa de sua literatura. Ao decidir por um grupo de adolescentes e não legar a apenas um a honra de narrar ou protagonizar o enredo, o escritor polariza seu foco. Fiel discípulo de Faulkner, alterna os pontos de vista de cada personagem, sem respeitar ordens lineares. A narração adentra o passado dos meninos, volta, mergulha outra vez nas infâncias. Primeira e terceira pessoa se misturam. Llosa abusa do fluxo de consciência sem se tornar ilegível ou se render a malabarismos e experimentalismos vazios. Complicado chamar isso de “forma literária caduca”.
É fácil cair no clichê ao se interpretar A cidade e os cachorros. Poderíamos dizer, por exemplo, que se trata de um livro sobre a perda da inocência e sobre como o exército brutaliza a juventude. Não é bem assim. Ao exército cabe a função de “criar” os estudantes, um papel designado pelas famílias deles, elas sim brutais. A disfunção familiar é o único traço visível de semelhança entre os cadetes: todas as famílias viam a escola militar como saída para educar, desenvolver a virilidade, formar o cidadão. Se a América Latina foi o terror que foi nas sangrentas décadas de ditadura, foi mais por descaso da população civil do que por mérito do exército. Isso não é uma defesa, longe disso: com sua podridão interna, a insistência em seguir regras estapafúrdias em nome da ordem, faz dos oficiais os carrascos de uma sociedade que abriu mão de fazer o trabalho sujo. Nesse círculo vicioso, os estudantes apenas fazem docilmente o jogo dos dois lados — da família que se omite e do exército que cumpre o que os pais não quiseram cumprir. Uma eterna inocência, e não a perda dela. Se alguém a perde é Arana, na recusa de manter uma posição inerte.
Se as múltiplas vozes de A cidade e os cachorros se distinguem para tornarem-se um discurso único — o da ingenuidade e inércia, em Pantaleão e as visitadoras esse papel cabe a um único personagem, o próprio Pantaleão Pantoja. Ele é um militar exemplar, disciplinado, mais dedicado ao galão do que à própria família. Pela ficha exemplar, Panta é enviado pelos superiores à selva amazônica, onde deverá fundar uma casa de mulheres que ajude a saciar a fome sexual dos soldados das guarnições do meio do mato. Só que Pantaleão é tão metódico e obsessivo que transforma o serviço das “visitadoras” no maior estabelecimento de prostituição do Peru. Se o capitão Pantoja faz as vezes dos soldados que seguem o jogo do outro livro, aqui já não há um Ricardo Arana. Como se Vargas Llosa, uma década mais velho, já tivesse perdido a esperança de resistência à cobra que morde o próprio rabo. Pantaleão é como uma espécie de versão adulta dos cadetes. Mesmo livre do domínio familiar, pela idade, acaba deixando-se levar pelo exército.
Aqui o autor encontra o estado de graça na estrutura de sua prosa. Chega a usar 30 páginas só com diálogos, mas utilizando-os de maneira inusitada, misturando inúmeras vozes e situações, para alavancar a narrativa em tempo e espaço. E Llosa brinca ainda com outros gêneros formais. Utiliza-se de epístolas, relatórios militares, reportagens e até o roteiro completo de um programa de rádio. Sorrateiro, faz menções a uma seita religiosa e fanática promovida por uma espécie de Antônio Conselheiro amazônico, e que aos poucos assume a rédea do romance e leva-o a um desenlace sangrento — o elemento trágico deste experimento quase picaresco que é Pantaleão e as visitadoras.
É pelo rigor e arrojo na carpintaria dos romances que Mario Vargas Llosa deve ser lembrado — e não por seus poucos trabalhos que faz jus às críticas dos detratores, caso do fraco As travessuras da menina má. A paixão pela linguagem norteia o peruano: é ela, com sua ausência de pontas soltas, quem direciona suas histórias. Sua ambição não pode ser ignorada; antes comemorada.