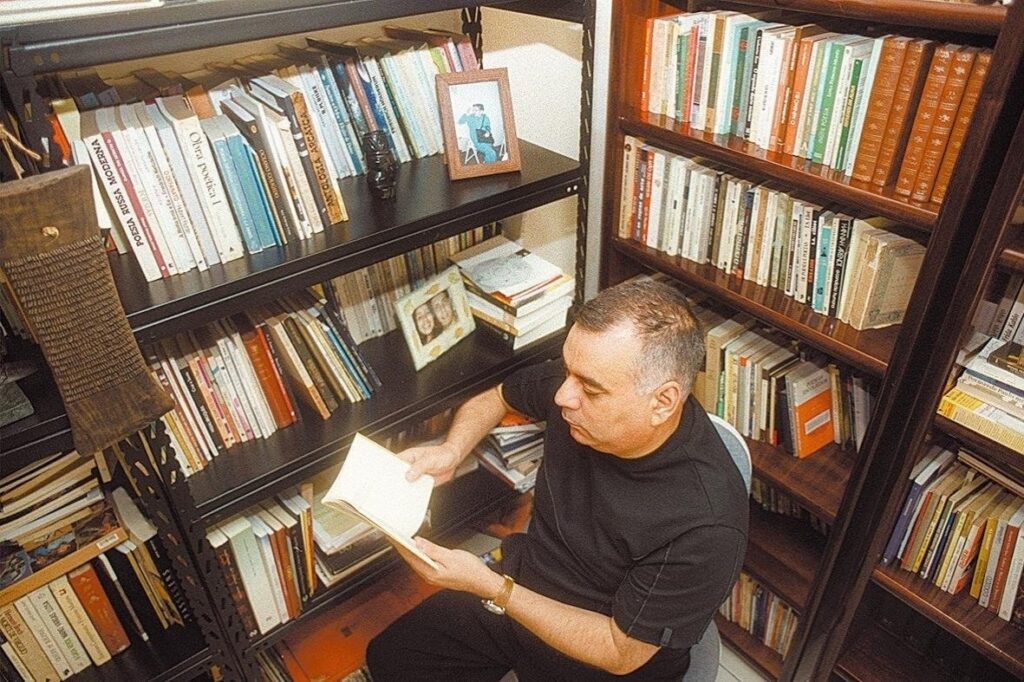Quando Donizete Galvão morreu, em 30 de janeiro de 2014, ele estava trabalhando em mais um livro de poemas — uma década antes, declarou em entrevista para o Digestivo Cultural que mantinha o ofício como “uma maneira de suportar o mundo”. Quando alguém se vai, é difícil saber o que é preciso fazer para suportar o mundo um pouco mais vazio. Uma forma de fazê-lo com virtude é continuar o trabalho de quem partiu.
É o que fizeram Paulo Ferraz e Tarso de Melo, quando elaboraram uma edição cuidadosa e póstuma do último livro de Donizete, com ilustrações e capa de Hallina Beltrão. Graças a esse gesto, quase cinco anos após a morte do poeta podemos ter em mãos O antipássaro. Este volume traz os trabalhos que foram feitos desde 2002 e que ficaram no computador do poeta, aguardando talvez a última demão e, quem sabe, a companhia de futuros escritos.
Ao folheá-lo, o leitor perceberá que se trata de um livro inserido em uma tradição poética urbana que tem duas raízes fundas na poesia de Charles Baudelaire: o tratamento da cidade como “segunda natureza” e a conversão da figura do poeta: de utopista que paira por cima das coisas em pássaro abatido. Como o albatroz de Baudelaire, que fora capturado pelos homens do mar e que não consegue mais alçar voo por causa de suas “asas de gigante”, o antipássaro de Donizete é signo de um poeta ao rés do chão. As soluções de Donizete, no entanto, como bicho caído, apontam para outros caminhos, diferentes daqueles escolhidos pelo poeta francês.
Caminhos do inacabamento, como notaram os próprios editores do livro. A esse propósito, é instrutivo acompanhar as suas imagens de quase pássaros, como no poema Ode ao morcego: “Rato, pássaro falhado”. Em Harpia, a pássara é imaginária: “Pássara que pousou na minha vidraça/ ave imaginária, nascida da minha testa,/ antes não ouvia por mais que invocasse/ o rumor de suas asas no escuro da noite”. E há ainda o poema Ninho, que apresenta a imagem arrebatadora de um “feto com asas”:
Para além da barreira cerrada
de rencas de cana-da-índia,
oculto atrás das bromélias,
sob o véu das avencas,
no miolo frio da mata,
sugando as águas das chuvas,
em ninho de ventos e musgos,
arfa um pássaro intocado:
— feto com asas —,
sob a transparência da pele,
exibe a trama de veias azuis.
E o rosa da carne imatura.
Estamos diante de uma promessa de pássaro — como a própria poesia de Donizete, que anseia um porvir nos céus, mas suporta o presente no chão. No posfácio de O antipássaro, Antonio Carlos Secchin relaciona esta dialética ao prefixo “anti”: se o pássaro promete altitude, o antipássaro aponta o seu voo para baixo. É apenas “entre noites” que a poesia — a salvação, no caso de Donizete — acontece: “Escuridão// voo/ breve/ sob/ o sol// segunda escuridão”.
Crueza da matéria
É claro que a imagem do antipássaro, como boa parte do trabalho do poeta, não se descola de uma tradição também bastante brasileira. A começar pela clara alusão que faz, já em seu título, a uma imagem de Orides Fontela, que escreveu certa feita o seu próprio antipássaro: “Um pássaro/ seu ninho é pedra// seu grito/ metal cinza// dói no espaço/ seu olho.// Um pássaro/ pesa/ e caça/ entre lixo/ e tédio.// Um pássaro/ resiste aos/ céus. E perdura./ Apesar”. A esse propósito, vale a pena conferir o artigo de Patrícia Lavelle, publicado na Revista Pessoa em 6 de janeiro de 2019, em que ela faz uma leitura d’O antipássaro entre as poetas Orides Fontela e Simone Brantes.
Além disso, a materialidade, o apego da poesia de Donizete Galvão à crueza da matéria, sem, com isso, abandonar o lirismo — pelo contrário, fundando na matéria o seu lirismo — é uma constante em alguma poesia brasileira, desde pelo menos Augusto dos Anjos, passando por Carlos Drummond de Andrade e chegando a uma poeta contemporânea como Ana Martins Marques.
De volta à raiz moderna de Donizete, Baudelaire, que via na grande cidade um duplo das florestas — a metrópole seria ainda mais perigosa e rica em desastres “naturais” do que a selva-selvagem —, ela funda nos poemas de O antipássaro uma indistinção entre campo e cidade. Como observou Mariana Ianelli, ao escrever para o Estadão um dia após a morte de Donizete Galvão, podemos ver no poeta “o curral das cidades com suas muralhas, seus homens carapaças e seus anônimos exilados ou excluídos”.
Como na série Flora urbana, em que se traça o ecossistema urbano a partir de objetos inorgânicos. Em Os cones, o poeta percebe que esses seres de “cores fortes como laranja e branco” se alimentam “de monóxido de carbono e outros poluentes”, além de crescerem em “fileiras monótonas”. Em As caçambas, os hábitos alimentares são outros: estes seres “devoram azulejos, tijolos, pisos quebrados, a memória da família que habitou aquela casa” e se constituem como “flores pesadas, difíceis de serem removidas ou roubadas”. Mas o ser mais interessante catalogado pelo poeta é O guindaste:
Hierático e altaneiro como as palmeiras imperiais. São muitos e podem ser vistos em diferentes pontos da cidade. Sempre amarelos. Revelam grande senso de equilíbrio e de geometria no seu crescimento. Seus movimentos são sincronizados e perfeitos, numa dança futurista. Em volta deles, costumam surgir prédios de mau gosto. Contrariados mudam-se da noite para o dia para outros terrenos vazios. Floresce e no seu florescer já antecipa detritos.
Uma tal descrição parece adequada também à imagem de Donizete Galvão, que opera na ambivalência do florescer e da antecipação de detritos. A cidade que o poeta vive e imagina é cinza e difícil, ao mesmo tempo que abriga cores e delicadezas em suas esquinas, em certos momentos secretos.
As duas raízes — a do voo malogrado e a da cidade como segunda natureza — se combinam na embriaguez. A embriaguez em seus poemas não surge como signo do poeta maldito, nem do homem fraturado, dois arquétipos já bastante gastos na história da arte, mas sob um prisma mais interessante. Surge como promessa de salvação a partir de uma nova animalidade. Como em Mesa de bar, em que Donizete fantasia um táxi que rodasse pela cidade por toda a madrugada, parando com o poeta de bar em bar para “reabastecer” — só assim “esta cidade não seria/ áspera ameaça”, somente “se atravessássemos suas ruas/ como pássaros bêbados”.
Apesar disso, a embriaguez cobra o seu preço. Ela não figura como invencibilidade psíquica, como em arroubos surrealistas de outros poetas. Donizete Galvão é consciente demais de seu próprio corpo, tempo e condição social para se deixar enfeitiçar por longos períodos. O remédio contra a ressaca moral, no entanto, existe: é o recolhimento. O poeta frequentemente apresenta imagens desse recolhimento como armadura contra o ego. Como em O mijão, em que os bares de São Paulo começam a fechar na madrugada, e a voz do poema precisa encontrar não apenas mais cerveja como banheiros:
Mijei atrás da caçamba
de entulho.
Mijei quente, grosso
e demorado.
E me deu vontade
de mijar nos monumentos,
nos prédios neoclássicos,
nos shoppings e avenidas.
Como a demarcar
um território nesta
cidade onde
eu possa beber e mijar
quanto queira.
Mas era hora
de ir para casa
e recolhi o pinto
e tomei um táxi.
Se a embriaguez é uma asa de Donizete, o recolhimento é o seu prefixo “anti”, que o salva da arrogância das alturas. Por isso Donizete segue firme, em seu último livro, radicado na tradição da poesia que olha o minério e o detrito. Sem descuidar do voo, também não se desgarra da terra. Fica assim a meia altura, de onde pode olhar para o seu tempo-espaço, com toda a sua carga de realismo e desvario, e nos contar.nações.