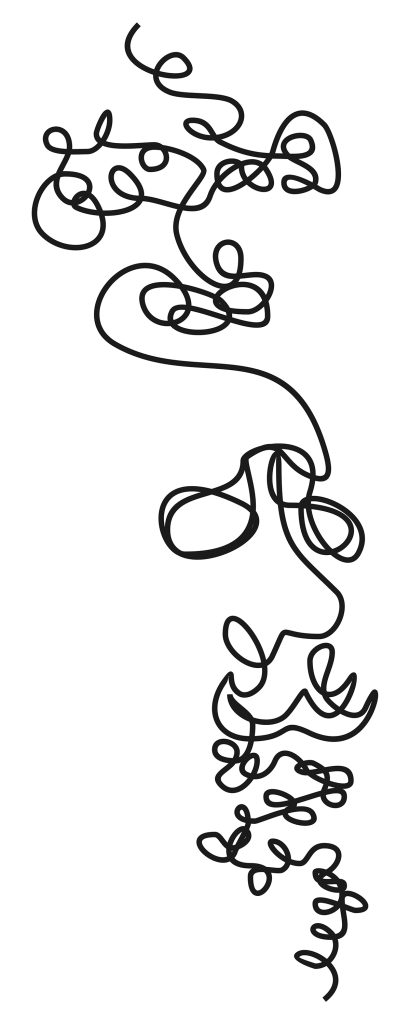Dentre os gêneros literários, a crônica é o mais ingrato. Servos do transitório, são raríssimos os cronistas que conseguem impregnar seus textos com elementos capazes de extrapolar o banal, conceder ao corriqueiro uma perspectiva inusitada. Esses — como Rubem Braga, de quem comemoramos o centenário de nascimento no último 12 de janeiro — conquistam sobrevida; a maioria, no entanto, está condenada ao esquecimento ou a ter suas produções lidas não pelo valor literário, mas por serem documentos curiosos, úteis a sociólogos, historiadores e quejandos.
O poeta Olavo Bilac, que produziu crônicas, com maior ou menor intermitência, de 1883 a 1908, escrevendo, em períodos diferentes, para quase três dezenas de revistas e jornais, situa-se no grupo maior. É o que pode ser verificado ao lermos o criterioso trabalho de Antonio Dimas, Bilac, o jornalista (3 volumes, Edusp/Imprensa Oficial do Estado de São Paulo/Editora da Unicamp). Uma crestomatia anterior — Vossa insolência (Companhia das Letras), também organizada por Antonio Dimas — serve ao leitor interessado em conhecer, de forma não extensiva, a prosa de Bilac.
Clichês e elogios
A pobreza da imagística bilaquiana aproxima-se do vexaminoso. Seus textos são escritos sob a autoridade do lugar-comum. O “lento evoluir da aldeia em cidade” é definido como “lenta passagem do estado de lagarta ao estado de borboleta”, no qual o substantivo masculino repete-se de forma desnecessária e desagradável. Dizer que o “desejo andava, tonto e ansioso, rodando em torno dela como um animal faminto em torno de uma presa cobiçada” é utilizar a comparação mais previsível. A mesma observação serve para “alegre como um canário, fresca como uma madrugada”, “ardendo no fogo de todas as paixões” e “lareira em que um lume alegre crepitava”. Espera-se, a cada crônica, uma figura que fuja à banalidade, mas o clichê predomina: “Tudo se renova, tudo progride, e nada morre. Morremos nós, que nada somos. Mas as cidades ficam e perduram, devoradoras de gerações”. Ou: “A primavera simboliza a mocidade das cousas e das almas”. E ainda: as palavras que “entram como cunhas de aço na alma de quem as lê”; a terra que “somente se abre em verduras de primavera e em frutos do outono depois de ter o seio dolorosamente rasgado pelo arado”.
Por mais que se esforce — e prefiro imaginar que se esforçava —, Bilac não consegue fugir da expansão dos sentimentos melosos. Ao relembrar a juventude, exclama:
[…] Doce e clara manhã! talvez fosse, realmente, uma agreste manhã, feia e chuvosa; mas a minha alegria, o meu orgulho de rimador novato, a minha vaidade de poeta “impresso” eram capazes de acender um sol de verão na mais nevoenta alvorada de inverno.
Referindo-se à casa de Eça de Queirós em Paris, define-a: “[…] um encantado recanto de paz e trabalho no meio da tumultuosa agitação da grande cidade”. E utiliza os mesmos artifícios, que cansei de ler nos almanaques farmacêuticos da minha infância, para qualificar o trabalho do romancista português: “paciente e sublime ofício de corporificador de idéias e de desbastador de palavras”.
São raras as crônicas em que Bilac não paga alto preço à eloqüência vazia — no Brasil, a maior destruidora de talentos, depois da idealização romântica:
[…] Ao cair da tarde, esgotada a sua provisão cotidiana, o semeador dá um último olhar à terra palpitante, mira-lhe com amor o seio fecundo preparador para a glória da messe futura, e já pensa no trabalho do dia seguinte, na continuação do labor sagrado, que é a única preocupação e o único orgulho de sua existência…
Na mesma crônica, dedicada a Émile Zola, as conseqüências da adjetivação incontrolável voltam a se mostrar, nefastas:
[…] De pedra em pedra, o edifício da sua obra hercúlea crescia e subia. Nascido do lodo, com a base no fundo asqueroso do pântano humano, esse edifício demandava o céu, a claridade serena, a alta glória da luz.
Peço ao leitor que tire o sorriso do rosto. O caso é dramático. Esse tipo de estilística piegas fez escola no Brasil — e sofremos suas conseqüências até hoje. Há, acreditem, acadêmicos que têm a mesma poética avaliação da obra de Aluísio Azevedo, ainda que, mutatis mutandis, tomem o cuidado de esconder um pouco os adjetivos…
Mas voltemos ao rol de elogios a Zola. Não satisfeito, Bilac ainda pespega:
[…] — era apenas um poeta, um grande poeta, cuja alma de criança sonhara pôr o céu ao alcance da terra, e que, dia e noite, via sorrir sobre as tristezas da vida contemporânea o prenúncio de uma vida melhor, o primeiro rubor de uma aurora fecunda, toda de paz e igualdade, toda de amor e de fartura.
E já que recordamos o autor de O cortiço, Bilac pertence, sim, ao grupo dos admiradores de Azevedo. Chama o amigo de “vigoroso operário das nossas letras”, cujo “estilo freme e fulgura com as palpitações do ideal que as inflama” — mero circunlóquio para construir a discutível glorificação.
Como percebemos, não faltam elogios fáceis à imaginação do nosso cronista. Referindo-se a O defunto, de Eça de Queirós, chama o conto de “obra-prima”, “novela admirável […] animada de um vasto sopro de gênio”, “a mais notável, talvez, das criações de Eça”. De Artur Azevedo, dirá que “foi artista em todas as manifestações da existência, no escrever, no pensar, no falar, no viver”. E termina o necrológio, incansável, com este período manco: “[…] Não desaparece verdadeiramente o Artista, que ficará vivendo na história deste país, quando a Morte também já tiver consumido todos os corações e todas as inteligências que admiram a sua inteligência”. José Carlos Rodrigues, diretor do Jornal do Comércio, tem não apenas “tato”, mas “prudência” e “atilado espírito”; seu jornal é “grave, pesada, seriíssima e formidável folha”, ainda que no passado tenha apresentado “enorme face impassível de paquiderme monstruoso” — deplorável conjunto de adjetivos. Outro jornalista, Ferreira de Araújo, “viveu servindo à Arte e à Poesia, e alimentando com o seu talento e a sua dedicação esta atmosfera moral de sentimento e inteligência, que é o nosso maior orgulho de povo”; “aliavam-se no seu estilo a força e a graça, a impetuosidade e a leveza, a solidez e a malícia”. Um gênio, felizmente desconhecido.
Hipérboles
O exagero permeia grande parte dos exemplos acima, afinal, o que seria da eloqüência sem a hipérbole? Ambas trabalham juntas para criar os balões de gás que encantam leitores ineptos. O mero projeto de colocar bustos de escritores no Passeio Público transformará o local no “templo umbroso e perfumado dos numes tutelares da nossa Inteligência”. Mas Bilac esquece que o enaltecimento despropositado pode tornar certas virtudes irreais:
[…] Émile Zola não conheceu nunca os desfalecimentos que desmoralizam o trabalhador, as dúvidas, as hesitações, as síncopes da vontade, as fases de trágico e tremendo desespero em que o espírito a si mesmo pergunta se não é uma loucura perder as forças num trabalho vão. Zola não duvidou nunca da nobreza e da utilidade de sua tarefa.
Muito além do razoável e do bom senso, Bilac exalta e dramatiza, criando efeito diverso do pretendido também nestas linhas dedicadas a José do Patrocínio e sua tentativa de construir um dirigível que cruzasse o Atlântico:
Ali dentro, o gênio humano está armazenando forças para alcançar uma nova conquista; ali fermenta e ferve uma idéia imensa, ali cresce e se empluma, para a grande viagem da luz, um sonho radiante. E quem vê o pesado bonachão, que parece calmamente dormir, sob a soalheira ardente do dia ou sob a paz estrelada da noite, não pode imaginar que assombroso e misturado mundo de esperanças, de desesperos, de desenganos, de surtos de fé, de assomos de coragem, de sacrifícios, de desilusões, de milagres de pertinácia e de prodígios de trabalho está vivendo e palpitando entre aquelas quatro paredes mudas…
Destrambelhado, o cronista transforma um bonde em alucinação:
Haja sol ou chuva, labute ou durma a cidade, o trabalho metódico do bonde não cessa: à alta noite, ou alta madrugada, quando já os mais terríveis noctívagos se meteram no vale dos lençóis, ainda ele está cumprindo o seu fadário, deslizando sobre os trilhos, abrindo clareiras na treva com as suas lanternas vermelhas ou azuis, acordando o eco das ruas desertas, velando incansável pela comodidade, pelo conforto, pelo serviço da população.
E a cascata de gerúndios, anunciada no trecho acima, finalmente surge:
Mas que te importa que digamos mal de ti, condescendente e impassível bonde? Tu não dás ouvido às nossas recriminações, e vais largando o teu domínio, dilatando o teu aranhol, suprimindo as distâncias, confraternizando pela aproximação o Saco do Alferes com Botafogo e a Vila Guarani com o Cosme Velho, e reinando como senhor absoluto e indispensável sobre a nossa vida.
Ritmo ternário
A fraseologia bilaquiana guarda outra particularidade maçante: a tríade de palavras encadeadas — esquemática forma de acumulação. Certo jornalista é “o mais completo, o mais brilhante e o mais popular”. Depois de ir aos cinematógrafos, o autor se diz “derreado, tonto, moído”; e afirma, sem perceber a importuna cacofonia, que seu acompanhante “olhava, mirava, admirava, embevecido, deliciado, enlevado”. O texto ganha ritmo de modinhas e o leitor segue um bando de crianças, “lenta e ruidosa maré de frescura, de mocidade, de animação”. Surge, de repente, o perfil gerenciador de Bilac: “Administrar não é somente gerir: é também, e principalmente, assistir, acudir, prover”. Falando sobre a Revolta da Vacina, o cronista se transforma num militante ecológico: “[…] a alcatéia arrancara, torcera, espezinhara, destruíra todas as pobres árvores pequenas, que, ainda fracas e humildes, dentro de suas frágeis grades de ferro, só pediam, para crescer e dar sombra, um pouco de sol ao céu, um pouco de umidade à terra e um pouco de carinho aos homens”. O povo brasileiro, eis a irretorquível certeza do cronista, “tem uma inteligência nativa, exuberante, pronta”. E o ecologista retorna, agora para somar obviedade ao discurso monótono: “Aves e borboletas são felizes: em tendo um pedaço de céu azul, um bocado de jardim verde, um raio tépido de sol, não pedem mais nada”. Aferrado à receita medíocre, Bilac não descansa: “que vida agoniada, inquieta, sobressaltada” exclama, nesse estilo saltitante, referindo-se a Carlos Gomes; e conclui, decidido a romper drasticamente o ritmo da frase, mas preservando as rimas: “[…] numa perpétua luta com os editores, com os empresários, com os cantores, e com os credores!”.
Em certa crônica, Bilac reclama, de forma surpreendente, da “retórica que se encarrega de estragar tudo”. Concluímos, então, que ele de fato não tinha consciência da própria inabilidade.
Pequenos escritores
Canhestro no estilo, às vezes o cronista oferece informações jocosas. Sua visão do sistema literário em 1905, por exemplo, repete-se, sem grandes modificações, atualmente. Para ele, o Rio de Janeiro era
a capital de uma nação que, sobre todas as outras do continente, sempre teve a primazia em cousas da Inteligência. […] É ela que possui a literatura mais vibrante, mais original, e mais forte.
E conclui, depois desse jato de otimismo carioca, sem atinar com o absurdo:
Uma só cousa tem prejudicado essa literatura: é o círculo restrito, em que se expande acanhadamente a língua que falamos e escrevemos…
Se os nossos escritores ainda não têm trabalho fácil e vida folgada, é porque ainda não existe no país uma grande massa de leitores.
Termina o raciocínio voltando ao júbilo infundado, à comemoração dessa literatura sem leitores:
É forçoso reconhecer que só nos falta isso: expansão literária. A matéria-prima já a possuímos: temos literatura nossa, como temos arte nossa — e esta supremacia intelectual e artística, ainda não a perdemos (graças a todos os deuses!) no continente sul-americano.
Na crônica Flaubert, ao recordar viagem feita à França, em 1890, para assistir, na cidade de Rouen, à inauguração de um singelo busto do autor de Madame Bovary, Bilac revela a faceta suburbana dos nossos escritores. De Paris a Rouen, ele, Eduardo Prado, Paulo Prado e Domício da Gama ocupam quatro lugares num vagão de primeira classe com apenas oito poltronas. Nas quatro restantes, Émile Zola, Edmond de Goncourt, Guy de Maupassant e o editor Georges Charpentier. Mais presumidos que acanhados, os brasileiros só conseguem rir dos franceses. A descrição que Bilac faz é patética — ou melhor, vergonhosa, tamanha a pequenez.
Tédio
No entanto, se os textos de Bilac estão recheados de pompa pretensiosa, isto não se deve apenas ao estilo maljeitoso, mas também ao narcisismo do autor:
O noticiarista retira da mina a ganga de quartzo em que o ouro dorme, sem brilho e sem préstimo; o cronista separa o metal precioso da matéria bruta que o abriga, e faz esplender ao sol a pepita rutilante.
Entre as “pepitas”, cuja prolixidade destila enfado e bolor, há críticas e elogios à imprensa e aos políticos, ditos irônicos, traços de humor, trechos autobiográficos, descrições das causas e conseqüências da febre amarela, etc. E discurso ornamentado. Muita, muita perfumaria.
NOTA
Desde a edição 122 do Rascunho (junho de 2010), o crítico Rodrigo Gurgel escreve a respeito dos principais prosadores da literatura brasileira. Na próxima edição, Afrânio Peixoto e Fruta do mato.