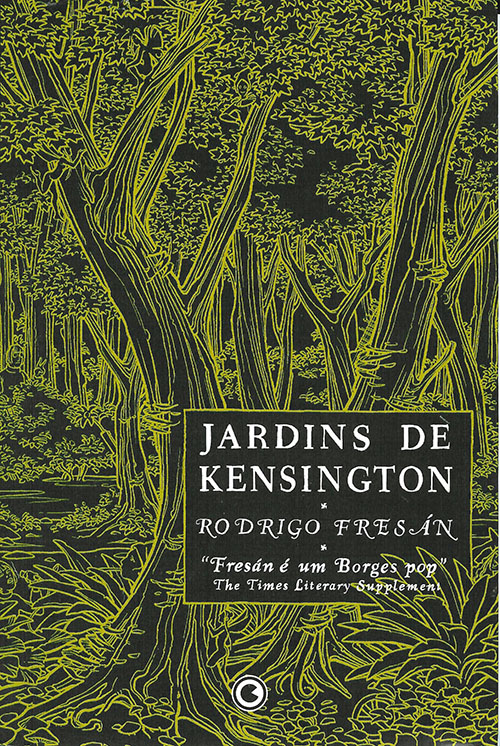Tesão. Muito tesão. Ops, talvez não devesse começar uma resenha de um livro assim, com palavras tão chulas, tão coloquiais. Afinal, este Rascunho é um jornal sério, respeitado, lido por muita gente inteligente que sabe que literatura é uma arte e, portanto, não deve ser encarada de maneira leviana. Literatura é coisa séria, seriíssima, tema de teses de mestrado e doutorado, objeto de infinitos estudos (responda rápido: há mais livros de Machado de Assis ou mais livros a respeito de Machado de Assis?), trabalho para pessoas que dedicam suas vidas aos livros e ao que está escrito neles. Enfim, boa literatura é alta literatura, não pode ser divertida.
É uma pena que muitas vezes esqueçamos que um bom livro deve ser apenas isto: divertido. Um bom livro é aquele que te prende logo nas primeiras páginas, que te agarra de uma maneira que te impede de largá-lo antes do fim, e cujo fim te deixa com um largo sorriso, um sorriso de satisfação, independentemente do final triste ou alegre. Um livro deve divertir quem o lê. Claro, cada leitor terá um nível de satisfação diferente a ser atingido, e leitores com algum tempo de estrada não se deixarão seduzir pelas fórmulas fáceis dos best-sellers ou das soluções pseudo-esotéricas dos paulos coelhos da vida. Mas como a própria França — um dos países onde mais se lê no mundo — nos mostra, até o mago pode fazer alguns milagres.
Por isso é muito, mas muito bom, quando encontramos um livro como Jardins de Kensington, do argentino Rodrigo Fresán. Mais do que uma história, Fresán celebra a própria literatura em seu trabalho. Jardins de Kensington é uma celebração ao prazer de ler e de escrever, principalmente de uma época de nossas vidas em que crianças viajávamos a mundos imaginários ou distantes para viver momentos intensos junto a nossos personagens favoritos. Na infância, ler era apenas e tão somente um prazer (e por isso amaldiçôo as malditas fichas de leitura que meu filho traz junto com todo livro que empresta da biblioteca da escola e que, em uma versão masoquista, liga o prazer a uma punição (que criança gosta de fazer fichas de leitura?)) e, à medida que ficamos velhos (mas que por medo da velhice, dizemos cultos ou experientes), nos esquecemos disso.
Jardins de Kensington é uma história de várias histórias. A história que realmente acontece ao longo de suas páginas é a de Peter Hook, um escritor inglês autor dos livros infantis de maior sucesso do mundo, os livros de Jim Yang, um garoto oriental que possui uma bicicleta com a qual pode viajar pelo tempo. Em uma noite apenas, Peter Hook conta a um garoto, Keiko Kai, algumas histórias. A principal história que ele conta é a de James Mathew Barrie, o inglês criador de Peter Pan, a quem ele nutre uma devoção quase patológica. A segunda história é a sua própria, uma história que conversa de vários modos com a de Barrie, principalmente pela semelhança de fatos e situações. A terceira é a da família que inspirou Peter Pan, ou melhor, que o moldou em sua forma final. Mas Fresán não se limita a comparar a vida fictícia de Hook à verdadeira de Barrie. O personagem de Hook, Jim Yang, em alguns momentos, aparece na vida de Barrie, sendo decisivo para o futuro de Peter Pan em pelo menos um momento. E a vida de Hook é recheada de personagens reais, como Bob Dylan, os Beatles, Marianne Faithfull, Twiggy, Andy Warhol, enfim, todo o povo que fez dos anos 60 um dos mais ricos da cultura pop mundial.
Quem foi James Mathew Barrie, ou também Jim Barrie? Em sua época, a Inglaterra do fim do século 19 e início do 20, o ocaso da época vitoriana, o escocês Barrie foi um dos responsáveis por revolucionar o teatro com a sua peça Peter Pan, ou o menino que não iria crescer. A história de um menino que não cresce conquistou o público desde a sua primeira exibição, com uma mistura de fantasia e efeitos cênicos jamais vistos no teatro até então. Para escrever a história de Peter Pan, Barrie inspirou-se primeiro na própria vontade de não crescer e depois nos cinco filhos de Arthur e Sylvia Llewelyn Davies. Barrie, que nunca teve a altura física de um adulto (refaço aqui o pedido de Peter Hook e do autor: por favor, esqueçam Johnny Deep em seu Finding Neverland), em alguns momentos parecia sim mais uma criança que um adulto, com toda a confusão que isso pudesse provocar em sua mente.
Lembranças difusas
Quem foi Peter Hook? Peter Hook era filho de Sebastian “Darjeeling” Compton-Love e Lady Alexandra Swinton-Menzies, dois filhos da aristocracia inglesa que caíram de cabeça na revolução química e de costumes dos anos 60 ingleses, chamados por lá de Swinging Sixties. Compton-Love e Swinton-Menzies tinham uma banda, a The Beaten a.k.a. The Beaten Victorians a.k.a. The Victorians (qualquer semelhança com a banda The Kinks pode ser mera coincidência), que teve sucesso fugaz e incerto, sendo mais lembrada 30, 40 anos depois, quando os 60 estavam na moda novamente. Peter Hook traz em seu nome a lembrança do bom e do malvado, de Peter Pan e de Captain Hook (Capitão Gancho). Peter teve um irmão também, Baco, que morreu aos três anos de idade. Peter também perdeu seus pais, mortos em um acidente de barco. Peter parece estar em uma grande viagem quando se lembra de sua infância, pois são lembranças difusas, cheias de pontos nebulosos e pouco claros. À sua maneira, Peter Hook também não quer crescer.
Mas como cresce, Peter Hook inventa um personagem. Jim Yang é também uma criança que não cresce, mas não porque encontra uma Terra do Nunca onde se refugiar, mas porque foge do tempo em sua cronocicleta. E como as viagens no tempo são viciantes, Jim viaja cada vez mais pelo tempo, em um frenesi crescente e alucinante, cujo fim não poderá ser dos melhores (não sabemos qual é o fim de Jim Yang; Fresán nos priva deste conhecimento). De um certo modo, Jim Yang é o alter ego de Hook que pôde escapar das garras do tempo. Com a diferença de que Yang consegue uma “droga” capaz de parar o tempo.
O que torna o livro de Fresán tão bacana? Em primeiro lugar, Fresán tem estilo, e um baita estilo pessoal de escrever. De uma maneira muito simples, Fresán consegue nos desconcertar de vez em quando. Como quando Fresán-Baco diz: “agora entendi: Deus é meio que nem esse amigo imaginário que as crianças costumam ter… só que é o modo para adultos”. Ou quando Fresán-Hook afirma: “cada fato que eu evoco é mais um passo rumo à recordação de tudo, a não poder fugir como guri todos estes anos em que me neguei a construir uma memória e, portanto, a viver minha vida”.
Em segundo lugar, Fresán faz uma defesa incontestável da literatura, mas sem pretensão alguma de preferi-la por ser “superior” às outras formas de arte. Para Fresán, “o vínculo tirânico entre o cinema e o espectador nunca estará à altura do democrático elo entre o livro e o leitor, no qual, concordo, é um outro quem escreveu, mas é você quem vai olhando a história e marcando o ritmo e o estilo enquanto vira as páginas. Vem daí a quase inevitável superioridade de quase todo bom romance sobre um bom filme inspirado nele: defendendo o livro, defendemos, na realidade, nosso direito de escolher a forma e o modo como preferimos que nos contem uma história”. Fresán defende a liberdade do leitor, que cada um construa a sua história, o seu livro, e não que a história já venha pronta.
Em terceiro lugar, Fresán é capaz de ironizar a seu próprio respeito, quando diz que aquele não será um livro inverossímil em que o autor escreve em primeira pessoa o delírio de uma noite inteira que se esparrama por quinhentas páginas. Fresán-Hook afirma que este não será o seu livro, mas já passamos da página 300 e ainda há chão a percorrer. E há diversas tiradas e sacadas ao longo do caminho que nos fazem sorrir com uma alegria infantil. Há tantas que querer contá-las aqui tiraria o gosto pela leitura. E se leitura é para ser gostosa, paro de falar sobre o livro daqui a pouco.
E há outros pontos, tantos, que tornam a obra de Fresán uma grande diversão. Com habilidade, ele mistura o real ao fictício e ao fictício do fictício (Jim Yang interferindo na vida de personagens reais que interferem em personagens fictícios), coloca Bob Dylan vomitando nos bonecos de Hook, Warhol sendo convidado para pintar a capa do disco dos The Victorians, cujo líder odeia a música A day in the life dos Beatles, que se inspiraram em alguma parte em Peter Pan, que era um personagem de Barrie, que recebeu a visita de Yang. E tudo isso Fresán faz sem parecer um maluco alucinado sob efeito de drogas. Esta é a grande beleza de seu trabalho, ser psicodélico sem parecer um completo idiota.
Enfim, um grande livro com várias belas histórias, costuradas entre si com habilidade, sem que nos percamos em nenhum instante delas. Tomara que os outros livros dele também sejam assim.