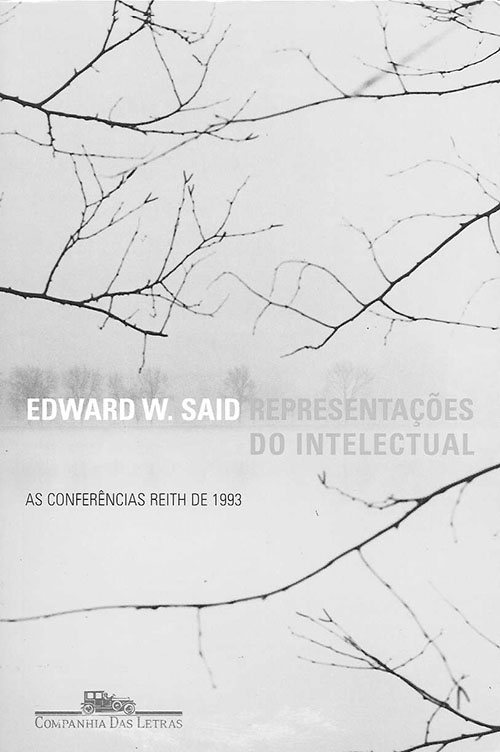De que servem, em nosso mundo prático e regido por especialistas, os intelectuais? Num início de século dominado pela mentalidade profissional, os intelectuais, sujeitos preocupados com as grandes questões universais, ainda têm alguma função? Pode-se perguntar mais: será que eles ainda existem, ou são apenas — como sombras de Jean-Paul Sartre, de Bertrand Russell, de Susan Sontag, de Theodor Adorno — fantasmas de um teatro cujas portas foram fechadas para sempre?
O dicionário define o intelectual como um indivíduo que tem gosto pelas coisas do espírito e da inteligência. A definição é vaga e, se inclui um imenso número de candidatos, pode servir também para excluir a maioria deles. Daí a importância da resposta que nos é dada pelo palestino, naturalizado norte-americano, Edward W. Said (1935-2003). Uma resposta não apenas clara, mas contundente.
Os intelectuais não só continuam a existir, Said afirma, como passaram a ocupar, em nosso cotidiano gerido pelo profissionalismo e pela especialização, uma posição crucial. Talvez o único lugar, ao lado daquele habitado pelos grandes artistas, que ainda não foi ocupado pelo pragmatismo e pelos valores da competência.
Edward Said defendeu essas idéias dez anos antes de falecer, como palestrante convidado das prestigiadas Conferências Reith — série de programas radiofônicos, inaugurada por Bertrand Russel em 1948. Doze anos depois, chegando ao Brasil agora na forma de livro, em tradução de Milton Hatoum, suas conferências revelam um surpreendente caráter premonitório. De alguma forma secreta, elas previam o crescimento desenfreado do fanatismo religioso e a expansão do obscurantismo pelo planeta, eventos expressos em episódios trágicos como o 11 de setembro e as invasões do Afeganistão e do Iraque.
Os velhos intelectuais, sábios e independentes, ainda podem mesmo existir? — se pergunta Said. E, se ainda existem, será que eles ainda conseguem preservar o espírito “amador” — quer dizer, sem algemas institucionais e compromissos com escolas e métodos — que sempre os caracterizou? Um tanto perplexo, Said recorda as teses do intelectual norte-americano Russell Jacoby que, no livro Os últimos intelectuais, espécie de lamentoso epitáfio, lastima que os intelectuais norte-americanos tenham sido substituídos por uma geração de “técnicos de sala de aula, altaneiros e impossíveis de compreender”. Esses “profissionais” do pensamento, argumenta Jacoby em seu ensaio, estão comprometidos com comissões acadêmicas, patrocinadores privados e agências governamentais e só por isso, e não porque sejam maus ou preconceituosos, não conseguem mais dispor de liberdade para pensar.
No entender de Russel Jacoby, prossegue Said, os intelectuais de hoje fazem um trabalho frio que, em vez de promover o debate e a controvérsia, como é sua função clássica, se limita a “estabelecer reputações e intimidar os não-especialistas”. De fato, todos nos sentimos receosos diante dos diagnósticos, proferidos em linguagem técnica e inacessível, por mestres, doutores e pós-doutores. É comum o sentimento de que, antes de iluminar, eles nos amordaçam; e de que seus argumentos, em vez de expandir nosso pensamento, nos deixam sem resposta.
Mas Said não é um radical, e nem um pessimista, como Jacoby. Ele reconhece que “ser um intelectual não é de jeito nenhum incompatível com o trabalho acadêmico” — e aqui se recusa a compartilhar os preconceitos conservadores contra a universidade. A grande ameaça ao intelectual hoje, distingue Said, não é a vida acadêmica, ou a fuga para os subúrbios e para o interior (quando a vida intelectual sempre foi tida como uma experiência urbana), e nem mesmo a imprensa com suas exigências práticas de concisão, agilidade e clareza. “É, antes de tudo, uma atitude, que vou chamar de profissionalismo”, ele resume.
Por profissionalismo, Said entende a atividade intelectual em horário comercial, preocupada em não fugir dos paradigmas dominantes, ou dos limites já aceitos, apreensiva em não ferir hierarquias e princípios de autoridade intelectual. E que, assim, se limita a buscar o “não controverso”, o “apolítico” e o “objetivo”. Tal idéia “profissional” do pensamento, ele diz, apanha os intelectuais numa rede de pressões e apreensões que só os paralisa.
Para livrar-se da armadilha da competência, Said sugere uma opção pelo que ele chama de “amadorismo”. Ou seja, propõe que o intelectual passe a escrever pensando não em lucros ou recompensas, títulos ou promoções; mas, sim e apenas, em sintonia com o desejo de abrir novos horizontes. Isso significa, na prática, a recusa de estar preso a uma especialidade. A rejeição dos limites impostos pelas idéias e valores dominantes em qualquer profissão.
A grande pressão que os intelectuais sofrem hoje, Said entende, é a especialização. “Hoje, quanto mais elevado se estiver no sistema educacional, mais se é limitado a uma área de conhecimento relativamente restrita”, ele lamenta. Nada contra o valor e a importância do rigor, é claro, mas sim contra a possibilidade de que uma aposta cega na idoneidade — e no formalismo técnico — possa levar o intelectual “a perder de vista qualquer coisa fora do seu campo imediato”. E, assim, o leve a “sacrificar a cultura geral em prol de um elenco de autoridades e idéias canônicas”. Em outras palavras: quanto mais especializado se torna o conhecimento, mais perspectivas e chances de conhecimento ele exclui.
Edward Said — que, embora nascido em Jerusalém, se naturalizou norte-americano e lá fez sua vida intelectual, como acadêmico, ensaísta e crítico literário — refere-se, em particular, aos efeitos dessa mudança na vida intelectual da América. Nos EUA de hoje, ele argumenta, intelectuais independentes como Noam Chomsky, Gore Vidal e a recém-falecida Susan Sontag parecem solitários e, muitas vezes, pouco realistas, e até irreais. Tendem a ser tomados como românticos a quem escapa a correta apreensão da realidade. “Quero insistir no fato de o intelectual ser um indivíduo com um papel público na sociedade, que não pode ser reduzido simplesmente a um profissional sem rosto, um membro competente de uma classe, que só quer cuidar de suas coisas e de seus interesses”, ele escreve.
Contra esse intelectual “profissional”, que se protege nas instituições especializadas e que se limita à satisfação de ser lido por seus pares e aceito por seus avaliadores graduados, Said defende a existência de um intelectual “universal” — à moda de um Sartre, por exemplo — para quem a competência prática e o reconhecimento da comunidade científica não são tudo.
Ao contrário da idéia em geral difundida a respeito dos intelectuais, de que sua função é a de administrar e apaziguar dúvidas e conflitos, Said acredita que o intelectual não deve atuar para que o público se sinta bem, mas sim para perturbá-lo. Para isso, deve forçar continuamente a abertura de novas perspectivas de encarar o presente. Ainda hoje, Said prossegue, o modelo do intelectual deve ser Bazárov, o lendário personagem do escritor russo Turguêniev no romance Pais e filhos. Um indivíduo que “desafia a rotina, atacando a mediocridade e os clichês, reivindicando novos valores científicos e não sentimentais que parecem ser racionais e progressistas”.
Outro caso exemplar oferecido pela literatura, a seu ver, é Stephen Dedalus, o personagem de James Joyce em Retrato do artista quando jovem, “primeiro romance em língua inglesa em que a paixão de pensar é apresentada de forma plena”. Tanto ele, como Bazárov, são sujeitos que podem parecer um pouco insensatos, ou até lunáticos; mas que, indiferentes a essas suspeitas, não se deixam limitar pela idéia da eficiência, nem aceitam limites para seu pensamento.
É claro, reconhece Said, todo intelectual tem seus laços de nacionalidade, vem de uma cultura particular, carrega os limites de sua formação pessoal e atua, sempre, em um mundo concreto. Ainda assim, agir como um intelectual, ele enfatiza, não é ser contra todos os governos, não é jamais se perfilar na defesa de causas e idéias, ou deixar de interferir na realidade imediata. Mas, sim, ele diferencia, agir contra “as meias-verdades”.
O que seria isso hoje? Simples: combater obstinadamente idéias que se proliferam na mídia, idéias vagas e vazias tais como “o Islã”, “a esquerda”, “os americanos”, ou qualquer outra tentativa de conter um punhado de diferenças dentro de um único rótulo. Tais idéias fechadas, que parecem explicar quando, na verdade, obscurecem, argumenta Said, são inaceitáveis para qualquer intelectual. Elas, na verdade, são obstáculos ao trabalho intelectual e ao exercício do pensamento.
Daí também, ele prossegue, a importância de recusar o papel do “homem que sabe tudo”, normalmente atribuído ao intelectual — e que pode ser resumido num bordão comum como “Freud explica”. Ao contrário, o intelectual deve seguir a pista deixada por Virginia Woolf no belo ensaio Um teto todo seu, sobre as mulheres escritoras: ser capaz de mesclar “a vulnerabilidade com a argumentação racional”. Pensar, sim, mas sem abdicar da dúvida.
É uma posição difícil, mais difícil ainda em um século dominado pela expansão das grandes religiões monoteístas, que se baseiam em livros sagrados revelados e, portanto, em verdades absolutas. Um intelectual, em vez de ceder à tentação oferecida pelas religiões, diz Said, deve conservar uma posição laica, expressa na mistura inabalável de ceticismo e contestação. Só investindo na instabilidade e na incerteza, ele diz, só agindo como leigos em constante procura da verdade e sempre insatisfeitos com o que encontram, os intelectuais poderão corresponder a seu destino de “inventar novas almas”.
Para atingir essa independência, sugere Said, o intelectual deve adotar a postura do exilado — e, para isso, não é necessário que ele viva efetivamente no exílio. Até porque o exilado não vive nem em um lugar, nem em outro, nem no destino, nem na origem, ele está desterrado entre os dois. Esse espaço intermediário, esse “entre”, sugere Said, é o lugar por excelência do intelectual. Trata-se de uma “terra de ninguém” que, se o isola e até angustia, pode lhe fornecer a coragem necessária para falar, escrever e agir.
Mesmo que não viva a experiência concreta do exílio, revela Said, o intelectual deve empenhar-se para “não se sentir em casa em sua própria casa”. Sua proposta é a de que ele passe a agir como um náufrago. Não um náufrago à moda clássica, como um Robinson Crusoe, cujo objetivo era colonizar a pequena ilha em que se abrigou, quer dizer, torná-la semelhante à sua origem. Mas um náufrago como Marco Pólo, a quem o sentido do maravilhoso nunca abandona e que se torna, assim, um eterno viajante.
Estar no exílio é situar-se à margem e, assim, se ver obrigado sempre a inventar um chão. Exige uma aposta no movimento contínuo, ou, como diz Said, obriga a “ver as coisas não apenas como elas são”, como fazem os pragmáticos e os profissionais, mas também “como elas se tornaram o que são”. Agindo desse modo, pensa Said, o intelectual se torna “necessariamente irônico, cético, e até mesmo engraçado, mas não cínico”. Não ao cinismo, mas também não à pureza. Em outras palavras: encarar o destino do exilado não como uma privação ou algo a ser lastimado, mas “como uma forma de liberdade”. Liberdade, ele reafirma, que não exclui, é claro, o compromisso.
Edward Said procura se espelhar em intelectuais americanos como Edmund Wilson, Jane Jacobs, Daniel Bell, Lionel Trilling, homens e mulheres que se empenharam em conservar “uma alma incorrigivelmente independente que não responde a ninguém”. Crítico literário de primeira grandeza, Said se refere, sempre, ao caso exemplar da literatura. Até porque escritores costumam ser vistos, ainda hoje, como espécies tardias do intelectual clássico. Numa situação grave, um artigo assinado por José Saramago, por Umberto Eco, por Vargas Llosa, por Peter Handke, por Carlos Fuentes sempre tem imensa repercussão. Supomos, em geral, que escritores sempre têm algo a dizer. Isso os coloca em um lugar insubstituível.
Mas, lamenta Said — e o transcorrer de uma década deixou isso ainda mais claro — também a literatura foi sufocada pela especialização. Ela lançou os escritores e os estudiosos de letras em um mundo cada vez mais cifrado, cada vez mais regido pelo formalismo, pela teorização e pela opacidade. Como resultado, os escritores, em geral, não conseguem mais “ver o conhecimento e a arte como escolhas e decisões, compromissos e alinhamentos, mas somente em termos de teorias ou metodologias impessoais”, Said lastima.
É a grande ameaça que, no entender de Edward Said, põe em xeque não só a literatura, mas a arte em geral: o risco de ceder ao impessoal. Ligada sempre à idéia de uma autoridade intelectual, a especialização mata, como ele diz, “os prazeres do arrebatamento e da descoberta”. Especializando-se, o intelectual evita se desviar de seus pares, receia sempre ser tomado como incompetente ou aventureiro, e faz tudo o que pode para não colocar em risco seu prestígio pessoal.
Surge então, Said lamenta, uma casta de intelectuais conformistas. “O conformismo é tão nocivo quanto o autoritarismo”, ele compara. O problema não é querer derrubar a autoridade, ou o poder, adverte, alertando para arroubos românticos e inúteis. Mesmo que não deseje isso, “o intelectual sempre se refere à autoridade, seja como um bajulador profissional, ou como uma consciência crítica”. Contudo, quando ele restringe seu mundo à esfera da especialização, logo se vê retido na malha do “jargão interno”, isto é, da linguagem cifrada para peritos, fora da qual tudo se assemelha a lugar comum e repetição inútil.
Edward Said rememora, a propósito, uma conversa que teve, ainda em meados dos anos 60, com um veterano piloto na guerra do Vietnã. Sem entender muito bem qual tinha sido sua função no front, Said lhe pediu que fosse mais claro. “O que você realmente fazia na força aérea?” — insistiu. Usando a couraça do jargão interno, o homem se limitou a dizer: “Aquisição do alvo”. Trinta anos depois, Said rememora: “Demorei mais alguns minutos para perceber que ele era um bombardeiro, cujo trabalho, claro, era bombardear”. Contudo, como o sujeito revestia seus atos de uma linguagem profissional, tudo parecia mais limpo e mais simples.
A proposta de Edward Said é a ultrapassagem da linguagem — e da mentalidade — profissional. “Não me considero limitado pelo meu trabalho profissional em literatura, que me excluiria de assuntos de política pública só porque estou autorizado apenas a ensinar literatura moderna européia e americana”, argumenta. Mas, a seu ver, existem outros obstáculos a vencer. Ele entende que o intelectual, se quer mesmo honrar esse nome, “deve se envolver numa disputa constante contra todos os guardiões de visões ou textos sagrados, cujas depredações são enormes e cuja mão pesada não tolera o desacordo e, certamente, nenhuma diversidade”. Said entende que não pode haver debate verdadeiro com autoridades que clamam o direito secular de defender um decreto divino.
Retornando à grande tradição de intelectuais como Sartre, Adorno e Russell, Edward Said defende a idéia de que o intelectual deve, sempre, se referir a valores universais — a razão, os direitos humanos, a liberdade. Mas isso também não quer dizer, ele alerta, que ele deva se comportar como dono da verdade. Até porque as circunstâncias o obrigarão, sempre, a aceitar, e a saber lidar, com as próprias limitações. “O objetivo não é mostrar a todo mundo que estamos certos, mas antes tentar induzir uma mudança no clima moral”, ele diferencia.
Entre as limitações inerentes a qualquer intelectual (a qualquer sujeito) estão as particularidades de cada um. Por catorze anos, Said foi membro independente do Conselho Nacional Palestino (o parlamento palestino no exílio). Apesar disso, recusou sempre todas as ofertas que recebeu para ocupar posições oficiais, e nunca se associou a qualquer partido, ou facção palestina. E isso simplesmente porque sempre preferiu “a dupla autonomia do outsider e do cético à qualidade vagamente religiosa revelada pelo entusiasmo dos convertidos, ou dos verdadeiros crentes”. Ele continuou, até o fim, a recusar a conversão e a crença em qualquer tipo de “deus político”. A seu ver, o direito à dúvida deve ser não só preservado, como valorizado.
Contra as certezas absolutas e as posições fechadas, Said entende que é função do intelectual habitar o espaço da incerteza e, em conseqüência, da auto-ironia. Conservar o direto à hesitação e à perplexidade. “O aspecto mais complicado de ser um intelectual é representar o que se professa por meio do trabalho e de intervenções, sem se enrijecer numa instituição ou tornar-se uma espécie de autômato agindo a mando de um sistema, ou de um método”. Enfim, ele diz, ser capaz não só de praticar, mas também de suportar, o peso da liberdade. Não é nada fácil ser livre, nem mesmo para um homem de idéias.
* Texto publicado originalmente no site www.nominimo.com.br