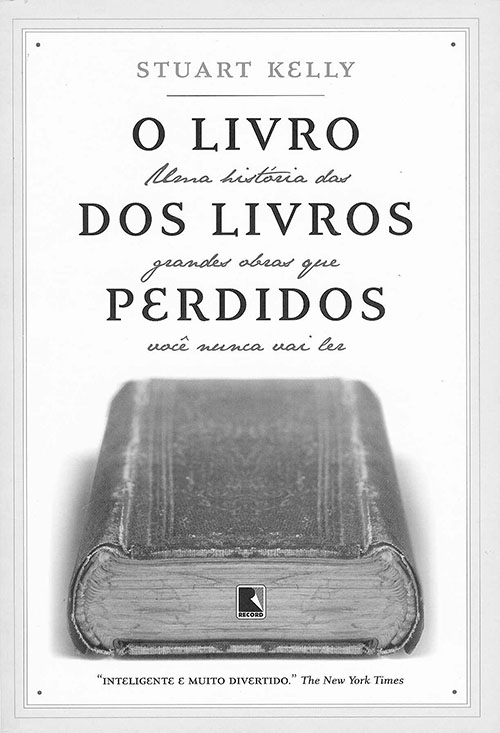A obra de Stuart Kelly, O livro dos livros perdidos — uma história das grandes obras que você nunca vai ler — que, na tradução brasileira, perdeu o adjetivo incomplete antes de history —, poderia ser resumida pela lúcida constatação de Paul Valéry: “Os livros têm os mesmos inimigos que o homem: o fogo, a umidade, os bichos, o tempo e o seu próprio conteúdo”.
De fato, a história dos livros que se perderam é a nossa própria história, pois somos igualmente finitos, frágeis. Segundo Kelly, nossa luta contra o tempo e a inevitável degradação de tudo o que nos circunda, incluindo nosso corpo — ou seja, a epopéia da transformação e/ou preservação da matéria pelo homem —, possui um final “desolador”, apocalíptico, mas que merece ser citado, pois é exatamente o que a ciência contemporânea prevê:
A coroa do nosso sol se expandirá no final, engolfando Mercúrio, erodindo Vênus. Em milhares e milhares de anos, a Terra vai queimar como um pedaço de papel insignificante. […] Talvez então, como numa história de ficção científica há muito tempo perdida, a humanidade futura tenha de fugir para um planeta mais seguro, úmido e rochoso, como uma Arca de Noé de conhecimento. Isso apenas adiará o inevitável. Toda a matéria será espalhada no fim como uma suave poeira de estrelas, ou se concentrará no interior de um empanturrado buraco negro. Esta é a norma. É a regra. Inescapável.
Se os homens morrem, se tudo terá um fim, por que seria diferente com os livros? Os estudos de Kelly, entretanto, não se restringem às obras cujos suportes se deterioraram, carregando, no âmago de sua destruição, milhões de palavras que, unidas segundo a lógica deste ou daquele escritor, poderiam, talvez, tornar nossas vidas melhores. As pesquisas desse crítico de literatura do jornal Scotland on Sunday abarcam também outros tipos de perecimento, com certeza menos dignos.
Obscurantismo
Um caso emblemático é, sem dúvida, o dos escritos do explorador, tradutor, lingüista e agente secreto sir Richard Francis Burton, que ocupou, dentre outros cargos diplomáticos, o de cônsul inglês em Santos, no Estado de São Paulo, e de observador da Grã-Bretanha na Guerra do Paraguai. Falecido em 1890, sua viúva, Isabel Arundell, uma católica fanática, encarregou-se de queimar diários, manuscritos, cartas e a tradução de Burton do Jardim perfumado do xeque Nefzaoui, obra erótica da qual Burton havia encontrado um exemplar árabe em sua última viagem a Argel. A tradução dos poemas de Caio Valério Catulo se salvou, mas a viúva teve o cuidado de eliminar as “impropriedades”. Depois que Isabel morreu, sua irmã queimou outros dezoito manuscritos. Kelly nos oferece poucas páginas sobre essa extremosa viúva, e, de certa forma, tenta inclusive preservá-la. Mas os detalhes piromaníacos podem ser lidos na magnífica biografia Sir Richard Francis Burton, de Edward Rice, publicada no Brasil, em 1991, pela Companhia das Letras. Superstição ou moralismo, não será demais salientar que Isabel obedecia às ordens de seu confessor, padre Pietro Martelani.
As Obras completas de Ésquilo sofreram a mesma sorte, mas não se tratou de uma fogueira doméstica. A única cópia existente, trazida de Atenas, estava guardada na Biblioteca de Alexandria, queimada em 640 por Amrou Ibn El-Ass, para quem “aqueles que discordam da Palavra de Deus são blasfemos, aqueles que concordam, supérfluos”.
O fogo e a censura em nome de dogmas ou certezas particulares — políticas, morais, religiosas — diminuem nossa humanidade. O que dizer, por exemplo, de William Gifford, editor e testamenteiro de lorde Byron? Ele queimou as memórias do poeta, justificando-se com palavras vazias, que jamais saberemos quanto guardam de verdade: as Memórias serviam “apenas para o bordel e teriam condenado Byron à infâmia eterna”. E de Ibn Hisham, o gramático responsável por preparar a edição definitiva de Sirat Rasul Allah, a biografia de Maomé? Os registros colhidos por Ibn Ishaq, supostamente verídicos, foram recortados e reescritos por Hisham, que, segundo Stuart Kelly, removeu as informações que seriam ofensivas aos muçulmanos ou que pudessem ir contra o Corão. Escrúpulos editoriais escondem, às vezes, a sanha de um inquisidor.
A história mais triste, no entanto, é a de Nikolai Gógol. Sob influência do intolerante padre Matthew Konstantinovsky, ele queimou, uma a uma, as folhas do manuscrito das partes II e III de Almas mortas. Foi sua penitência por ter publicado a primeira parte. Kelly nos diz que quando Gógol acabou, fez o sinal da cruz e caiu em prantos. A partir daquele momento, não se alimentou mais. Morreu nove dias depois.
Erudição e clareza
Mas O livro dos livros perdidos não traz apenas relatos dramáticos. Stuart Kelly discute também o tema eletrizante das autorias duvidosas: Hesíodo teria mesmo escrito a Teogonia e Os trabalhos e os dias? A II Carta aos Tessalonicenses foi realmente escrita por são Paulo? Ou nos oferece, a cada capítulo, um verdadeiro périplo de erudição: dos nove volumes escritos por Safo, o único poema intacto encontra-se em Sobre o sublime, de Longino. Hawthorne e Melville desprezaram a mesma história, Agatha, condenando a sinopse ao desaparecimento antes mesmo de ser transformada em livro. Num gesto irresponsável, John Stuart Mill deixou o manuscrito do primeiro volume de A história da Revolução Francesa, de Thomas Carlyle, sob a guarda de sua namorada, Harriet Taylor. A empregada desta confundiu os papéis com recortes velhos e lançou tudo ao fogo. Carlyle foi obrigado a reescrever o volume, pois não possuía cópias. O poeta Samuel Taylor Coleridge parece ter sofrido de uma enigmática doença — scriptus interruptus —, à qual prefiro dar o nome de síndrome de procrastinação.
Kelly, entretanto, erra ao dizer que “é vã a busca por uma brochura atual de Torquato Tasso em qualquer livraria moderna”. A afirmação talvez represente a realidade da Grã-Bretanha, mas não serve às livrarias brasileiras, onde podemos adquirir Jerusalém libertada na tradução de José Ramos Coelho — uma edição, aliás, extremamente cuidadosa.
Entre tantos livros perdidos, Kelly semeia um pouco de esperança nos leitores, ao contar sobre as obras encontradas inesperadamente, como o papiro, descoberto em 1911, contendo A vida e a raça de Eurípides, escrita “por um tal de Sátiro”, ou a comédia melodramática de Cervantes, Os tratos de Argel, reencontrada no século XVIII.
A limpidez do estilo de Stuart Kelly — que confere ao livro um didatismo raro, quando comparado às poucas obras de divulgação cultural escritas por brasileiros — não deixa de lado argumentações que transitam do poético à reflexão filosófica. Ao imaginar a sinuosa jornada de elaboração dos livros e o terrível destino de algumas dessas obras, talvez desaparecidas para sempre, ele completa: “Para aqueles de quem não resta sinal, este livro é uma oferenda. Porque nos juntaremos a eles no fim”.
Essa perfeita noção, às vezes melancólica, da sua própria finitude, talvez seja o elemento que permite ao autor manter uma visão sempre equilibrada. Ele não se entrega a um enfadonho lamento pelos livros perdidos, mas tece hipóteses, esquadrinha o passado, busca pistas, enamora-se da cultura, apaixona-se sem perder a lucidez. O que desapareceu nos diminui, sem dúvida, mas a capacidade inventiva do homem jamais deve ser esquecida. Comentando sobre a possibilidade da existência de Homero e de ele ter escrito uma comédia, Margites, Stuart Kelly conclui:
Na ausência de uma comédia do maior poeta de todos os tempos, sucessivas gerações tiveram a liberdade de criar comédias sarcásticas, sentimentais, caprichosas, sérias, gentis e de humor negro, inteligentes e obscenas, vulgares e misteriosas. A explosão de novas formas pode fazer jus a uma extinção.
Cercando o objeto de seu estudo, Kelly tenta dar vida àquilo que se extinguiu. Ainda que não nos ofereça nem um arremedo das obras, esse método de ensaio concede aos leitores o panorama capaz de aprimorar seus sonhos — dá fundamento à nossa imaginação:
Uma interpretação não filtra versões da história para destilar alguma verdade inalienável; ela duplica o passado no presente. Assim como as tentativas da ciência de clonar espécies extintas, o antigo DNA é fundido numa célula contemporânea e adotado por uma matriz adequada. O leitor recria o escritor em seu próprio mundo, dele ou dela.
Âncoras do mundo
Durante a leitura de O livro dos livros perdidos lembrei-me, repetidas vezes, de fatos que me impressionam desde o primeiro contato que tive com Raízes do Brasil, do venerável Sérgio Buarque de Holanda:
Já em 1535 se imprimiam livros na Cidade do México. […] Data de 1584 a autorização para se estabelecer oficina impressora na capital peruana. […] Em todas as principais cidades da América espanhola existiam estabelecimentos gráficos por volta de 1747, o ano em que aparece no Rio de Janeiro, para logo depois ser fechada, por ordem real, a oficina de Antônio Isidoro da Fonseca.
Penso nos livros que não desapareceram, mas que jamais foram publicados, não por uma opção pessoal do autor, mas por um silêncio imposto. A história dos livros perdidos no Brasil é a história do nosso atraso, da falta de civilização que nos obriga a, até hoje, ler, por exemplo, as obras completas de Plutarco em espanhol, inglês ou francês. No que se refere a esse e a tantos outros livros, os leitores monolíngües do Brasil devem usar o adjetivo, citado por Stuart Kelly, com que Goethe se referia ao dramaturgo Menandro: “Inatingível”.
Fechamos O livro dos livros perdidos desejando que, no futuro próximo ou distante, ao menos uma parte desse tesouro que nos foi roubado — por irresponsáveis, criminosos, idiotas, déspotas ignorantes ou fanáticos religiosos — possa ser encontrada, possa ser lida.
Graças a Stuart Kelly, partimos em busca dos vestígios de parcela do que o homem já produziu e daqueles que se aventuraram antes de nós, mas cujas pequenas vitórias se perderam. As palavras escritas têm, ainda que imperfeitamente, testemunhado essa história de lutas — a permanente batalha do viver. Bem ou mal, no calor da hora ou com indesculpáveis atrasos, sempre presas à fragilidade da argila, do papiro, do pergaminho, do papel, do disquete, do CD ou de uma impalpável webpage, elas lutam para se perpetuar como âncoras do nosso mundo. Mas o que as gerações futuras poderão ler do que hoje produzimos ou estudamos? Quais, dentre nós, ou dentre os que hoje são cultuados pela mídia, desaparecerão? Eis o que o livro de Stuart Kelly principalmente nos ensina: que toda empáfia é vã.