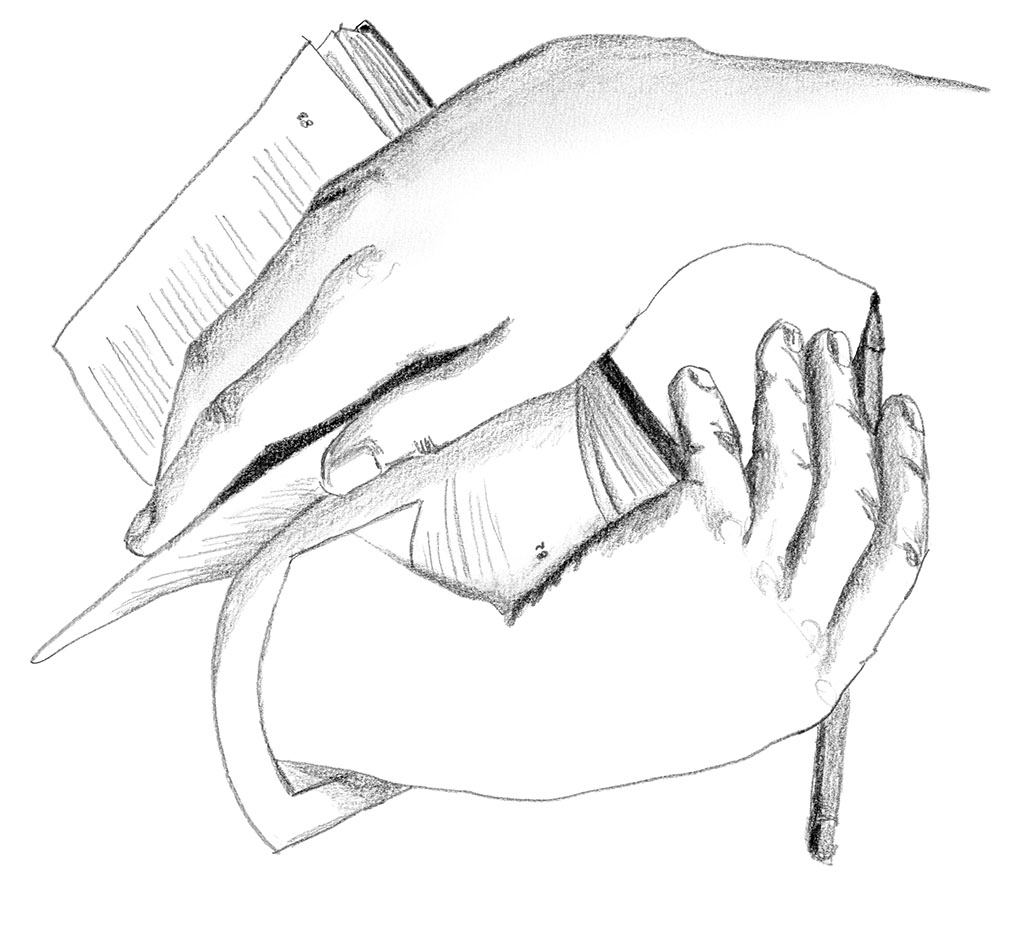Boa parte da literatura brasileira contemporânea presta um desserviço à leitura. Os autores não estão preocupados com os leitores, mas apenas com a satisfação de sua vaidade intelectual. Escrevem para si mesmos e para um ínfimo público letrado e pretensamente erudito, baseando as narrativas em jogos de linguagem que têm como único objetivo demonstrar uma suposta genialidade pessoal. Acreditam que são a reencarnação de James Joyce e fazem parte de uma estirpe iluminada. Por isso, consideram um desrespeito ao próprio currículo elaborar enredos ágeis, escritos com simplicidade e fluência. E depois reclamam que não são lidos. Não são lidos porque são chatos, herméticos e bestas.
Usei as palavras acima em uma entrevista concedida a um jornal carioca no ano passado, quando fui injusto e deselegante com diversos autores brasileiros de ficção que não se encaixam no perfil descrito. Minha generalização, no entanto, foi retórica, estratégica. Tinha como objetivo levantar a discussão sobre a formação de um público leitor no país e contestar o predomínio de uma parte da crítica acadêmica que ainda vê na anacrônica experimentação e em conceitos ligados aos formalistas russos do início do século passado os valores supremos do texto literário.
Como disse naquela entrevista, são os doutores universitários (e me incluo na lista) que prejudicam a formação de um público leitor no país. A linguagem da academia é produzida como estratégia de poder. Quanto menos compreendidos, mais nossos brilhantes professores se eternizam em suas cátedras de mogno, sem o controle da sociedade. E isso se reflete na literatura.
Em recente polêmica envolvendo uma crítica da professora Beatriz Resende ao seu último livro, o escritor João Ximenes Braga desabafou: “Críticos de cinema e música entendem que há espectadores e ouvintes com desejos diversificados. Chegamos aos livros e, danou-se, os acadêmicos e certos críticos que sempre falam em ‘a literatura’ com artigo definido, como se houvesse um único cânone a ser seguido, não fazem cerimônia em dizer que o leitor que não os obedece é burro ou pouco exigente”.
Braga pondera que, pela premissa da crítica brasileira, dificilmente haveria uma versão brasileira contemporânea de fenômenos de qualidade e popularidade como o inglês Nick Hornby e o americano David Sedaris. Segundo ele, certos críticos locais os matariam no nascedouro e trucidariam sua linguagem simples, pois negam a possibilidade de uma literatura que não seja dirigida a uma casta de leitores que habita uma torre de marfim.
Concordo com ele. É fácil perceber que grande parte da nossa ficção é elitista e pretensiosa. Os autores (estou novamente generalizando de propósito) não se preocupam com o principal, que é contar uma história. Alguns livros nem história têm, limitando-se ao já mencionado experimentalismo lingüístico.
Isso não significa, no entanto, que não sejam boa literatura. Pelo contrário, alguns são obras de arte de relevante valor. Só não são acessíveis. Eu, por exemplo, leio esses autores, mas tenho doutorado em Literatura. Aliás, isso é parte do problema: a academia e uma elite leitora convencionaram que só tem valor aquilo que está na elipse, que força o leitor a encontrar sentido onde poucos conseguem enxergar. Por essa premissa, o que é fácil de ler não tem valor literário. E quem discorda dela é taxado de superficial.
Compromisso narrativo
Voltemos, então, à injustiça que cometi. Quero citar alguns autores que defendem o retorno ao compromisso narrativo e não se encaixam no perfil de herméticos. Um deles, o jovem Rodrigo Lacerda, deixou isso claro em entrevista recente a este jornal (Rascunho 115): “Busco uma história bem contada, isto é, aquela que constrói um fluxo envolvente e cujas situações transmitem eficientemente os dramas dos personagens, estabelecendo contato emocional com o leitor”.
A definição de Lacerda é primorosa e, como ele, há diversos escritores brasileiros que enveredam pela mesma estratégia. Fernando Molica, Adriana Lisboa, Tatiana Salem Levy, Homero Senna, Edney Silvestre, Bernardo Carvalho, Cristovão Tezza, Livia Garcia-Roza, Arnaldo Bloch e Sérgio Rodrigues estão entre eles. E me perdoem todos aqueles que não mencionei.
Concordo que cada um escreva como pode, como diz o André de Leones. Mas alguns podem mais do que os outros. O que proponho não é desvalorizar os autores que seguem a verve intelectual da crítica especializada, muito menos desarticular seus grupos de influência que se eternizam em elogios mútuos (e, às vezes, justos) pelos cadernos de cultura do país. O que desejo é apenas abrir espaço para um outro tipo de literatura, cuja proposta de retorno ao compromisso narrativo inclua mais um conceito demonizado pela crítica: o entretenimento.
Para os doutores da academia, entreter significa passar o tempo. É um termo pejorativo, aviltante, usado para diminuir uma obra. Mas não é o que ele significa para quem se envolve com um livro e não consegue largá-lo. Em literatura, entretenimento é sedução pela palavra escrita. É a capacidade de envolver o leitor, fazê-lo virar a página, emocioná-lo, transformá-lo.
É esse o conceito de entretenimento que defendo para a ficção brasileira. Tenho a impressão de que todas as outras artes já o utilizam dessa forma, mas a literatura ainda parece padecer da velha dicotomia entre o erudito e o popular. O paradigma do biscoito fino é uma falácia de quase cem anos na cultura deste país. É o argumento da exclusão. São os brioches da nossa literatura, difundidos pelas Marias Antonietas encasteladas na linguagem empolada do hermetismo. Mas a guilhotina vai chegar.
Ao contrário do que apregoaram certos apocalípticos, a popularização da tecnologia valorizou a escrita e, portanto, aumentou o interesse pelo texto, pela palavra. Há leitores neste país, mas é preciso respeitá-los. É preciso produzir narrativas que não sejam meros exercícios de egocentrismo e/ou missivas elípticas endereçadas aos pares. Escrevemos para sermos lidos, o que deveria ser óbvio, mas parece um pecado mortal no sacro universo de nossa literatura. Acredito que precisamos de livros de ficção que sejam acessíveis a uma parcela maior da população. E isso não significa produzir narrativas pobres ou mal elaboradas. Escrever fácil é muito difícil, já ensinava o ululante Nelson Rodrigues.
Terror entre escritores
Minhas reflexões não enveredam pela negação das qualidades e da diversidade da literatura brasileira, mas por uma discussão sobre a formação de um público leitor no país. Mesmo quando classifico boa parte dos autores contemporâneos como chatos, herméticos e bestas, faço-o do ponto de vista da disseminação da leitura, não da análise estética, embora esta última esteja intrinsecamente ligada à minha crítica.
Não se trata de colocar o desejo soberano de ser lido na origem do processo criativo. Mas de entender por que não há espaço para aqueles que têm tal desejo. A literatura brasileira contemporânea tem poucos autores dispostos a contar uma boa história, sem a preocupação de produzir experimentalismos e jogos de linguagem, mas eles convivem com o receio de serem arbitrariamente rotulados como superficiais.
Apesar da tão apregoada diversidade da prosa nacional, a crítica acadêmica dividiu-a em pólos antagônicos. Quem não é moderninho, é superficial. E ponto final. Essa é a generalização leviana da nossa literatura. É ela que produz distorções, afasta leitores e joga sua névoa sobre o mundo literário, além de disseminar o terror entre os escritores.
E quando falo em terror, não estou exagerando. Vários escritores já me procuraram para dizer que concordam com as idéias aqui apresentadas, mas afirmam que jamais as defenderiam em público com medo de serem rotulados pela crítica. Recentemente, um grupo de dez autores (eu inclusive) assinou um manifesto em defesa da popularização e do entretenimento na literatura. Quando o documento foi divulgado na imprensa, metade do grupo retirou a assinatura. É verdade que outros se juntaram a nós, mas a dissidência confirma que o receio de “brigar” com o pensamento dominante ainda é muito forte na comunidade literária. Embora também queira deixar claro que todos os dissidentes têm o nosso respeito e admiração e apresentaram bons motivos para sair, sendo que um deles se retirou do grupo simplesmente por não ter vocação para a “luta”, como muito bem descreveu em sua carta de saída, que é de uma sinceridade louvável.
Mesmo assim, sou um otimista, pois já há um movimento contrário ao “status quo literário” no interior da própria crítica. O recente livro do ensaísta búlgaro Tzvetan Todorov, um dos herdeiros mais ilustres do formalismo, é um claro exemplo. Em A literatura em perigo (Difel, 2009), Todorov afirma que o principal risco que ronda a literatura é o de não participar mais da vida cultural do indivíduo, do cidadão. E isso acontece, segundo o autor, porque os escritores não se preocupam com a afetividade e o prazer do leitor, limitando-se apenas a aspirar ao elogio da crítica.
Em um mea culpa corajoso, Todorov conclui:
A história da literatura mostra bem: passa-se facilmente do formalismo ao niilismo ou vice-versa. (…) Numerosas obras contemporâneas ilustram essa concepção formalista de literatura; elas cultivam a construção engenhosa, os processos mecânicos de engendramento do texto, as simetrias, os ecos, os pequenos sinais cúmplices. (…) Para essa crítica, o universo representado no livro é auto-suficiente, sem relação com o mundo exterior.
Outro crítico de renome, o professor Émile Faguet, titular da cadeira de Literatura Francesa na Sorbonne, também vai pelo mesmo caminho no ensaio A arte de ler (Casa da palavra, 2009), quando dá a um capítulo o título de Escritores obscuros:
Esses autores desfrutam sempre de enorme reputação. Têm um bando e um sub-bando de admiradores. O bando é composto por aqueles que fingem entendê-los, o sub-bando por aqueles que não ousam dizer que não os compreenderam e que, sem os lerem, declaram que são primorosos.
Mas também há exemplos mais antigos. O irlandês C. S. Lewis, que morreu em 1963, dizia que a grande leitura não exige perícia ou força; exige, ao contrário, desarme e paixão. Lewis era um defensor do leitor leigo, “comum”, ou seja, “aquele que lê sem nada esperar, que lê simplesmente porque o livro o agarra e ele não consegue mais largá-lo”.
É em busca desse leitor que vai a literatura de entretenimento. E não custa repetir: entretenimento não é passatempo, é sedução pela palavra. É um conceito ao qual se deve atribuir valor artístico e estético. É um termo que não pode ser rotulado ou tratado com preconceito. É um gênero cuja boa tecelagem está entre as mais difíceis e trabalhosas.
Tudo é linguagem, mas a narrativa é a base da literatura. Uma história bem contada é a meta que perseguimos.