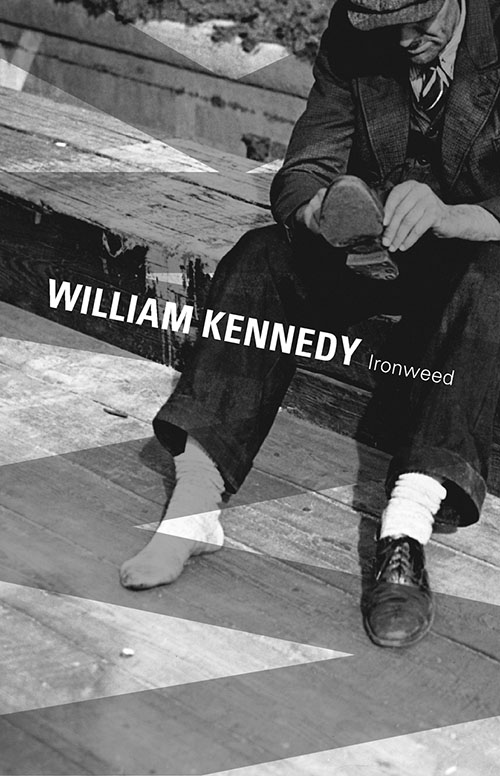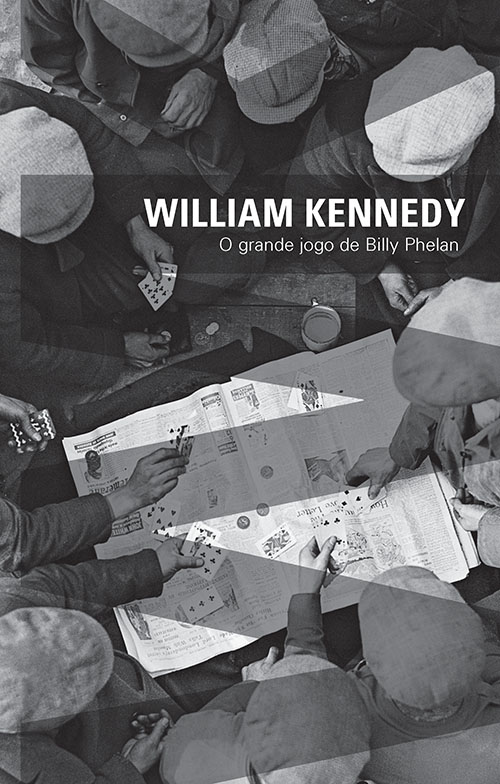A obra de William Kennedy, assim como, talvez, a de qualquer autor, vivo ou morto, é a sua memória, e a sua memória é um lugar. Diferentemente da Macondo de Gabriel García Márquez e da Yoknapatawpha de William Faulkner, os personagens de Kennedy povoam uma cidade que existe no mundo real: Albany, terra natal do escritor, que esteve no Brasil em agosto para a Flip. Capital do Estado de Nova York, Albany tem hoje cem mil habitantes e fica a uma hora e meia da Big Apple.
Não se trata, definitivamente, de uma metrópole com cores literárias firmes. Não se assemelha à Londres de Eliot, nem à Dublin de Joyce, nem à Chicago de Saul Bellow; tampouco inspira o anonimato e a solidão como Los Angeles e Tóquio. Ao contrário: na Albany deste ficcionista descendente de irlandeses os personagens se conhecem e se reconhecem conforme os laços familiares, as alianças políticas, os segredos e os esquemas de sobrevivência.
Nos sete romances do chamado Ciclo de Albany, o poder é uma energia que se autojustifica. Os políticos e chefões locais usam seu triunfo como moeda de troca. Controlam a imprensa e exploram uma lealdade quase feudal. Aos pobres e obscuros resta o voto utilitário “não obrigatório”. Francis Phelan, por exemplo, protagonista de Ironweed, orgulha-se por ter aparecido vinte vezes para votar ao longo da vida, embora o ato não tenha tido nenhum efeito prático nela.
Como Hemingway, Kennedy tem alma de repórter tanto quanto de artista. Estuda os cenários históricos de seus livros com escrupulosa exatidão. Reverencia nomes de ruas, fábricas, comércios e lendas vivas. Em Ó, Albany (1983), rara obra dele de não-ficção, mesclou pesquisa, memorialismo, vivências de infância e juventude e a sua experiência como repórter do diário local Times Union.
No prefácio desse livro o autor fala de si mesmo como “uma pessoa cuja imaginação se fundiu a um lugar único, no qual se encontram todos os elementos que um homem necessita para alimentar sua alma”. Mas o que realmente sustenta os romances O grande jogo de Billy Phelan e Ironweed, ambos publicados no Brasil pela Cosac Naify, não é a historicidade, e sim a fronteira tênue e permeável entre a vida e a morte.
O passado que não passa
Ironweed (a palavra significa, literalmente, “erva de ferro”) é uma asfixiante expiação na Albany corrupta de 1938. A epígrafe é sintomática: “A singrar melhor água eis que o batel do meu engenho segue, a vela inflada, deixando atrás o pélago cruel” (Purgatório de Dante). As primeiras linhas do romance, idem: “Subindo a alameda cheia de curvas do cemitério de Saint Agnes na caçamba do velho caminhão desconjuntado, Francis Phelan percebeu que os mortos, mais que os vivos, organizam-se em territórios”.
Francis caminha pelo cemitério onde abrirá covas por um dia para ganhar uns trocados. Vem-lhe aos ombros o peso da lembrança de que seu filho Gerald está enterrado ali há 22 anos: o bebê Gerald de 13 dias que o pai deixara escorregar acidentalmente para fora da fralda no trágico episódio que o levara a abandonar a família e tornar-se um vagabundo, uma criatura desprendida, mas com um demolidor sentimento de culpa.
Não tinha como revelar tudo que o trouxera até ali. Para isso, precisaria recapitular não só todos os seus pecados mas ainda quase todos os seus sonhos fugitivos e decaídos, todos os seus movimentos aleatórios através do país de um lado para o outro, todos os seus retornos àquela cidade só para tornar a ir embora sem jamais vir vê-la, jamais vir vê-los, sem nunca entender por que não vinha.
Os mortos se erguem de seus mundos e dialogam com a consciência remorsal de Francis Phelan. Afloram-se seus “pecados”, um a um, na forma de histórias paralelas que se intercalam e interpenetram, fazendo com que o tempo do romance gire em espiral. O intuito de Kennedy (em princípio) é provocar um enfrentamento existencial, pois o sujeito é o que ele recorda. “Algumas coisas eu quis aprender. E algumas coisas fiz sem ter precisado aprender. E antes eu nem queria saber como eram”, Francis pensa.
Em meio a narrações oniscientes surgem fusões entre passado e presente, alternando pontos de vista, como nesta passagem surpreendente, que desvia do essencial para o hiperessencial: “Mas, então, na esquina da Columbia com a Broadway, a rua mudou de aspecto: ficou volátil com a raiva dos grevistas, que fizeram o bonde parar entre dois lençóis em chamas”. A polícia investe contra a multidão. Francis atira uma pedra contra a cabine do bonde e acerta a cabeça do motorneiro fura-greve, que se apaga. Para sempre?
Adiante, de carona num vagão de carga em movimento, ele tenta ajudar a subir no trem um rapaz em fuga, contra quem os policiais atiravam: “…quase consigo segurar o rapaz quando bang bang eles acertam um tiro nas costas dele e fim da história”. Outro fantasma a vir tirar satisfações, eclipsando desconfortos e inconveniências. Os encontros verbais de Francis com os mortos enfatizam que o passado não é o que passou, mas sim uma carga; e o fardo de Francis está impregnado de cristianismos.
Kennedy retrata-o como membro de uma sociedade permissiva na qual o catolicismo irlandês conflita com o metodismo dos pastores principais de Albany. Francis está na direção de lugar nenhum, fisicamente falando, mas sua consciência segue o curso das justificativas inúteis e das aleatoriedades incontornáveis: “Nunca sei o motivo de eu ter feito coisa nenhuma na desgraçada da minha vida”.
À medida que conhecemos a condição do personagem, nos perguntamos se ele é um náufrago da Grande Depressão ou uma criatura ocupada mais com seus (supostos) pecados do que com sua pobreza. Ambos, o romance e o filme dirigido por Hector Babenco em 1987 (com Jack Nicholson e Meryl Streep nos papéis principais), são perturbadores. “Você é muito cruel consigo mesmo”, diz a a mulher de Francis, Annie. “Que diabo, eu sou cruel com tudo e todos”, ele rebate.
No rumo do sol
Ironweed foi rejeitado por uma dúzia de editoras até contar com a inestimável ajuda de Saul Bellow, Nobel de Literatura e ídolo de Kennedy. Uma das alegações foi “quem vai a essa altura se interessar pela história de gente ferrada, um bando de losers (no sentido americano do termo)?”. Na época em que o romance foi lançado, no início dos anos 1980, Kennedy não era uma celebridade das letras, embora houvesse publicado Legs (1975) e O grande jogo de Billy Phelan (1978), os dois primeiros dos sete do Ciclo de Albany.
Em O grande jogo… nos deparamos com a desgraça do personagem-título, um jovem jogador de pôquer e bilhar extremamente habilidoso que se recusa a servir de informante do seqüestro do filho de um político poderoso de Albany. Ironweed, terceiro da série, enfoca o pai de Billy, Francis Phelan, ex-jogador de beisebol nos tempos em que esse esporte não garantia a eternidade. As tramas dos romances do Ciclo de Albany transcorrem mais ou menos na mesma época e com o mesmo pano de fundo, mas com vivências diversificadas.
Francis Phelan é tudo em Ironweed: o corpo e a alma; o herói e o anti-herói; a confusão e o referencial. Em torno dele gravita um bando de gente que não sabe diferenciar um dia do outro. Há beberrões como Rudy (estupendamente interpretado por Tom Waits no filme de Babenco), ex-prostitutas como Sandra e outros losers como Helen Archer, cantora e pianista de talento que também acabou nas ruas. “Como é que alguém aprende a fazer uma coisa tão bem, e por que isso não faz a menor diferença?”, o autor questiona.
Francis e Helen perambulam pela cidade sem certeza de onde irão se abrigar do frio intenso. Francis era o grande amor de Helen, que tivera uma vida inteira de decepções com seus amantes. Despojada de esperanças, rejeitada pela família por beber demais e andar com más companhias, ela é uma veterana dos “tempos de ouro” que nunca retornam, supondo que tenham havido. “Ele conheceu Helen num bar de Nova York, e quando descobriram que eram ambos de Albany o amor fez uma curva ascendente e tomou o rumo do sol.”
Numa passagem de puro refinamento literário, Kennedy lança um olhar compassivo sobre Helen durante a “canja” dela no Gaiola Dourada, saloon “que imitava com ironia os pubs da Bowery de quarenta anos antes”. Ela canta “He’s me pal”. “Mas se sente… está certo, vá lá, ela se sente… como uma moça envolvida por uma confusão particular, pois sente a irrupção simultânea da alegria e da tristeza, e não sabe dizer qual das duas irá dominá-la nos momentos seguintes.”
Algumas pessoas desconhecidas a aplaudiram educadamente, mas a maioria a encarou com uma expressão entediada. Kennedy, então, vocaliza o sentimento do “amante inconstante” de Helen”: “Helen, você parece um passarinho quando o sol aparece por alguns instantes. Helen, você é um passarinho alvoroçado pela luz do sol. Mas o que será de você quando o sol de puser de novo?”
Ao final desta ótima cena (no livro como no filme), Helen fecha os olhos e sente as lágrimas abrindo caminho à força. Recobra a “perspectiva” de que nada havia mudado. Ela era subserviente a Francis. Foi ela que, devido a essa mesma subserviência, perpetuara a relação que ele mantinha com ela. “Quantas vezes ela se afastara dele? Dezenas e mais dezenas. Quantas vezes, sempre sabendo onde ele estaria, ela tinha voltado? As mesmas dezenas, menos a de agora.”
O que Helen tinha em comum com Francis? Ambos foram alvo de desprezo de suas mães, escreve Kennedy, num raro lugar-comum, insinuando uma relação de causa e efeito para o sistema de dependência que sustenta os dois. “Francis não esmolou nas ruas por Helen quando ela ficou doente em 1933? Ora, ele jamais tinha pedido esmolas, nem para si mesmo, antes disso. Se Francis pôde transformar-se em mendigo por amor, por que Helen não pode abdicar pelo mesmo motivo?”
Para os padrões de distração concentrada e desinteresse pela transcendência desta nossa era digital, o drama de Francis e Helen pode soar deprimente demais. Mas Kennedy demonstra uma coesão humanística incomum, o que atenua o tétrico impacto das tragédias pessoais dos personagens. Até mesmo a maneira como Helen escolhe morrer (metódica e solitariamente num quarto de pensão), além de reforçar a singularidade da personagem, reverbera não como tragédia, mas como um momento (finalmente alcançado) de paz.
“Catolicismo puritano”
Os cenários sombrios (vagões e galpões abandonados, abrigos imundos, ruas e bares decadentes) sugerem que há muito mais que fracasso e sucesso na fogueira em que Francis, Helen e Rudy estão sendo queimados. O próprio Francis foi descrito como “uma aparição” por sua mulher Annie em O grande jogo de Billy Phelan. “Jesus”, Annie diz para Billy e Peg assim que Billy lhe conta que viu Francis na cidade, “nunca pensei que ele voltaria e assombraria vocês dois de novo”. Não por acaso a narrativa começa numa manhã do dia de Halloween, numa clara alusão a bruxas e fantasmas.
Dois “fatos” compelem o vagabundo Francis a romper com o estado voluntário de amnésia a que vinha se submetendo: seu encontro casual com Billy; e a análise de lápides que empreende no cemitério de Saint Agnes no começo do livro. Este último nos remete ao peregrino de Dante, para quem a compreensão da finitude é questão de perplexidade.
Mas o tema central deste romance vencedor do Prêmio Pulitzer na categoria ficção é a culpa, mais que qualquer outra coisa, embora toque também em compaixão, redenção, piedade e perdão, necessariamente. A culpa é tudo que resta a Francis. “Se ela desaparecer, é porque nunca signifiquei nada, nunca fiz nada, nunca fui nada.” Decorre daí um imperativo técnico: a voz autoral de Kennedy tem de mover-se através das particularidades dos discursos de Francis, que se vê refletido nos coadjuvantes, os quais, por sua vez, solidários, refletem-no.
Francis já havia retornado a Albany antes, em 1934. Revisitara o bairro de sua infância na Colonie Street na ocasião do funeral de sua mãe, quando foi terminantemente rejeitado por Sarah, sua irmã. Este episódio é mencionado en passant em Ironweed. Mas parece claro que Kennedy quis mostrar Sarah como uma espécie de guardiã dos valores católicos irlandeses, aquela que imprime a moral. (Kennedy, aliás, costuma se referir ao “catolicismo irlandês” como “catolicismo puritano”.)
Noutro de seus vários retornos, ele viveu por várias semanas com Helen em “regime marital” num apartamento na Hamilton Street, trabalhando como mecânico e usando uma barba longa como disfarce, pois tinha medo de ser acusado de assassinato. Mas ele nunca havia ido até o túmulo de Gerald antes daquela manhã gelada de Halloween. “Ora bolas, é tudo verdade. Qualquer porra que você for capaz de imaginar é verdade”, diz o personagem.
Em retrospecto, então, o “fato” do casual encontro de Francis com seu filho Billy é de crucial importância. Billy diz ao pai que Annie nunca contou a ninguém que o marido deixara o bebê cair num dia de abril de 1916. “Para ninguém. Nunca. Nem Billy, nem Peg [filha de Francis], nem os irmãos ou as irmãs dela. Não consigo imaginar uma mulher passar por tudo isso sem contar nada para ninguém”, Francis diz a Helen num diálogo nada fortuito. Esse dado, além de alterar a perspectiva do romance, leva Francis a encarar Annie.
“Você foi uma mulher diferente das outras, Annie. Muito diferente das outras.”
“O que eu ia ganhar falando disso? Era uma história passada e acabada. Não foi mais culpa sua do que minha. Não foi culpa de ninguém.”
“Não sei como lhe agradecer por isso. É uma coisa que nenhum agradecimento pode estar à altura. É uma coisa que eu nem sei mesmo…”
“Não se incomode com isso”, disse ela. “Já passou. Venha, senta aqui e me conte por que você finalmente resolveu vir nos visitar.”
A purificação simbólica
Que Annie não tenha nunca culpado nem denunciado Francis, ou que ela tenha guardado segredo por 22 anos sobre aquela morte acidental causadora de sofrimentos tão profundos, é um aspecto desorientador de Ironweed. Primeiro porque Kennedy minimizou o potencial notável da personagem (Billy é o “Grande Billy” no outro livro, mas em Ironweed ele funciona apenas como um “anjo da anunciação”).
Segundo porque o silêncio de Annie cria uma expectativa de retorno dele ao lar, ou seja, de um final conformista tipicamente puritano. Felizmente, não é o caso. Na verdade, o silêncio de Annie acaba forçando Francis a reavaliar a imagem que ele tem de si mesmo, de sua história e de seus relacionamentos malucos. Talvez por isso ele se refira repetidamente ao passado em termos de “coisas que aconteceram lá atrás”.
Esse hiperdesenvolvido sentido de culpa presente no livro, que envolve estruturas e imperativos morais literariamente formidáveis, é uma das marcas positivas da obra de Kennedy. Em sua visão de mundo há uma percepção (ou talvez “insinuação”) evidente de que somos responsáveis por tudo e temos de viver conforme a nossa consciência, com todas as perdas e danos implicadas. Seus personagens não são atormentados por ocorrências inquestionáveis, mas sim por “situações criadas” (por eles próprios).
“Um imperativo moral compeliu Francis todos aqueles anos, de modo que ele vem e vai a Albany; e ainda assim nunca ia até a casa de sua família. E vemos em Very old bones [outro romance do Ciclo de Albany] que havia comparecido ao funeral de sua mãe e estava pronto para, talvez, enfrentar Annie, mas não conseguiu. Passam-se anos até ele encontrar o filho Billy Phelan, que lhe dá o sinal de que ‘está na hora’. É o purgatório. O livro se baseia nisso. O purgatório de Francis é o de Dante”, Kennedy declarou em entrevista.
Segundo o acadêmico Brendan O’Donell, autor do ensaio Francis Phelan in purgatory: William Kennedy’s Catholic imagination in Ironweed, “a principal diferença entre as almas do Inferno de Dante e as do Purgatório é que as que estão no purgatório conhecem a si mesmas a fim de serem amadas e perdoadas. Esse conhecimento não as alivia do sofrimento decorrente de seus pecados, mas transforma inteiramente seu significado, que vai da maldição à benção”.
O sofrimento está intimamente conectado com a trajetória dessas almas. O sofrimento que, no Inferno, poderia ser experimentado como punição pura, torna-se expiatório, um meio de purificação através do qual a alma segue o curso do amor até a sua fonte original. “No purgatório, os orgulhosos não são capazes sequer de olhar no rosto de Dante, mas, apesar de suas pesadas cargas, um certo movimento os transporta”, escreve Brendan.
“O principal padrão do purgatório — lembrança e penitência — abençoa o esquecimento dos pecados e, por último, reflete uma noção de eternidade: por exemplo, beber da água do Eunoé, rio que restaura a memória apagada pelo Rio Letes na Divina Comédia. Isto propicia a estrutura básica do trânsito espiritual de Francis à medida que ele tenta, à sua maneira mundana, purificar-se. Muito da atividade do protagonista, aliás, envolverá purificação — fisicamente, emocionalmente e espiritualmente —, até o reencontro com a família”, analisa Brendan.
Duas cenas de purificação simbólica — uma na casa de Jack e Clara e outra no banheiro da casa de Annie — estabeleceriam conexões entre a “sujeira” física de Francis e seu estado de espírito. Esse processo de purificação, na visão de estudiosos da influência do cristianismo na obra de William Kennedy, é o que rompe os laços de Francis com Helen e Rudy (não há problema em dizer que ambos morrem) e às duas décadas que Francis passou na estrada.
Uma dúvida, porém, cerca Ironweed (livro e filme) desde sempre: Francis, afinal, volta para a sua família ou apenas vislumbra essa possibilidade ao perder-se novamente pelo mundo? Críticos e resenhistas parecem divididos a respeito. Mas talvez essa questão não tenha a importância que lhe foi dada. O “fato” é que Kennedy reforçou a sua competência narrativa ao premeditar o final (ele certamente raciocinou a respeito antes de concluir o romance e o roteiro do filme dirigido por Babenco), tornando a pequena Albany dos vagabundos um lugar mais universal do que poderíamos imaginar.