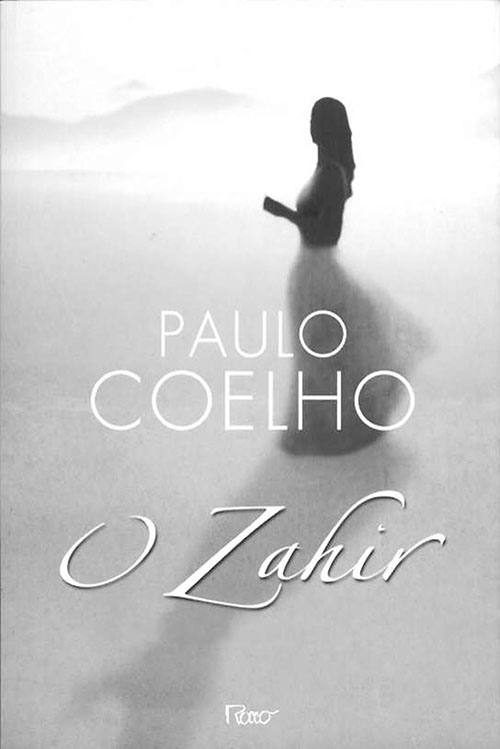Já faz alguns anos é sempre a mesma coisa. Toda vez que sai um novo livro de Paulo Coelho, a obra vai imediatamente para as listas dos mais vendidos, a mídia toda noticia e a crítica no geral abre silêncio — quando não aproveita para detonar com o texto em poucas e apressadas linhas.
No entanto, não se pode deixar de perceber. O sucesso se mostra tão avassalador, com milhões de cópias vendidas, lançamento simultâneo em dezenas de países, que ele já se tornou de longe o escritor brasileiro mais conhecido em todo o mundo — superando de muito, pelo menos no quesito de empresa editorial e de massas, o honroso feito de Jorge Amado.
Além disso, faz algum tempo que Coelho vem se esforçando para ser reconhecido como escritor de ficção, e não apenas como autor de livros de fundamento esotérico e alcance popular. Foi na esteira desse esforço que ele conseguiu ser eleito para a Academia Brasileira de Letras, em 2002. Em que se pese o fato de a Academia nem sempre privilegiar, em suas escolhas, escritores per se, não se pode deixar de negar que é justamente esse reconhecimento artístico que busca Coelho. Há, assim, uma pressão, tanto promovida pelo autor, quanto, o que é mais importante, advinda do público, para que a crítica se manifeste e analise ao menos alguns aspectos desse fenômeno de proporções globais.
Dentre esses aspectos, duas questões aparentemente interligadas saltam à vista: O que há, na prosa de Coelho, que agrada tanto às pessoas, no mundo inteiro? E: O que existe igualmente ali que tanto desagrada à crítica (quando ela se dá ao trabalho de lê-lo)? Mas, tomando por base o mais recente lançamento do autor, o romance O Zahir, gostaria de responder primeiro a uma outra pergunta: O que se acha nessa obra que é efetivamente brasileiro, não fruto capaz de ter brotado da pena de um escritor alemão, francês ou americano.
Um brasileiro em Paris
Em O Zahir, a ação quase toda se passa em Paris. Logo sabemos que a jornalista brasileira Esther, correspondente de guerra, desaparece. Junto com ela também se evade o seu intérprete e provável amante, um casaque conhecido pelo nome de Mikhail. O livro se ocupa da procura por Esther, da busca concreta, rememorativa e mística que empreende o marido dela, um escritor cujo sucesso internacional e cuja trajetória profissional têm muitos pontos de contato com Coelho. Chegou-se a dizer, na imprensa, que se trata de seu livro mais autobiográfico. De fato, está lá, analogamente, a origem na MPB, a princípio como letrista (e as desavenças com o cantor de sucesso), depois como produtor, e a desconfiança da crítica quando ele se lançou no mercado editorial, obtendo imediata consagração popular.
Porém, se tirarmos essas óbvias características autobiográficas, que aliás são atribuídas ao personagem como peças do vestuário, como coisas que podem ser postas e tiradas sem prejuízo para o todo, não como algo que lhe seja essencial — se excetuarmos esses acessórios, portanto, a verdade é que o herói poderia ser até confundido com um respeitável cidadão francês. Há um episódio significativo, nesse aspecto. O protagonista se envolve nas atividades de um bando de jovens zangados, de ideário indefinido, e sai com eles em atitude provocadora pelas ruas de Paris. Numa mercearia, dois policiais abordam o grupo. Um deles identifica o escritor (que é reconhecido com certa freqüência pelas pessoas), de quem é leitor. Aproveitando-se de sua notoriedade, o herói então argumenta em favor dos rebeldes hipoteticamente sem causa, que são em seguida liberados evitando celeumas. Todos os problemas que um brasileiro típico poderia ter com a polícia européia evaporam-se diante do fato de que aquele sujeito é um cidadão do mundo e, mais do que isso, alguém que pode falar em nome de um conjunto multiétnico de pessoas, logrando satisfazer as forças da repressão, inclusive por andar sobranceiro a elas.
Essa aura sobranceira dá-se por um atributo compartilhado pelo personagem e autor: ambos escrevem sobre experiências inefáveis, suas histórias carregam lições de vida, uma espécie de reverberação escapa às páginas da fantasia e pode servir como aconselhamento espiritual, como possibilidade de uso. Mesmo que venha se arrefecendo nas últimas obras do autor, essa qualidade “utilitária”, digamos, ainda permanece bastante acentuada. O Zahir é ostensivamente (embora, no transcorrer da narrativa, este tema central perca um pouco a força), a história de uma obsessão. A mulher, ao desaparecer, transforma-se em objeto do pensamento fixo do protagonista. Trata-se de um mote comum na literatura e na psicanálise. Como explica o Evangelho segundo S. Lucas, citado na epígrafe, se o pastor tem cem ovelhas, mas perde uma, todas as suas preocupações se voltam para o animal desgarrado, não para os outros noventa e nove. O ser humano só se deixa obsedar por aquilo que não tem, não por aquilo que tem. Mas a verdade é que essas considerações pouco importam. O que interessa aos leitores é ver como o personagem escapa à obsessão, como o percurso seguido por ele o ensina a adquirir uma atitude mais harmônica diante do mundo, subjugando o comportamento egoísta e os véus do desejo, para viver em paz consigo próprio e com o verdadeiro amor.
Neste romance, o percurso do personagem passa pelas doutrinas espirituais originárias das estepes do Casaquistão, embora, como nos outros livros de Coelho, haja um tipo de sincretismo místico, que envolve os evangelhos, o sufismo, a cabala, etc. Podemos dizer que, de par com o aspecto prático que o livro oferece para muitos leitores, são esses ensinamentos contemplativos que constituem o plano transcendente da obra. O termo transcendente é ainda melhor que místico, pois não só alude ao caráter supostamente excelso da experiência, mas também pode dar a idéia de algo que transcende, que ultrapassa os portões da casa de ficção e se espalha sobre o mundo. Contudo, reside justamente na costura entre o plano transcendente e o plano ficcional um dos principais problemas do romance.
Banco de favores
Quando um personagem é criado pelo ficcionista adquire uma espécie de independência. Há um contrato subliminar entre o escritor e o leitor, por meio do qual o segundo passa a julgar aquelas figuras feitas de palavras e, conforme afirmou o crítico Hillis Miller, de traços negros sobre o papel, como que fosse uma pessoa de carne e osso, capaz de tomar atitudes autônomas. Os personagens, nesse tipo de ficção de corte realista, a que se filiam os livros de Coelho, vivem à parte do narrador (no evento de um narrador em terceira pessoa), que pode sobre eles emitir seu próprio julgamento — e até mesmo do autor. Essa independência é que permite ao crítico (e ao leitor, de modo geral) verificar as incontáveis relações que se estabelecem entre os personagens e o narrador, e entre cada um deles e o autor. O personagem pode enxergar, por exemplo, vermelho ou branco, conquanto o narrador afirme que ele veja azul e amarelo. O certo é que se trata de uma das vantagens da ficção o fato de podermos examinar a criatura em sua inteireza, de todos os lados, por baixo e por cima, e, sobretudo, por dentro. Quanto mais esse acesso nos for franqueado, mais rica se torna a ligação ético-existencial que podemos estabelecer com o personagem.
No caso do livro de Coelho, a situação se complica. Como o leitor aguarda um resultado positivo das ações e das idéias descritas no romance, às vezes fica perdido sobre como deve julgar o que lhe afirmam os caracteres. Tomemos o caso da estranha teoria do banco dos favores, mencionada diversas vezes no livro. Trata-se de uma instituição “que não conhece fronteiras”, pela qual os favores que fazemos a alguém podem ser resgatados futuramente, quando deles precisarmos. O resgate se verifica, sim, num grau de semelhança com o das instituições financeiras, no sentido de que o favor é empenhado como num tipo de investimento, para pagamento futuro. Ou seja, trata-se de um título de crédito, que, segundo o personagem, faz mover as ações inter-humanas. Para ele, investir no banco dos favores é uma atitude louvável, mas, e para nós?
Sabemos que, no Brasil, o exercício do favor só deu resultados nefandos. Durante o período colonial, era pelo favor que se estabelecia o intercâmbio social entre a elite e a classe dos homens livres, espremida entre os donos do poder e a ampla massa dos escravos. Hoje em dia é pelo favor que muitas pessoas julgam como se deve conduzir a coisa pública e, entre nossos políticos e empresários, ou entre nossos políticos entre si, permeia como um espectro nunca exorcizado a antiqüíssima prática do “toma-lá-dá-cá”. Ora, nada disso é, evidentemente, positivo e, em se tratando de um personagem de origem brasileira, poderíamos estudá-lo como representante do favoritismo e da moral dúbia que regem o caráter nacional. No entanto, não podemos. Como, no contrato que firmamos com o tipo de literatura transcendente que escreve Coelho, todos os ensinamentos são, no fundo, “bons”, só podemos depreender que o banco dos favores é uma teoria justa, pelo menos dentro da economia estrutural do romance. Isso ocorre porque o personagem não é, a rigor, independente. Ele está sujeito ao autor, ou àquilo que esse autor representa. Se temos algo contra a regra do favor, não podemos usar esse julgamento no exame do caráter do personagem, mas sim do próprio autor. É como se o personagem estivesse apoiado numa grande parede, que nos impede de ver-lhe as costas. Essa parede é o autor.
O visível e o invisível
No final, esse autor esclarece que a teoria foi emprestada ao livro de Tom Wolfe, A fogueira das vaidades. Em entrevista à Folha de S. Paulo, ele também diz que a idéia por trás do banco dos favores é realmente positiva, no sentido de que há uma responsabilidade para com o próximo, da qual não devemos nos eximir, e que chegou a pensar em rever o termo, por causa das conotações depreciativas que ele sugere. Na mesma entrevista, Coelho também teceu algumas considerações sobre seu método de trabalho, os quais trazem algum proveito à análise. O autor afirmou que gesta longamente seus livros, por cerca de dois anos, período durante o qual vai absorvendo as informações que lhe interessam, para depois usá-las a seu modo, durante as duas semanas em que redige o livro. Nesse espaço de tempo, ele diz ficar totalmente tomado, não interrompendo o processo de criação nem para as refeições, as palavras como que jorrando no papel. Coelho tem uma idéia vaga da história, mas nenhum plano preestabelecido e mesmo essas noções iniciais podem mudar durante o “fluxo” da invenção ficcional.
Esse transbordamento sem travas reforça a tese do escritor como porta-voz de idéias excelsas, que estão acima de seu poder de fabulação e que, através dele, muitas vezes à sua revelia, são transmitidas ao mundo. Trata-se de um conceito bastante oposto aos defendidos pelos cultores do romance como obra de arte. Flaubert, um dos maiores combatentes da causa, passava dias e dias elaborando um único parágrafo. Mesmo dentre aqueles que lutavam para que o romance fosse visto com a mesma dignidade de um poema ou de uma pintura, havia os que confessavam tratar-se de um gênero avesso ao controle. A questão é que, de acordo com esses escritores, o romance não rompe os limites por falta de controle, mas por excesso. Em seus escritos sobre a arte da ficção, Henry James reclama da insistência com que suas narrativas estabelecem centros fora do esquadro, ultrapassam as balizas concebidas, crescem além do previsto. Esse caráter desmedido do gênero, que ele definiu como “paraíso dos fios soltos”, ocorre pela tentativa de dar conta de todas as relações estabelecidas dentro do plano inicial e segundo o método escolhido. Como na vida, porém, que o romance tenta emular, “as relações não param em lugar nenhum”.
A ficção de Coelho, ao contrário, não procura fornecer uma impressão da vida, mas uma receita da vida. Não lhe cabe retratar a vida da melhor forma possível, mas mostrar a melhor forma possível de vida à qual a vida deve se ajustar. Ainda na mesma entrevista, perguntado sobre o que havia de brasileiro em sua obra, Coelho respondeu que era justamente a mistura que ele promovia entre o que chama de mundo visível e invisível. No Brasil, estaríamos acostumados, desde o berço, a abraçar a mistura, a não ver o mundo com olhos cartesianos, do rigor lógico. O visível e o invisível, para nós, inter-relacionam-se. Um alemão ou um americano, diz, não teriam escrito os livros que ele escreveu — o que é bastante provável.
Mas, como vimos, a mistura não ocorre bem na junção entre o visível e invisível (como categorias narrativas, elas não fazem muito sentido), mas entre o plano ficcional e o transcendente, ocorre na tentativa de tudo absorver e de fazer jorrar palavras, idéias e figuras sem que aparentemente se exerça nenhuma forma de controle. Logo, se estivermos certos, o caráter “brasileiro” da obra de Coelho contribui, no nível da construção narrativa, para os seus defeitos, independentemente do maior ou menos apelo popular que possa atingir. Na verdade, falar de marca nacional nesse caso pode ser um equívoco, na medida em que elege como positivos traços perniciosos de nossa cultura, seja ela a idéia de que abolimos preconceitos pela miscigenação ou mistura; seja a concepção de que somos melhores quando “entregamos a Deus”, deixando que forças ocultas no guiem; seja nossa inaptidão para o planejamento e para o projeto de longo prazo; seja a concepção de que estamos mais próximos de uma verdade essencial por nossa ingenuidade e nossa tolerância constitutivas, qualidades as mais distantes possíveis da construção, do rigor e da lógica.
Vale quanto pesa?
A valoração da qualidade errada já havia sido apontada, no plano da narrativa, quando citamos o banco de favores. Ali também um traço danoso da herança colonial recebe uma roupagem globalizante (vinda de fora e servindo a todos, a todo o planeta) que procura travesti-lo de matéria proveitosa para a reflexão e de ensinamento produtivo. No final, o herói finalmente vai ao Casaquistão, um país economicamente ainda mais miserável do que o nosso, vítima de pesada ditadura, de disputas intestinas pelo poder e da exploração econômica sem sustentabilidade ambiental que transformou o mar de Aral, por exemplo, em lama carregada de pesticidas.
Mas nada disso se impõe de fato em O Zahir. Mesmo quando descritas, tais barbáries soam como frases de um guia turístico que explica a situação atual do país: não emocionam e, principalmente, o leitor não sente que são partes essenciais da história. Figuram como o passado brasileiro do protagonista: são ornamentos. O que norteia a leitura são as palavras dos anciãos, são as visões dos místicos, são as inspirações dos mestres. Quando essas forças presidem, os leitores de Coelho sentem que seu investimento no livro é justificado: aprenderão com a experiência de tradições antigas, correntes sábias de povos que muito sofreram, como sofre o protagonista, até atingir a iluminação final, até proceder ao retorno do herói.
Trata-se de uma fôrma externa impingida ao gênero romanesco. Não é verdade, portanto, que o romance de Coelho é escrito sem nenhum controle. Ele até pode ter sido criado num jorro, mas é submetido a mais simples e rígida das formas, uma camisa-de-força que não permite que o gênero floresça em toda sua complexidade, que as “relações”, na terminologia de James, estabeleçam-se por inteiro e sejam exploradas na busca do maior efeito e máxima economia. Qualquer fórmula, quando empregada no romance, por mais que seja capaz de atingir vastíssimo número de pessoas em tantos lugares diferentes, só diminui sua potencialidade, só enfraquece seu alcance artístico. Infelizmente trata-se de uma opção e Coelho, se quiser estabelecer-se como escritor sério, precisa logo descartar a que lhe fez a fama até hoje.