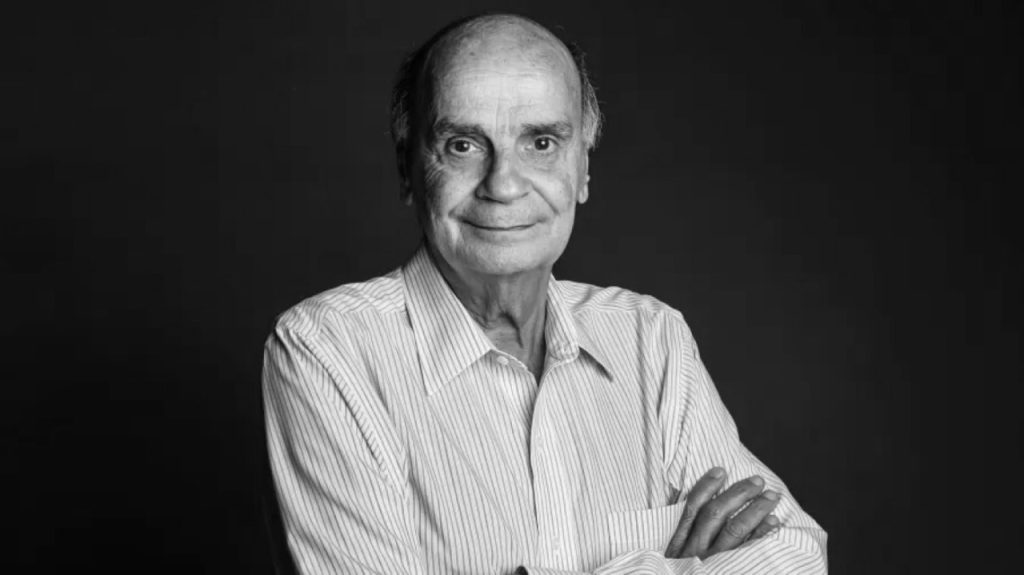A literatura — como, de resto, todas as artes — parece estar sempre metida em algum paradoxo. Quantas vezes já se ouviu alguém ressaltar que determinado ficcionista escreve “como se tivesse vivido” as situações que inventa, e essa é uma característica importante e meritória em sua obra? Por outro lado, quantos autores são crucificados justamente por narrarem sua experiência pessoal de forma demasiado realista, sem o verniz da boa técnica literária, que não é outra coisa senão um jogo de insinuar, esconder, dissimular, movimentos que contrariam a crueza e a linearidade impostas pela vida real? Em outras palavras, o bom escritor deve contar o que não viveu com a exata emoção de quem tenha de fato vivido, sob pena de não convencer o leitor, enquanto que, ao enveredar por uma narrativa memorialista ou autobiográfica, tentará isentar-se ao máximo para não eivá-la do sentimentalismo que costuma assaltar quem viveu uma história e tem de reviver suas próprias emoções na hora de resgatá-la.
Trata-se, evidentemente, de um sofisma, pois o raciocínio não sobrevive a uma análise um pouco mais cuidadosa: o que interessa em literatura é a ótica do narrador, tenha ele vivido ou não a experiência que narra. Há quem avance além disso e diga que o texto literário será sempre rigorosamente ficcional, uma vez que narrar com arte implica a escolha de um ângulo, de um ponto de vista, de um corte; implica estabelecer prioridades e se ater àquilo que realmente importa; implica, em última análise, contar de forma a surpreender e seduzir o leitor, para quem pouco ou nada significará saber de antemão se a história é verídica ou não — ele quer uma boa leitura, e ponto final.
Por um fio, o mais novo livro do médico paulistano Drauzio Varella, é exemplo sobejo para o que se falou até aqui. Ao longo de 36 episódios, ele apresenta situações verídicas que viveu no atendimento a pacientes terminais vítimas de câncer e de aids, atuando em sua especialidade, que é justamente a oncologia. E faz isso com a precisão cirúrgica de um ficcionista de escol.
Falar de um bom livro é ainda o desafio maior de qualquer resenhista. Fácil é procurar problemas e apontá-los; fácil é agir com severidade no exercício da crítica, por mais criteriosa e responsável que ela seja. No entanto, quando o livro é de fato especial, nada do que se venha a dizer sobre ele conseguirá fazer plena justiça às suas qualidades. A vontade do resenhista, em situações como essa, é usar o espaço destinado aos comentários para deixar ao leitor uma mensagem em letras garrafais: “não perca tempo, vá logo, compre esse livro, leia-o e depois me diga”. Mais difícil ainda, depois de uma leitura instigante, é ter o desprendimento de rever as próprias convicções e admitir que elas podem não ser exatamente como foram firmadas ao longo do tempo. Por outro lado, esta é justamente uma das conseqüências da literatura: fazer o leitor pensar sob um prisma diverso daquele que está acostumado, ou, usando uma expressão já quase um clichê dos dias atuais, “quebrar seus paradigmas”.
Por um fio nasceu com os ingredientes todos de um best seller e, com esta condição, deixa de saída muita gente de nariz torcido. Vem numa tiragem inicial de 100 mil exemplares, cifra absurda para o padrão brasileiro, mas embalada no sucesso estrondoso de Estação Carandiru, de 1999, que já vendeu 450 mil livros, conquistou vários prêmio literários importantes e foi adaptado para o cinema por Hector Babenco. Além disso, o Dr. Drauzio Varella tornou-se uma personalidade conhecida do grande público, ao apresentar quadros sobre saúde no programa Fantástico, em nobilíssimo horário da Rede Globo. Basta uma rápida visita ao site da Companhia das Letras na internet para se dimensionar a expectativa quanto ao êxito do novo lançamento: o destaque é todo para o livro, cujo motivo da bela capa assinada por Marcelo Serpa — um feixe de fios coloridos sobre fundo preto, de onde parte um solitário fio vermelho a separar o título da obra do nome do autor — domina hoje a página inicial da editora.
O livro teve uma gestação longa e difícil. Conta o Dr. Drauzio que, quase 20 anos antes de conceber Estação Carandiru, já alimentava a idéia de relatar alguns dos casos extremos em que atuou. A intenção, segundo ele, era “construir um caleidoscópio com as histórias dos doentes”, onde pudesse expor toda a complexidade das reações de quem se confronta com a evidência inexorável da própria morte. Contudo, foi adiando o projeto o fato de não conseguir ainda se imaginar na situação vivida por esses personagens. “Se até hoje me faltou coragem para tanto, foi por me considerar imaturo para a natureza da empreitada. Será possível na juventude compreender o que sente um senhor de oitenta anos ao perceber que não sairá vivo do hospital? O sofrimento de uma mulher ao perder o companheiro de quarenta anos de convivência harmoniosa pode ser imaginado por alguém de trinta? Se me dispus a escrever agora, aos sessenta anos, foi menos por reconhecer a aproximação da maturidade do que por receio de morrer antes de me julgar preparado para alinhar as lembranças e inquietações que se seguem”, diz ele na introdução.
A decisão foi acertada por vários motivos, e o mais relevante deles, o alegado pelo autor: há situações em que não é mesmo possível narrar com plenitude sem ter ainda experiência de vida para tal, e aqui encontramos a principal razão de o livro ser tão bem-sucedido. O Dr. Drauzio defende a idéia, contrariando um número expressivo de colegas de profissão e por diferentes justificativas, de que faz parte dos deveres do médico continuar acompanhando seu paciente na iminência da morte, mesmo quando a medicina já tiver esgotado todas as tentativas de cura, e tanto mais conseguirá ajudar o doente quanto mais envolvido estiver com ele. Podendo ser comprovada na prática a falta de unanimidade quanto a essas questões aparentemente tão óbvias, o médico que narra as histórias se converte no profissional que todos gostaríamos de ter à cabeceira no momento crucial, pois reúne sabedoria e sensibilidade em dosagem precisa. Sua conduta irrepreensível passa incólume inclusive pelo que deva ser o maior de todos os desafios da prática da medicina: no último caso narrado, o paciente é seu próprio irmão, também médico, que morre aos 45 anos, vitimado por um câncer de pulmão decorrente do tabagismo.
A carga emocional que atravessa todos os relatos e explode no último poderia ser o grande problema da obra, mas neste caso transforma-se em virtude. A sinceridade tocante com que o Dr. Drauzio expõe as próprias limitações, incertezas e angústias no exercício da profissão dignifica a narrativa e consegue a façanha de livrá-la do sentimentalismo, grande vilão de quem se arrisca a ir tão longe. O tom jamais resvala para o piegas, por tristes e previsíveis que sejam todas as histórias. A rigor, a previsibilidade se atém aos desfechos, pois o caleidoscópio construído pelo autor a partir do que viveu demonstra que os pacientes, ao serem confrontados com o próprio fim, reagem de maneira totalmente imprevisível. Em recente entrevista, o Dr. Drauzio sublinha: “cada indivíduo, quando enfrenta a possibilidade de morrer, tem uma reação que é absolutamente individual e que se torna um caso ímpar”.
Não cabe aqui destacar um ou outro episódio. Uma vez que todos eles são verídicos — exceto por preservarem o anonimato dos protagonistas reais—, qualquer tentativa de hierarquizá-los significaria classificar e julgar o próprio sofrimento das pessoas envolvidas (não se pretende chegar a tanto, em que pese o livro esteja sendo aqui tratado como peça literária). Por outro lado, o autor cuidou de manter o registro elevado em toda a obra, garantindo um resultado homogêneo, sem saltos qualitativos.
O objetivo maior de Por um fio não é a simples reunião de casos médicos interessantes. Via de regra, os capítulos começam a partir de um enunciado, à maneira do texto de ensaio, e o caso narrado na seqüência vem com o propósito de ilustrar ou demonstrar o raciocínio. No início do capítulo, é a cabeça de um homem da ciência que predomina, como em Solidão:
“Poucos eventos na vida são capazes de isolar alguém como a progressão de uma doença fatal. Por mais empatia que a desventura do outro possa despertar, expormo-nos à insegurança, depressão, estados de ânimo contraditórios e crises de ansiedade de quem está ciente do seu fim é experiência tão angustiante que inventamos um milhão de subterfúgios para evitá-la. Lidar de perto com a perspectiva da morte alheia nos remete à constatação de nossa própria fragilidade.”
No entanto, basta aparecer o caso ilustrativo para que então o escritor tome as rédeas do discurso e seja comprovada a excelência de Drauzio Varella como contador de histórias. Poucos ficcionistas têm, assim como ele, um faro tão aguçado para discernir o que é de fato relevante numa narrativa. Fruto dessa intuição, o subtexto é armado com invejável naturalidade e fluidez. São elipses audaciosas, cortes abruptos que deixam a narrativa em suspenso, economia absoluta de adjetivos, finais secos e por isso contundentes, e todo um arsenal que muitos levam anos para aprender a manejar (e não raro terminam a vida sem conseguir).
A seqüência de Solidão traz a história de um homem portador de câncer de pulmão, cuja família quis poupar do terrível diagnóstico. Do médico que o atendeu no interior de São Paulo às filhas, todos sustentaram a versão mentirosa de que ele sofria de um simples fungo. Durante a consulta, o Dr. Drauzio acabou acatando o pedido dos familiares e tampouco revelou a verdade. Ao final do expediente, esperava por ele o tal senhor, agora desacompanhado. Foi uma surpresa descobrir que o paciente não só já conhecia o diagnóstico real como pediu para o médico não revelar à família que ele o sabia, querendo preservá-la do sofrimento de imaginar a infelicidade que seria para o doente conhecer seu destino. Ele acabou resistindo à doença por quase dois anos, e a história termina assim:
“Numa manhã de domingo passei para vê-lo. Encontrei os genros no corredor, as filhas sentadas no sofá do quarto e a esposa ao lado da cama, de mãos dadas com ele, que respirava com o auxílio de uma máscara de oxigênio sob pressão, sonolento por causa da má oxigenação cerebral e da ação dos analgésicos, que gotejavam do frasco de soro. Sobre a mesa, uma vitrola portátil tocava baixinho um LP de Beniamino Gigli, para seu Lindolfo ‘a voz mais bonita que Deus pôs na Terra’.
Quando terminei de examiná-lo, perguntei se sentia algum desconforto. Respondeu que não, só tinha vontade de dormir. Passei a mão em sua cabeleira branca e me despedi. Ele puxou a máscara de lado, para poder falar mais alto:
— Doutor, que fungo bravo!
E sorriu.”
Manter o leitor envolvido depois do final da história e, muitas vezes, obrigá-lo a uma pausa reflexiva no meio do capítulo são situações recorrentes em Por um fio e podem ser creditadas em grande parte à habilidade do autor. De uma certa forma, tal recorrência serve também para sustentar aquela idéia de que o texto literário não tem mesmo como prescindir da ficção, por mais verídico que seja seu conteúdo: o escritor que tenha esse poder quase mágico de pegar o leitor pela mão e levá-lo a conhecer a realidade por um ângulo ainda inédito, fazendo com que ele se surpreenda e se emocione ao redescobrir o que sempre esteve plantado à sua frente é o artífice de uma outra realidade, que não se opõe nem se sobrepõe à original, mas a enriquece com novas cores e significados.
Tanto faz que se trate ou não de ficção, esta ainda é a característica mais evidente da obra de arte. E da qual Por um fio não escapa.