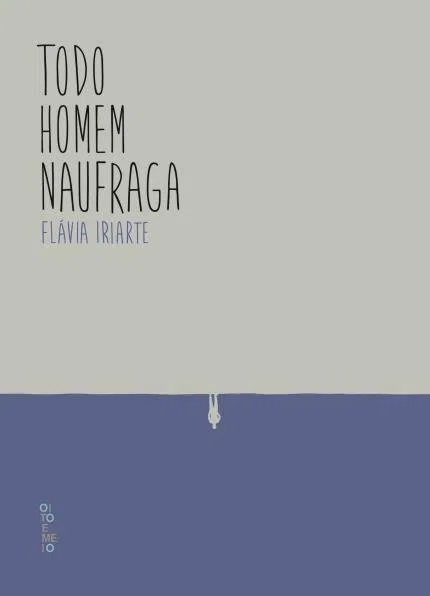Não é ocioso considerar, diante de cada nova obra literária que vem à luz, a importância que o advento da pós-modernidade exerce no espírito do artista, posto que (e não parece residir qualquer equívoco quanto a isso) o escritor moderno produz à sombra desse fenômeno estilístico — ao menos o escritor consciente.
De fato, ele é o horizonte diante de seu campo de visão; é talvez a sombra que se projeta de sua pena e a segue nos contornos de cada vocábulo (não necessariamente enquanto influência). Isso, no entanto, estabelece certo estado ambíguo em seu íntimo. Sim, porque se “não há mais gêneros, ou fronteiras bem demarcadas entre eles”, vê-se o artista então de posse daquela liberdade dionisíaca da qual sua arte só pode se beneficiar; por outro lado, esse vasto horizonte pode vir justamente a estagnar o autor mais cioso, o mais compromissado com a forma e seu entrelaçamento com o conteúdo, essa ânsia apolínea que o norteia em sua criação.
Não é só o artista que, considerando esse panorama atual, claudica… Como deve proceder o crítico literário diante de tantas obras cuja estrutura e o próprio escopo incorporam essa apoteose estética, próprias da pós-modernidade (quando nada mais parece merecer a denominação de “novo”)? Estaria ele apto a captar o fio que tece tantas formas variadas? Estaria mesmo autorizado a falar de equilíbrio e harmonia diante de, por exemplo, um volume de contos entremeado por poemas, sem que a linha da prosa e da poesia esteja plenamente definida?
São perguntas que provocam o crítico, estando este a folhear as páginas que compõem Todo homem naufraga, da carioca Flávia Iriarte.
Ante este pequeno volume composto por dezoito textos que trafegam de uma prosa convencional a uma sinuosa e poética, ou de um verso de teor mais narrativo a um lirismo mais puro e intimista, o crítico hesita, tendo em primeira instância que apurar sua lente analítica a fim de encontrar o alicerce que sustém essa arquitetura, dando fundamento a cada uma das partes.
Inicialmente é possível constatar que esse fio que subjaz à urdidura da obra não é de natureza formal; em outras palavras, buscar nesta o sentido harmonioso do todo é constatar antes de mais nada que a obra é irregular, em seus monólogos intimistas, fluxos de consciência joyceanos e versos livres. Definitivamente não é nessa instância que a autora parece se apoiar para fundamentar o escopo da obra (ainda que o leitor perceba nesta uma ânsia por buscar uma expressão própria — sem contudo negar-se a influências); tampouco essa diversificação formal passa por demonstração gratuita de técnica. Antes, a autora parece estar atenta sobretudo ao conteúdo, afinando seu instrumento de trabalho para modular a melodia mais adequada a este, e não parece claudicar diante do vasto horizonte de possibilidades que a tradição oferece, mas sim abraçá-lo entusiasticamente. Eis então o apelo imagético e a cadência expressiva dos versos em Cinema, a sintaxe ruminativa com recorrência de palavras no monólogo A cidade está quebrada, entre outros exemplos.
Logo, o que une essas partes tão díspares esteticamente é o enfoque dado a seus personagens, em seus momentos de “naufrágio”.
Pélago
De cara, o título da obra é evocativo. A despeito da citação inicial (que abre o livro) de uma reflexão de Martin Heidegger sobre a singularidade de cada morte humana, Todo homem naufraga é bem menos mórbido. O “naufrágio” a que alude o título conota uma espécie de insight negativo acerca da própria existência e dos elementos encarregados de lhe dar significação. Assim, a título de exemplo, no conto A notícia, o mundo ocioso, voltado a esquadrinhar a vida alheia, da personagem Lóri, desmorona quando é informada pelo marido que se mudarão para China, a negócios. Como Lóri cultivará seu velho hábito numa nação que controla a liberdade de expressão e informação? E qual a significação de sua existência para além desse hábito? Assim também no surpreendentemente profundo, conquanto breve, O coração despedaçado de Yoshiro Murakama, em que o personagem título padece a separação súbita, mas há muito anunciada e pressentida, de sua então esposa, por quem cultivava (e só então se dá conta) um sentimento ambíguo de amor e ressentimento por conta de sua personalidade autônoma e forte. Sem a presença da esposa amada, o que resta que seja digno de nomear “vida”?
Nesse e em outros exemplos, alguns mais felizes e intensos (Homem, Virgínia, Lana,) que outros (Minas, Soldado), a autora procede a uma submersão no pélago da consciência dos personagens, apreendendo neles aquilo que é digno de nota à arte. Nesse enfoque está o eixo de todo o livro, e embora ele tenda a oscilar em termos de intensidade justamente pela diversificação formal das partes que compõem o todo, Flávia Iriarte tem predicados que suplementam a obra: uma consciência madura da conduta humana e um tratamento com a linguagem cuja singularidade os trechos a seguir dão uma concisa ideia: “Julia acha graça do menino que você é do homem que ela pode ajudar você a ser”, “é que debaixo a pele de certas pessoas faz sempre frio”, “Passemos ao vídeo-arte non-sense/ Ele nos desexplica muito bem”.
Através desse artesanato linguístico, o leitor toma contato com os dramas ora sociais, ora introspectivos dos personagens, às voltas com a existência e suas insuficiências e fugacidades. São tais dramas que estabelecem esse contato direto com o leitor, a despeito deste ter ou não ciência da tradição narrativa e poética consubstanciada no livro. A obra é dotada de singularidade, não tanto pela coexistência da prosa e poesia nela (Os prazeres e os dias de Proust já trilhara esse caminho), mas pela poeticidade da narrativa e a narratividade na poesia, embora os “naufrágios” não logrem alcançar um mesmo nível de imersão.
Enfim, Todo homem naufraga é, para além de todos os seus atributos, um registro multifacetado do ser humano em seus momentos de constatação da precariedade espiritual da existência.