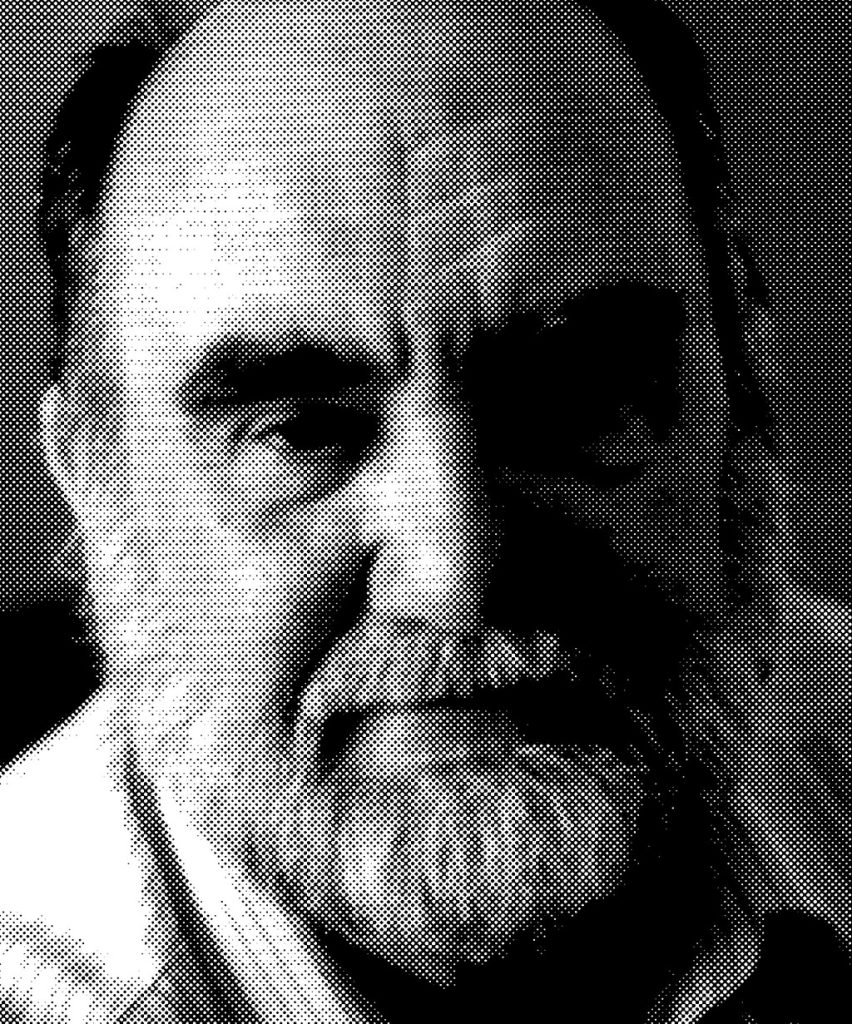1. Lanho a lanho: a alquimia
O poeta Herberto Helder é o melhor exemplo contemporâneo de artista avesso às homenagens oficiais e à vida social literária. Em 1982, recusou o prêmio do Pen-Clube de Portugal; em 1994, recusou o Prêmio Pessoa e em 2000 não compareceu ao Salon du Livre da França, no qual seria homenageado ao lado de três colegas de ofício. Há inclusive os que gostariam de vê-lo finalmente ganhando o Nobel, apenas para conferir se iria abrir mão das centenas de milhares de dólares. Idiossincrasias à parte, a recepção crítica da sua poesia tem sido unânime há mais de cinqüenta anos. Dezenas de especialistas, dentro e fora das universidades, dentro e fora da redação dos jornais — sendo raros os que não deixaram vazar o entusiasmo rasgado —, já analisaram os mais de vinte títulos lançados por Helder, desde a sua estréia em 1958. O resultado são as dezenas de livros e as centenas de resenhas publicados em toda a parte, sobre a poesia, a prosa, as traduções, a teoria estética e a vida desse autor português. De acordo com os seus comentaristas, a poética de Helder tem sido sempre a da metamorfose unificadora e a da transmutação alquímica. A sua poesia é a da totalidade, é a simbiose absoluta entre todos os seres, é o corpo no qual ocorre a unificação de tudo o que está disperso. Imersa no delírio xamânico, a sociedade coisificada não lhe interessa.
Ao menos é isso o que o próprio poeta tem divulgado em notas, posfácios e entrevistas. Ao menos é isso o que os seus estudiosos têm difundido. Seria possível, então, falar de poesia politicamente engajada, ao tratar da poesia de Herberto Helder? Seria aceitável, a partir da poesia alquímica de Helder, questionar e ampliar o conceito vigente de engajamento político? Seria possível falar em discurso presente, mesmo quando o seu enunciado está fisicamente ausente? Seria possível falar em discursos fantasmas? Acredito que sim. Creio ser possível seqüestrar e ampliar o conceito de engajamento político, não com o objetivo de vê-lo abarcar generosamente também a poesia de Helder, mas com o intuito de demonstrar que essa poesia, ao recusar a postura panfletária, consegue ser politicamente muito mais crítica do que, por exemplo, a de seus contemporâneos neo-realistas: Fernando Namora, José Gomes Ferreira, Carlos de Oliveira e outros.
Consoante o colofão, a primeira edição d’O corpo o luxo a obra, impressa tipograficamente em caracteres Elzevir (corpo 12), na lisboeta Tipografia Ideal, teve apenas seiscentos exemplares. O modesto caderno com vinte e quatro páginas grampeadas, quinze centímetros de altura por dezessete e meio de largura, contendo o poema escrito por Herberto Helder em novembro de 1977, foi lançado sem pompa nem circunstância em julho de 1978. Ocupa o frontispício um desenho de gosto bastante duvidoso, francamente kitsh, de Carlos Ferreiro. Os duzentos e cinqüenta e dois versos desse poema compõem o décimo quarto livro publicado pelo autor. Livro que, ao fundir os contrários para forçar a manifestação da totalidade, é ao mesmo tempo a cara e a coroa, o fundo e a figura, o significante e o significado, o sujeito e o objeto, o micro e o macrocosmo, o obscuro e o luminoso, o feitiço e o enfeitiçado. O corpo o luxo a obra é o exemplo mais bem-acabado, na longa carreira de Helder, da fusão xamânica e da transfiguração alquímica dos diferentes domínios — o mineral, o vegetal, o animal, o humano e o cósmico — que séculos e séculos de civilização separaram e catalogaram, ao compartimentarem a nossa mente e o mundo.
Nesse poema exemplar (incluído integralmente na antologia homônima, lançada há pouco tempo no Brasil pela editora Iluminuras), Helder persegue com intensa vontade o instante edênico, o instante pré-babélico, o instante em que as palavras e os objetos por elas designados eram a mesma coisa, o mesmo eu. Essa obsessão pela utopia perdida o leva diretamente aos braços do hermetismo de Hermes Trismegisto: O corpo o luxo a obra é a pedra filosofal desse poeta nascido em 1930, na Ilha da Madeira, para quem no âmbito dos valores simbólicos o poema é o corpo da transmutação, da transformação, da metamorfose. Porém é sabido que a linguagem, quando transformada pela ação alquímica, afasta-se do código estabelecido pelo senso comum, deixando de ser compreensível a todas as pessoas, tornando-se ilegível para a maioria. Mas ilegível não significa inacessível ou impossível de ser decodificado. Significa que enunciados sintática e semanticamente subversivos estão sendo articulados de maneira proibida pelo código, significa que certo processo de ruptura com a cultura oficial está desenterrando o esqueleto de outra cultura ainda mais antiga, até então abafada. É claro que essa estratégia de desautomatização gera no início angústia e até mesmo incompreensão. Mas não há por que desesperar. Joaquim Manuel Magalhães, poeta e ensaísta português, não afirmou à toa: “Herberto Helder é difícil até para o próprio Herberto Helder, pois a sua linguagem está onde não chegou ainda a linguagem de todos, que é também a sua.”
O corpo o luxo a obra abre com uma epígrafe tirada do sexto livro do autor, Húmus, de 1967. São oito versos nos quais se entrelaçam a pedra, o ouro, as palavras, os peixes, a água, os mortos, as árvores e o céu, seres substantivados sempre presentes na obra de Helder. Aliás, ambos os poemas apresentam a mesma configuração gráfica. Os versos tanto do primeiro quanto do segundo ocupam e desocupam a página de maneira semelhante, formando degraus, ou raízes, pois como observou Maria Estela Guedes esse arranjo visual faz com que o texto lembre “o modo como a árvore habita o espaço tridimensional: subterrâneo, terrestre e aéreo” (em Herberto Helder: poeta obscuro). O livro encerra-se com uma nota do autor, na qual este justifica o poema que a antecede, citando a clássica Tábua de esmeralda, de Hermes Trismegisto (“É verdade, sem engano, certo e real: o que está no alto é como o que está embaixo e o que está embaixo é como o que está no alto”), e reforçando o seu percurso estético: “A transmutação é o fundamento geral e universal do mundo, ela alcança as coisas, os animais e o homem com o seu corpo e a sua linguagem”.
Diferentemente do que o título sugere, o corpo, o luxo e a obra não são os únicos temas do poema. A cadeia temática é na verdade composta de seis células: as três precedentes e, além dessas, a árvore, a Terra e o cosmo. O corpo surge ora por inteiro ora metonimicamente: os dedos, as mãos, os braços, os ossos, o coração, a vulva, as membranas, o rosto, o sangue, os rins, a uretra, a garganta, as omoplatas, os pulmões, as veias, as artérias, as espáduas e os músculos. O luxo aparece sempre na forma do ouro. Se para os antigos a alquimia era a operação simbólica que transformava os metais menos nobres em ouro, para Helder ela é a operação poética que arranca o cidadão sonolento da trama da sociedade reificada e o reintegra ao mundo original. Se para os antigos encontrar a pedra filosofal era descobrir o Absoluto, era possuir o pleno entendimento do cosmo, para Helder encontrar o poema fundamental é rever, depois de milhares de anos de ausência, a linguagem essencial, a representação verbal do mundo enquanto Espírito. O ouro, segundo os textos védicos, representa a imortalidade da alma. O poema, segundo Helder, é o resumo possível da eternidade, é a menor fração do irresumível. Já a obra, citada apenas três vezes ao longo do poema, é o resultado da violenta mistura do corpo, do ouro e da árvore, sob o signo harmônico da Terra e das estrelas.
Para que funcione, a utopia órfica de Helder depende totalmente da tautologia, da repetição áspera de determinados motivos, como ocorria tempos atrás com as profecias apocalípticas, como ocorre ainda hoje com os relatos míticos dos povos tribais, com a cantilena dos pajés, dos feiticeiros e dos xamãs. O corpo o luxo a obra não tem enredo, não apresenta discurso linear. O seu lirismo exacerbado é elíptico. Os mesmo seis temas mencionados vão e vêm, conectando-se de maneiras variadas, desconectando-se, repetindo-se infinitamente. O poder mimético que dá vida ao poema cola ao corpo humano as diversas formas de vida existentes na natureza. O corpo se confunde com os minerais, as plantas, os animais e as estrelas, porque se entranha neles por meio do processo metamórfico da poesia. O tema do corpo identifica-se com o da árvore, sendo que a árvore funciona como o axis mundi, o eixo do mundo, o cabo de aço que liga o alto e o baixo. Duplicando essa idéia, o corpo ereto e de braços abertos, fulcro da condensação de forças distintas, assume exatamente a mesma dimensão simbólica: ele é a cruz, o tronco vertical que aponta para os quatro pontos cardeais e ao mesmo tempo liga os dois domínios, a terra e o céu. Porém a árvore da existência, cujos extremos são o feminino e o masculino, abre-se a mais ampla significação erótica, visto condensar as duas trajetórias perpendiculares do destino humano: a vida, erguendo-se verticalmente da raiz ao fruto, e a morte, de que se alimenta ao absorver e reciclar a matéria orgânica subterrânea. As artérias por onde passa a seiva vão estabelecer os laços indissolúveis entre Eros e Tanatos, ou seja, entre os vivos e os mortos.
A violenta mistura do corpo, do ouro e da árvore, sob a influência da Terra e das estrelas, é dolorosa: “Lanho a lanho/ cerrara-se a carne em seu tecido/ redondo”, “E o golpe que me abre desde a uretra/ à garganta/ brilha/ como o abismo venoso da terra”, “Vi/ dorsos torcerem-se à volta da sua dor”. O sangue jorra, a carne arde, respirar dói: “Tudo faísca: a fruta/ que se apanha, o feixe/ vertebral, os orifícios de sangue/ entre os poros/ da madeira”. Componente inseparável dessa dor é o cadáver ao qual o corpo saudável é fundido. Levando-se em conta as muitas vezes que surgem no poema, os mortos poderiam ser certamente a sua sétima célula temática. O espelho, a oitava, pela mesma razão.
O luxo a que o poema se refere é de fato o ouro: a radical subversão da linguagem utilitária. Contra esse tipo banal e burocrático de linguagem avança o artefato mais inútil já criado pelo homem: a própria poesia. No seu estudo sobre O corpo o luxo a obra são os demolidores discursos de Breton que Maria Estela Guedes recupera ao afirmar: “A obra transmutatória, por exemplo, pode ser encarada como luxo, por incidir essencialmente no domínio do individual e do particular: o sujeito e a sua linguagem. Mas na verdade o poeta só pode inserir-se no processo metamórfico geral e universal através da sua própria transformação corporal: a transformação do pensamento e conseqüentemente da linguagem. Só na medida em que o poeta atua transformadoramente no seio da matéria verbal pode ele transformar as suas estruturas de pensamento e agir, através dessa metamorfose, no espaço da linguagem e do pensamento sociais. As revoluções só podem vingar a partir da alteração do sistema de pensamento, que é o mesmo que dizer, a partir da revolução da linguagem”.
2. Poesia engajada?
Todo poema, por mais abstrato que seja — mesmo o poema mais afetado pelo murmúrio da linguagem transmental (zaúm) de Khlébnikov ou pelo ruidoso claro-escuro da pesquisa verbivocovisual dos concretistas —, aponta para a realidade palpável da circulação de mercadorias. Todo poema, inclusive os inúmeros poemas pertencentes à extensa e hermética obra de Herberto Helder, indica, muitas vezes de modo acusador, a rotina doméstica, o guia de tevê, o bilhete do metrô, as contas do final do mês, a lista do supermercado, em resumo, o nosso burocrático cotidiano burguês. Mas essa constatação parece impor-se de maneira bastante constrangedora. Afinal, cem anos de sofisticada crítica literária estão aí justamente para demonstrar que a grande poesia é constituída de tantas camadas quanto o macrocosmo de Einstein e o microcosmo de Heisenberg. Cem anos de lingüística, psicanálise, formalismo russo, semiologia, semiótica, new criticism, estruturalismo, fenomenologia, teoria da recepção, new historicism estão aí justamente para provar que o poema é em primeiro lugar um objeto entre outros objetos, algo cuja principal função é referir-se a si mesmo, às suas próprias leis, não às leis externas que regem a sociedade ou a mente que o gerou. Enquanto a poesia mais discursiva discorre diretamente, sem pudor algum, sobre os infinitos aspectos da realidade social — o amor, a morte, Deus, o diabo, a luta de classes, a própria arte poética —, a poesia hermética, ao falar apenas do que está situado para além do horizonte do senso comum, procura fugir da experiência trivial e mesquinha do cotidiano.
A arte que vai de Góngora a Herberto Helder, passando por Hölderlin, Mallarmé e Jorge de Lima, é a concretização desse impulso irresistível, desse desejo de escapar a todo custo da banalidade do homem médio. Porém, como nada no mundo escapa ao demônio da dialética, essa concretização jamais é perfeita. Quanto mais distante da realidade, mais a realidade está presente nos espaços vazios que a sua ausência deixou no poema. Se esse fenômeno não é claramente perceptível na enigmática poesia de Góngora, Hölderlin, Mallarmé e Jorge de Lima, na de Herberto Helder é ele que primeiro sacode todos os nossos sentidos. A razão disso é bastante simples: o abandono das formas fixas (soneto, ode, elegia, epopéia) e a elasticidade do verso livre, característicos da poesia de Helder e de outros visionários aparentados, faz com que a atenção do leitor, em vez de se envolver com os efeitos sensorias provocados pela métrica e pela rima, caia diretamente no sentido do enunciado. Ou, melhor dizendo, na falta de sentido do enunciado.
Essa percepção ocorreu-me de maneira intuitiva durante a leitura de vários poemas de Herberto Helder, mas jamais chegou a se cristalizar na noção clara e irrefutável de adjacência ideológica, noção que aproxima duas esferas tão distintas e antagônicas: a do senso comum e a da poesia hermética. Somente ao ler o comentário que Antonio Candido faz na abertura da sua análise do poema O pastor pianista, de Murilo Mendes, foi que a ficha caiu. Bingo. A percepção solidificou-se e agora me serve de base de lançamento, a partir de onde enviarei novas sondas em direção a’O corpo o luxo a obra, de Helder. Candido diz: “Quando enfrentamos um poema segundo a versificação tradicional, devidamente metrificado e rimado, a análise tende a se apoiar nas características aparentes, que definem a fisionomia poética. Metro, rima, ritmo, cesura, divisão em estrofes atraem logo a atenção e, servindo para trabalhar o texto em certo nível, podem induzir o analista a não ir mais longe, e a não tirar deles o que podem realmente significar. Como se viu nas análises anteriores, esses elementos materiais do poema são portadores de sentidos que contribuem para o significado final. Mas quando se trata de um poema não-convencional, isto é, sem métrica nem rima, sem pausa obrigatória nem lei de gênero, a camada aparente parece não existir, ou não tem importância, e nós somos jogados diretamente no nível do significado. No entanto seria erro supor que um poema desses não tenha organização. Mesmo que os recursos convencionais de formalização sejam descartados, os códigos continuam a existir. Na análise de um poema livre, o objetivo inicial é a própria articulação da linguagem poética — fato mais geral e durável do que as técnicas contingentes que a disciplinam nos vários momentos da história da poesia”.
Helder, à maneira de Murilo, não só descartou a métrica, a rima e os demais elementos constituintes das formas clássicas da poesia, como também baniu do seu trabalho as associações lógicas e a coerência aristotélico-cartesiana. No seu jardim grotesco, o poeta lusitano — da mesma maneira que Murilo e, antes dele, os poetas surrealistas — vem, desde O amor em visita (1958), cultivando somente os nexos descabidos e as incongruências sintáticas e semânticas. São justamente esses nexos e essas incongruências que nos atraem de imediato, que prendem a nossa atenção, por configurarem a única camada palpável (“o nível do significado” mencionado por Candido) de poemas como O corpo o luxo e obra e de tantos outros. Essa camada, cujo cimento não é o mesmo da escrita automática, por incorporar as sucessivas revisões e correções do texto, proibidas na técnica da escrita automática, apesar disso também é composta unicamente de imagens (na concepção de Pierre Reverdy). Ou seja, trata-se, no jargão surrealista, da aproximação quase fortuita de duas ou mais realidades razoavelmente distanciadas. Versos como “Vi/ a massa arterial das casas/ contorcendo-se/ no fundo/ da luz” ou “E o golpe que me abre desde a uretra/ à garganta/ brilha/ como o abismo venoso da terra”, característicos de Helder, são junções de realidades lingüísticas mais ou menos distantes (casas não têm massa arterial, a luz não possui fundo, golpes e abismos não brilham), cuja conexão range e chia, como quando introduzimos a chave errada na fechadura errada. Mas essa aproximação de termos originários de esferas distintas, de palavras semanticamente incompatíveis, produz outro fenômeno curioso: os termos de domínios afastados acusam a ausência das palavras corretas, sem valor poético, que deveriam estar ocupando o seu lugar de direito. Ou, como diz Candido: “A combinação se torna poética no nível lingüístico devido à seleção: no caso, ela instaura o impossível lógico, inesperado e incongruente, mas transfigurador. A palavra escolhida carreia para a frase resultante as conotações abafadas de outras palavras que poderiam ter sido preferidas (e seriam poeticamente possíveis nos contextos adequados), mas acabaram virtualmente postas de lado, como alternativas rejeitadas”.
Aqui cabe a similaridade com certo objeto celeste. Os astrônomos que ocupam o seu tempo caçando buracos negros sabem que não devem apontar os seus instrumentos para o objeto que procuram, pois ele não emite sinais perceptíveis. A única maneira de detectá-lo, de comprovar a sua presença, é medindo o transtorno gravitacional que ele provoca ao seu redor, nas estrelas e nos planetas das imediações. O poema alquímico de Herberto Helder funciona de maneira semelhante: ele acusa a banalidade do cotidiano, a mediocridade da política nacional e internacional, a imbecilidade dominante nas escolas e até nas instituições artísticas, as injustiças sociais e as dores da infindável luta de classes, simplesmente não falando de nada disso. Poemas como O corpo o luxo a obra reinventam a imagem de Pierre Reverdy e dos surrealistas, potencializando-a. Continuamos com a aproximação quase fortuita de duas ou mais realidades razoavelmente distanciadas. Porém algo novo está acontecendo: muito do que não é aproximado continua sendo percebido, agora, pela sua ausência, pelo transtorno gravitacional que provoca ao seu redor. A realidade circundante, as circunstâncias históricas do poeta, o aqui-agora da existência socioeconômica, tudo isso são os elementos contrastantes, da esfera não-poética, cujo lugar vago, no poema, revela aos gritos a sua ausência.
Assim a passos largos chegamos a Theodor Adorno, para quem a verdadeira poesia jamais deve se curvar à alienação imposta pela práxis dominante. Isso fica claro na sofisticada Palestra sobre lírica e sociedade, cujas linhas gerais permeiam a aula de Antonio Candido sobre Murilo Mendes: “As mais altas composições líricas são aquelas nas quais o sujeito, sem qualquer resíduo da mera matéria, soa na linguagem, até que a própria linguagem ganha voz. O auto-esquecimento do sujeito, que se entrega à linguagem como a algo objetivo, é o mesmo que o caráter imediato e involuntário de sua expressão: assim a linguagem estabelece a mediação entre lírica e sociedade no que há de mais intrínseco. Por isso a lírica se mostra mais profundamente assegurada, em termos sociais, ali onde não fala conforme o gosto da sociedade, ali onde não comunica nada, mas sim onde o sujeito, alcançando a expressão feliz, chega a uma sintonia com a própria linguagem, seguindo o caminho que ela mesma gostaria de seguir”.
Examinar poemas exacerbadamente líricos, aparentemente distantes da realidade social, como obras capazes de provocar grandes impactos políticos, essa foi a especialidade de Adorno. O pensador alemão acreditava que, ao abordar a pura subjetividade, a mais alta individualidade, todo poema é capaz de apontar elementos referentes à coletividade: essa seria a função social da lírica. O corpo o luxo a obra, na medida em que é lido como fuga mística de certa organização social hostil e opressiva, só faz confirmar esse pressuposto. A fuga e a ausência são aqui sinais de protesto e presença. A tensão interna do poema de Helder só é significativa quando relacionada com a tensão externa, com os eventos coletivos. O corpo o luxo a obra, ao provocar choques semânticos, perturbações no código, transtornos de recepção, produz o necessário estranhamento crítico que deve reger as condições de percepção da realidade social: o positivo passa a ser percebido pelo seu negativo. Transmutar a poesia em crítica tem sido a tarefa de muitos alquimistas contemporânos. É muito relevante, nesse ponto, a observação feita por Adorno sobre o paradoxo constitutivo da crítica cultural. Segundo o pensador alemão, pelo fato de toda atividade crítica ser exercida dentro de determinado sistema cultural, quando o intelectual se dedica a essa atividade ele necessariamente incorpora, quer queira ou não, elementos do sistema de que faz parte e a respeito do qual se posiciona criticamente. O paradoxo consiste no fato de o crítico estar dentro do sistema que pretende criticar. Portanto toda crítica desse sistema será também a crítica de si mesmo. Nos termos da poesia de Helder: o corpo está fundido no espírito que pretende entender, e vice-versa. Ainda para Adorno, o crítico dialético da cultura deve participar e não participar da cultura, só assim ele consegue fazer justiça ao seu objeto de estudo e a si mesmo. Seguindo a mesma trilha, para Helder o poeta dialético deve participar e não participar da sociedade, só assim ele consegue transmutá-la, mesmo que minimamente.