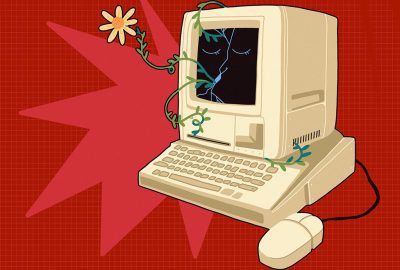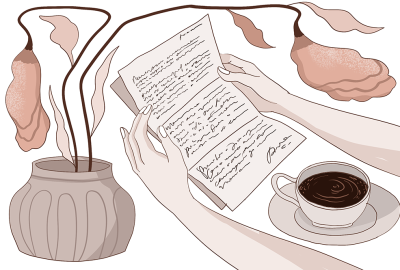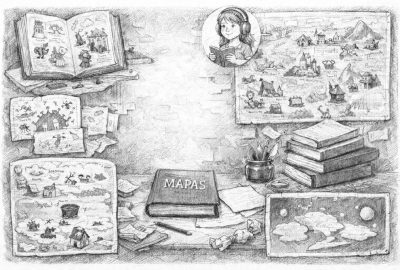O ódio pela poesia é um título instigante e pode levantar expectativas que se frustrem. Nesse breve ensaio, o professor e poeta estadunidense Ben Lerner termina por mostrar tanto o que o título promete quanto o contrário, isto é, a permanência e a persistência da poesia num mundo em parte avesso a ela. É justo na contradição que isso reside e resiste; justo na ideia de que esse ódio seja necessário como motor de vanguardas, insurreições e persistências — na escrita desde a escola, na mais tenra idade, até nas pessoas que se dizem poetas por toda a vida, apesar do fracasso.
Como ensaio sobre poesia que é, a obra menciona muitos poetas (Whitman, Plath e tantos/as mais), tornando-os parte de uma trama interessante que vai demonstrando avessos, direitos, passados e futuros desse gênero — tanto literário quanto editorial — no mundo da poesia (para nós, estrangeira). Já nas primeiras páginas, depois de começar o texto com um caso disparador, pergunta Lerner: “Que tipo de arte assume a aversão de seu público e que tipo de artista se alinha a essa aversão, até mesmo estimulando-a? É uma arte odiada, por fora e por dentro (…)”. Claro, a pergunta é retórica, dando ensejo às páginas que ampliarão a compreensão de que esse ódio se distrai.
Entre outros pontos abordados em O ódio pela poesia está a própria definição de poesia — obviamente cambiante e tão dependente de muitos fatores: “Muito mais gente concorda que odeia poesia do que é capaz de concordar sobre o que é poesia. Eu, também, não gosto dela, mas em grande parte organizei minha vida ao seu redor.” Mais do que a contradição aparente de odiar algo que, afinal, se faz todo o tempo, Lerner é poeta, capaz, portanto, de destilar esses sentimentos desde dentro, com todas as frustrações daí decorrentes, sem deixar de ser irônico com suas condições pessoais. Afirma ele: “O poema é sempre o registro de um fracasso”, e assim fracassa muitas vezes.
O ódio pela poesia se distribui, na edição brasileira, por cerca de oitenta páginas divididas em subtítulos laterais. O projeto gráfico ajuda a leitura a fluir, percorrendo a argumentação de Lerner sem grandes tropeços. Nesse trajeto, encontramos a crítica (no sentido da leitura detida) da poesia de vários poetas (homens e mulheres), o ridículo de ser poeta depois de adulto, o desafio quase intransponível da formação de um público (Comunidade de leitores), a inutilidade sempre atribuída à poesia, assim como sua capacidade de corrupção, sua potência e seu (des)valor, sua periculosidade e sua ilegitimidade, sua capacidade de mudar a história, sua metade lazer, metade trabalho. Mais adiante, um termo rapidamente discutido: sua “impoemidade”. Daí temos que: “É muito mais difícil concordar sobre o que constitui um poema bem-sucedido quando o vemos.”
Definições de poesia
Como não poderia deixar de ser, O ódio pela poesia é um texto metalinguístico, metapoético, que se enfrenta, diversas vezes, com uma ou muitas definições de poesia, poema e poeta. “O poema é uma tecnologia de mediação entre mim e as pessoas que me cercam”, diz o ensaísta-poeta (ou o reverso?). Não escapa a ele, ainda bem, o papel dos editores, que, no âmbito da poesia, estão sempre implicados de maneira contundente tanto quanto errática: “Apesar de todo o esforço dos editores (a princípio homens) para padronizar Dickinson, sua obra, especialmente se vista em fac-símile, provoca uma alteração na lógica amarga do princípio poético”. A edição de poesia pode ser vista como um embate, mas também como uma relação de amor. Não escapa, claro, a enorme assimetria histórica nos catálogos editoriais em que homens (só) publicam homens.
O sentimento de ódio pela poesia pode, segundo Lerner, ser considerado parte da tarefa do/a poeta, que tenta, algumas vezes, “eviscerar os cânones predominantes do gosto” e, afinal, contribuir para a revolução. Como não amar?, nos perguntamos. O ensaísta dispõe, aqui e ali, nas linhas do texto, o desapontamento inerente à leitura da poesia; o incômodo que ela provoca; seus sentidos sempre provisórios; sua capacidade de liquefazer os limites da língua em que é escrita/falada; sua força criadora, destruidora e/ou mobilizadora.
Na sequência dessa leitura ensaística provocadora e bem urdida, é possível saltar aos vinte e seis poemas de As luzes, obra poética de Ben Lerner pela produtiva coleção Círculo de Poemas. Os versos, claro, desafiam e liquefazem a forma do poema, em muitos momentos se assemelhando a um outro livro de ensaios em prosa caudalosa. Entre suas estrofes sinestésicas e cheias de desapontamentos está esta, do poema Resposta meridiana:
Quero fazer aquele som
de pôr algo escrito
no papel em vez de pôr sob o
vidro, oposição fantasmal, a vogal
da fruta de caroço
amolecendo, o sussurro da inflamação
interna, quero elogiar
o baixo
Ou estes, que são, afinal, mais parágrafo do que estrofe: “Sabe quando você às vezes só percebe que estava chovendo quando a chuva para, com o silêncio caindo no telhado, formando córregos no vidro?” (Os meios).
Enquanto testa os limites da forma poética, desistindo dela e linearizando o que chama de poema, a voz lírica mistura ciência, tecnologia, vida amorosa, vida familiar, trabalho e a própria literatura como uma espécie de sumidouro dos eventos, dos dias e das experiências:
outra menina, está prevista para o fim de junho
uma cesariana planejada por várias razões
que Ari não gostaria que eu pusesse em um poema
embora ela saiba que poemas são ótimos
lugares para fazer a informação desaparecer,
se dissolver.
As luzes pode ser considerado um livro lento de poemas em prosa. Ou isso simplesmente se torna uma besteira (entre tantas de ser poeta ou de fazer poesia neste mundo) diante da liquefação da língua, dos temas e das formas. Destaque para, por exemplo, o poema Rotação, escrito quase em tópicos, e este trecho de A rosa e sua bela analogia multimodal:
Eu pensava que bibliotecas eram silenciosas porque
assim como proíbem fotografia com flash
os livros eram corroídos pela fala
A leitura de O ódio pela poesia pode se seguir da de As luzes, ou o contrário, numa ciranda que, certamente, desaguará em mais desse ódio amoroso.