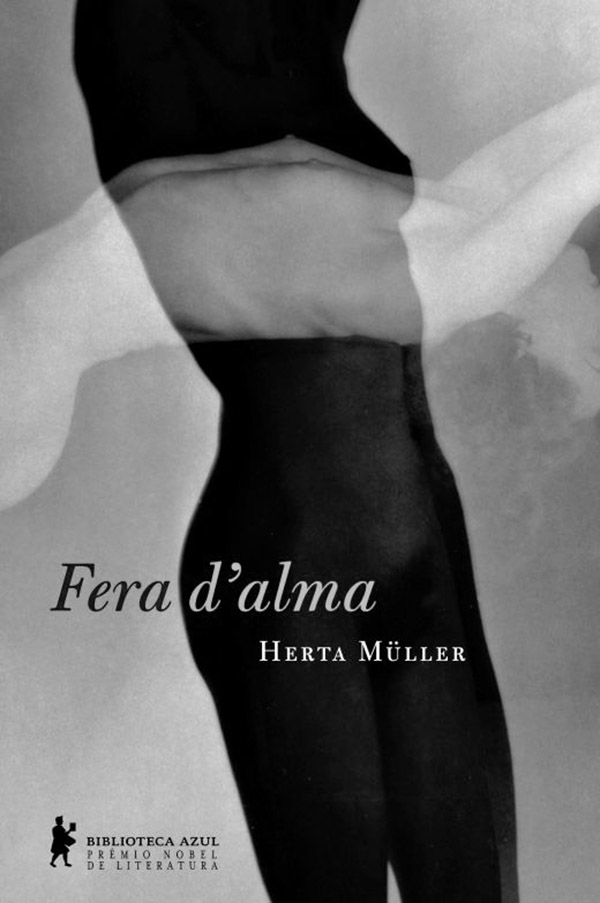O anúncio de que Herta Müller era a vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 2009 causou grande surpresa, sobretudo no Brasil. Quem era mesmo Herta Müller? Sempre comendo pelas beiradas no prato bem servido da literatura em língua alemã, que deu ao mundo três nóbeis entre 1999 e 2009, Herta Müller se caracterizou desde o princípio pela linguagem poética, pontilhada de metáforas, que aproveita bem um alemão às vezes um tanto arcaico — falado por sua minoria da Romênia — e o lirismo da locução pouco usual.
Herta Müller nasceu em 17 de agosto de 1953 em Niţchidorf, na região de colonização alemã do Banat, na Romênia. Seu pai foi membro da SS e sua mãe prisioneira num campo de trabalhos forçados da União Soviética. Herta estudou Literatura Alemã e Romanística em Timisoara (Temeswar) e começou seus trabalhos literários como tradutora e professora de alemão. Negou-se a espionar para a Securitate, a polícia secreta romena, e foi presa e interrogada várias vezes. Em 1987 pôde abandonar seu país e passou a viver na Berlim Ocidental.
Seguindo os passos intelectuais de poetas como Georg Trakl e Paul Celan, Herta Müller é uma vítima do exílio e estuda o lento e irreversível fenecer das relações humanas. Já sua obra de estréia, Depressões (Niederungen, 1982, depois em nova versão em 1984), publicada no Brasil em 2010, chamou a atenção do público e da crítica, e desde então Herta sempre tratou do ser humano abandonado a si mesmo, obrigado a abrir mão de sua pátria, a desconfiar do melhor amigo, a encarar o Estado como um inimigo. A autora processa o que viveu e o que sentiu, e alcança o universal a partir da experiência individual, que ela sabe importante e significativa. Mesmo quando encara o fantástico, o surreal, é porque só ele é capaz de dar conta do descalabro da realidade. E continua sendo assim até Tudo o que tenho levo comigo (Atemschaukel, 2009), o romance mais recente, ou Sempre a mesma neve e sempre o mesmo tio (Immer derselbe Schnee und immer derselbe Onkel, 2011), a coletânea de ensaios mais recente, passando por Fera d’alma (Herztier, 1994) e O homem é um grande faisão no mundo (Der Mensch ist ein grosser Fasan auf der Welt, 1986), publicados ambos em 2013 no Brasil.
A autora jamais mostrou pruridos diante de si mesma, sempre se indignou poeticamente e demonstra uma confiança quase tocante no vigor da palavra. Sua obra gira de tal modo em torno da Securitate que a polícia secreta de Nicolae Ceauşescu e seus meandros pode ser encarada como o zahir borgiano de Herta Müller, o assunto que ela não consegue abandonar, sua obsessão eterna.
A respiração na gangorra e o ano do Nobel
Tudo o que tenho levo comigo (Atemschaukel, no original, um título intraduzível, que põe a respiração na gangorra), foi publicado na Alemanha no mesmo ano do Prêmio Nobel, em 2009. A ação da obra começa na Romênia, no dia 15 de janeiro de 1945, três da madrugada, bem antes de a Securitate existir. A minoria alemã do país vive com medo, a temperatura é de 15 graus negativos. Leopold Auberg, homossexual de 17 anos, é levado de Hermannstadt ao campo de trabalhos forçados de Nowo-Gorlowka, na Ucrânia. Leopold, ou Leo, nem se assusta tanto assim com os russos, quer fugir ao gládio do Estado e da família que ameaça seu homossexualismo. A viagem dura doze dias. “Enquanto estamos viajando, nada pode nos acontecer.”
Sua maleta é a caixa de um gramofone em que leva todos seus pertences, Fausto e Zaratustra entre os livros escolhidos. Eles vão ao fundo da maleta, dando sustentação à precariedade que lhes vai por cima. Na prisão, no entanto, Leo acaba trocando-os por comida, e cinqüenta páginas do Zaratustra para enrolar cigarros lhe rendem uma medida de sal. Ele é a falsa testemunha de si mesmo, e diz: “Apenas me fecho de outras formas quando falo”.
O campo de trabalhos forçados é um universo acabado. Tem tocador de acordeão, barbeiro — sua profissão lhe concede privilégios —, uma débil mental que jamais descobre onde está, um bebum que morre preparando aguardente com hulha, um marido que rouba a sopa de sua mulher e, depois que ela morre de fome, usa seu sobretudo para se proteger do frio. Não há honra que resista, conveniência que sobreviva, segurança que persista em seu lugar. O horror da fome é onipresente e a nostalgia é mandada embora com canções populares. Os mortos de fome não são mais homens ou mulheres, não podem mais ser diferenciados, são objetos neutros. Leo esquece o homossexualismo, a pulsão que impera — solitária — é a fome. “Vou comer uma soneca”, diz Leo a certa altura, para acordar logo depois e comer a “soneca seguinte”. Roubar pão — o roubo famélico — é o maior dos crimes entre os prisioneiros, e a justiça é feita de maneira terrível: os dentes de Karli são todos quebrados, para que ele jamais volte a comer pão duro. Quando até a erva daninha termina, os pratos são feitos apenas de palavras e oferecidas receitas de nada que lembram o cozinheiro de Günter Grass em Nas peles da cebola, mostrando com os mais entusiasmados gestos no vazio e toda a verve do mundo como se prepara um assado.
A miséria absoluta é lavrada em beleza poética. A fome sai da gente e se atira ao prato como um cão esfaimado, há salivas que alongam a sopa, frangos magros como “farrapos de nuvens”. O campo de trabalhos forçados é um mundo prático: os mortos são desnudados antes de o corpo enrijecer para que sua roupa possa ser aproveitada, e antes que chegue outro preso para disputar o espólio.
O romance é a crônica da fome eterna, o testemunho de um indivíduo transformado em mero ser de existência ameaçada. Mas ainda faz sentido tremer a cada dia e a cada noite — durante anos — pela vida, porque, embora ameaçadora, a prisão não leva diretamente à cova. A avó, ademais, dissera a Leo, quando partira, que sabia que ele voltaria, e ele jamais deixa de se lembrar disso. Depois de quatro anos a vida melhora, e os presos recebem um salário para comida e roupas. Voltam a se tornar homens e mulheres e vivem uma segunda puberdade. Leo um dia recebe um lenço tão fino, tão delicado de uma russa que o acolhe vendo nele a imagem do filho desaparecido, que não tem coragem de usá-lo e o guarda.
Durante os cinco anos de trabalhos forçados, estranhado de si mesmo, apátrida, irremediavelmente machucado, Leo só recebe uma carta, da mãe, comunicando laconicamente que ele tem um irmão: “Robert, nasc. em 1947”. Leo naturalmente vê no irmão seu substituto, e que a mãe está lhe dizendo que por ela ele pode morrer, que isso significaria apenas economia de espaço em casa. Depois de cinco anos, quem não se suicidou, não foi fuzilado nem morreu de fome volta para casa. Mas nada pode dizer, a tortura e a humilhação foram grandes demais, e quando alguém consegue dizer algo, ninguém quer ouvir. As questões políticas e históricas não são debatidas no romance, pelo menos não diretamente. A Romênia fora aliada de Hitler até agosto de 1944, depois, com a deposição do ditador Ion Antonescu, o rei Michael declara guerra aos alemães e muda para o lado da União Soviética e dos aliados, fazendo acordos que previam inclusive a entrega de todos os teuto-romenos que viviam no país. A deportação — 80 mil entre 17 e 45 anos teriam sido enviados a campos de trabalhos forçados para reconstruir a União Soviética — foi sempre um tabu, pois lembrava o passado fascista do país.
Leo também volta para Hermannstadt. Ele sai do campo de trabalhos forçados, mas o campo não sai de dentro dele. O relógio da sala de seus pais embala sua respiração, é a gangorra da respiração do título original. Leo procura as termas do passado, usando o codinome de “O PIANO”, mas não consegue reatar a vida onde ela terminou, antes de ser deportado, porque é “o piano que não toca mais”. Se a deportação chega a representar um certo alívio para o medo de ser surpreendido em seus encontros homossexuais e punido, confessar sua homossexualidade no campo significaria fuzilamento. Quando casa, ao voltar, e se muda para Bucareste, volta a freqüentar parques escusos. O casamento dura onze anos, mas quando dois de seus parceiros são presos, o tacão da Securitate já age a todo vapor, Leo inventa uma mentira e foge para a Áustria.
Em algumas das passagens do romance percebe-se que Herta Müller pela primeira vez não está narrando uma experiência própria, e sim a de outrem, e isso revela o artifício de sua sensibilidade e mostra como é difícil gritar do interior do inferno, estando fora dele. Há nuvens demais, muita lua, flores, noite, olhos e corações de um registro romântico. O sol é chamado duas vezes de balão vermelho e numa delas comparado a uma abóbora logo em seguida. Nos momentos de maior fraqueza, desconfia-se do fato de o narrador jogar com a única coisa que lhe restou, as palavras, e vê-se algum perfume misturado ao sangue. O mesmo acontece com antromorfismos como chuvas que esquecem a estepe, luzes que olham para suas próprias bocas, ventos que murmuram, todos meio deslocados. A indignação poética não parece autêntica, apesar do horror. Imre Kertész e Primo Levi foram mais sisudos, mais contidos no verbo. As experiências de Auschwitz de Kertész são mais interessantes, assim como as do gulag relatadas por Varlam Shalamov em Contos de Kolyma. Louve-se, no entanto, a capacidade da autora de inventar uma linguagem que lhe permitiu um acesso peculiar aos horrores do século 20, desde suas experiências individuais com o regime de Ceauşescu às experiências de outros nos campos de trabalhos forçados da União Soviética.
No breve epílogo (posfácio, na verdade) de Tudo o que tenho levo comigo, Herta Müller esclarece sinteticamente as origens do romance. Nos sessenta e quatro capítulos breves — às vezes brevíssimos — da autobiografia ficcional de Leo Auberg, a autora elabora sobretudo as conversas com o poeta Oskar Pastior, seu conterrâneo, obrigado a encarar a vida num gulag após o final da Segunda Guerra Mundial, mais os relatos de outros sobreviventes, coletados desde 2001. A mãe de Herta Müller também esteve no campo de trabalhos forçados e a autora nasceu três anos depois de a mãe voltar. Ela própria é, portanto, um produto da capacidade de sobrevivência ao campo de trabalhos forçados. O plano era escrever um livro em conjunto com Pastior, com quem Herta chegou a viajar aos lugares em que ficavam os campos, na Ucrânia, mas o poeta morreu em 4 de outubro de 2006. Só três anos depois é que Herta Müller decidiu usar as conversas e recordações de Pastior, anotadas em vários cadernos, aproveitando algumas de suas criações, como o Anjo da fome (Hungerengel, que soa maravilhosamente poética em alemão), companheiro onipresente de Leo.
Sempre a mesma neve e sempre o mesmo tio
Em 2012, apenas um ano depois da publicação do original na Alemanha, saíram no Brasil os ensaios de Sempre a mesma neve e sempre o mesmo tio, essenciais na compreensão do trabalho poético da autora. Na obra, Herta Müller mais uma vez abre seu fogo poético contra a Securitate, fazendo da polícia secreta o centro de suas questões, o foco de suas amarguras. Dessa vez infância e juventude são elaboradas ensaisticamente, e a autora revela experiências que a municiaram e moldaram seus personagens, inclusive os de Fera d’alma e O homem é um grande faisão no mundo.
Sempre a mesma neve… permite um olhar à oficina da criadora e mostra o parentesco íntimo entre ficção e ensaio, revelando como ela bebe da realidade em suas narrativas. O tom dos ensaios é pessoal, tanto ao comentar o poeta alemão Heinrich Heine quanto ao retratar amigos e autores desconhecidos no Brasil, como o poeta judeu-vienense Theodor Kramer, que nem na Alemanha é conhecido, ou a cantora popular romena Maria Tanase.
Se convida a reler Massa e poder, de Elias Canetti, Herta também conta um interessante encontro com o filósofo Emil Cioran, romeno como ela, que flertou com o fascismo e depois se distanciou do convívio humano no exílio de Paris, largando inclusive a própria língua. No breve ensaio, a Romênia é definida como o “país do fracasso universal” e, quando Cioran vai procurar Herta, cai e esfola o joelho, para em seguida dizer: “Eu a procuro e já caio, logo sou romeno”. Cioran, cético, defende o absurdo de toda e qualquer ação e, velho, se pergunta como poderá lutar, na condição de “mero” espírito que é, contra o corpo, para que seus órgãos não abdiquem da vida.
Um dos ensaios mostra inclusive como nasceu Tudo o que tenho levo comigo e o trabalho com o poeta Oskar Pastior, que inspirou o personagem central do romance, assim como o perdão que a autora lhe concede depois de descobrir que também ele foi espião: ela o julga e não o condena, benévola, depois de no princípio ter se proclamado horrorizada, dizendo que se soubesse do fato não teria chegado a colaborar com Pastior e portanto não teria escrito Tudo o que tenho levo comigo. Mircea Dinescu, poeta romeno igualmente prejudicado pela Securitate, defendeu Pastior desde o início, chegando a dizer que era bom que ele estivesse morto para não vivenciar seu desmascaramento.
Sempre a mesma neve… apresenta um passeio pelos traumas pessoais da autora (o pai que serviu à SS e a revelação de que só começa a escrever depois da morte dele), diretamente vinculados aos traumas romenos no século 20. As armadilhas da Securitate para cooptar espiões com as piores violências morais aparecem sobretudo em Cristina e seu simulacro, o mais longo dos ensaios do livro. Ali vê-se que a polícia secreta continua viva bem depois do fim da ditadura de Ceauşescu e que Herta encara seus próprios autos como um texto surrealista, se perguntando quanta coisa perigosa foi destruída nos dez anos em que se discutiu antes de começar a investigação de um Estado em que quase todos eram espiões. Há gavetas que continuam trancadas, gavetas que ninguém quer abrir, gavetas que precisam ser abertas, os brasileiros também deviam sabê-lo.
O ensaio que abre o volume é o discurso de Herta em agradecimento ao Prêmio Nobel. Ele já mostra o amor da autora às palavras, que desde o princípio significam um refúgio redentor ante a dureza da realidade. Em uma frase genial, na qual se refere aos colegas de trabalho, animais de rebanho, situação aliás delineada de modo semelhante em O compromisso, Herta diz: “No fundo, eles me puniam porque eu os poupava”. O espaço para o lirismo está presente até nos títulos dos ensaios: Na beirada da poça cada gato tem um jeito diferente de pular.
Mas a poesia também sabe ser terrível, por exemplo quando a neve registra passos que não podem mais ser apagados nem disfarçados e o esconderijo da mãe é descoberto, levando-a aos campos de trabalho forçado da União Soviética junto com Pastior, afinal ambos eram descendentes de alemães e portanto perigosos. Tanto a mãe quanto o poeta sobrevivem, mas marcados para sempre. Quando Herta deixa o país, a mãe, que merece vários monumentos mínimos na obra, inclusive percebe que é “sempre a mesma neve”, e esboça o conceito de “Schneeverrat”, a “traição da neve” desvendada numa única palavra.
O tio espiando na esquina também parece sempre o mesmo e a coletânea traça o caminho que levou a pastorinha de vacas num vale do interior romeno a chegar ao mundo, constituindo um inventário do trauma e da formação. No caminho, algumas provas de que toda a dignidade, toda a ternura do mundo podem dormir num simples lenço, a metáfora mais perfeita da solidão humana.
Os dois novos romances
Com a publicação recente de Fera d’alma e O homem é um grande faisão no mundo, Herta Müller consolida sua obra no Brasil. Os dois novos romances mais uma vez giram em torno da Securitate, confirmando definitivamente a tese da zahir.
Fera d’alma é o romance central da trilogia inaugurada em 1992 com A raposa já na época era o caçador (Der Fuchs war damals schon der Jäger), ainda inédito no Brasil, e concluída com O compromisso (Heute wär ich mir lieber nicht begegnet, de 1997), e é um dos romances mais conhecidos da autora: ganhou o Prêmio Kleist em 1994 e, pela tradução inglesa, o International IMPAC Dublin Literary Award, o mais bem pago do mundo a uma obra individual. A narradora em primeira pessoa é uma romena pertencente à minoria alemã e tradutora como Herta Müller. Nos ensaios de Sempre a mesma neve… é possível constatar definitivamente como ficção e realidade às vezes se confundem na obra da autora. O título original, Herztier, é um neologismo que tenta alcançar a palavra romena inimal, fusão entre inima (coração, Herz) e animal (Tier). No centro filosófico do romance, a tese de que todo ser humano carrega um inimal dentro de si, que determina seu caráter e seu comportamento.
Estamos nos anos 1980 e a história começa com Lola e seus casos amorosos, meras fugas fracassadas. A narradora mora com Lola, lê o diário da amiga depois de ela se suicidar e, traumatizada com o que acontece, deixa de usar cinto — objetualizando assim seu horror à tragédia — durante anos. A narradora conhece três rapazes — Edgar, Kurt e Georgn — e com eles escreve poemas ofensivos ao regime em meio a seguidos interrogatórios. A mãe pensa que ela é puta.
No romance inteiro as correspondências são controladas, pessoas desaparecem, mães estão doentes, pais foram da SS. Um conhecido é morto ao tentar fugir, os amigos perdem o emprego, só Kurt é que consegue se manter firme. Georg é espancado, o tribunal não acolhe sua queixa. A narradora e Edgar deixam a Romênia, e mesmo na Alemanha continuam ameaçados. Kurt permanece no país, mas seu destino não é menos terrível. O romance é uma coleção de vidas que se apagam sufocadas pela Securitate num país em que até as recordações da infância são embotadas e os cânceres escondidos, tanto os literais quanto os metafóricos.
As imagens vigorosas e as metáforas potentes, as frases breves e as impressões sincopadas de Fera d’alma (“O saco com o rio não era meu. Ele não era de nenhum de nós. O saco com a janela não era meu. Mais tarde, ele foi de Georg. O saco com a corda foi, ainda mais tarde, de Kurt.”) se repetem em O homem é um grande faisão no mundo, e aliás em toda obra de Herta Müller. Este tem capítulos bem breves, às vezes de menos de uma página, mas nem por isso é mais fácil. Tropeça-se nas alegorias, no surrealismo, na poesia fragmentária da autora: “Na fonte a roda gira porque a lua é grande e bebe água. Porque o vento se enreda nos raios da roda. O saco [de novo um saco] está úmido. O saco jaz sobre a roda traseira como alguém que dorme. ‘O saco repousa atrás de mim feito um morto’, pensa Windisch”.
O romance conta a vida arcaica num povoado romeno. A família Windisch espera pelo passaporte que lhe permitirá buscar a vida, mais uma vez, na Alemanha. Mas os homens são faisões e têm asas curtas demais para voar. Os machos com suas penas vistosas permitem que as fêmeas, mais discretas, consigam fugir com a cria, enquanto são abatidos.
A vida é a espera por um futuro que não existe, porque a ignorância e a crendice tolheram o presente em sua teia. A macieira devora seus próprios frutos. Uma lágrima de brinquedo, com água da chuva dentro, desperta a atenção cativa dos presentes, enquanto uma lágrima de verdade escorre sobre uma mosca que antes se refocilara num pássaro morto: “A mosca pousa-lhe na face. A lágrima escorre sobre a mosca. Esta voa pelo quarto com a ponta das asas molhadas. Pousa na mulher de Windisch. (…) É a mesma mosca que estava embaixo do papa-figo”. Filhas são moedas de troca para conseguir carimbos, e Amalie paga o pato na mais antiga das moedas, repetindo o destino da mãe.
Bailando entre a impotência e a desconfiança, entre a resignação e a rebeldia, ambas infrutíferas, o que resta ao final — ao final dos dois romances, ao final de toda a obra de Herta Müller — é sempre uma grande desesperança.
Mais vidas apagadas.
Almas feridas.
Feridas incuráveis.
Arremate
Herta Müller jamais poupou seus conterrâneos teuto-romenos que aderiram ao nazismo e posteriormente aqueles que se submeteram à Securitate. O trabalho com o passado nazista e com o presente deteriorado da Romênia, cheio de normas morais e tacanhice, já marcara seu primeiro livro, a coletânea de contos intitulada Depressões, e continua visível no romance mais recente, Tudo o que tenho levo comigo.
Já desde seu primeiro romance no Brasil, O compromisso (que no original leva o belo e longo título de Hoje eu teria preferido não me encontrar comigo), publicado por aqui em 2004, antes ainda da láurea do Nobel, a Securitate e a experiência com os horrores do regime romeno mostrou ser o foco principal de Herta Müller. O romance já aborda os rituais dos interrogatórios freqüentes aos quais é submetida a personagem central. A viagem em direção ao agente da Securitate é um pesadelo, a vida passa por sua cabeça, e a estação final é o absurdo, enquanto o fluxo da consciência é interrompido ritmicamente pela entrada e saída de passageiros. O romance aborda a onipresença do denuncismo e da traição, o medo que acaba sempre vencendo, a loucura diante da realidade, que erige um mundo tão errado a ponto de a felicidade necessariamente se tornar impossível. A narradora é indesejada desde o princípio. No romance — assim como em outras obras da autora — não são feitas perguntas, não há ponto de interrogação, muito menos exclamações ou pontos que as marquem.
Herta Müller quebra o silêncio, arranca a mordaça “eterna” imposta pelo sistema totalitário de Ceauşescu e sua Securitate a fim de investigar o significado do estigma, de averiguar em que medida é irreversível a avaria anímica causada pelo tacão de um Estado que invadiu sua casa, sua família e seu ser (quando descobriu, por exemplo, que sua melhor amiga a espionava). A escola do medo encarada na infância marcou Herta Müller para sempre, assim como o eterno dilema entre ficar e partir, e a dificuldade de chegar quando a fuga se tornou necessária.
A publicação de Fera d’alma e de O homem é um grande faisão no mundo, junto com os ensaios mais recentes de Sempre a mesma neve e sempre o mesmo tio apenas mostram como a tese do zahir borgiano esboçada no título tem seu fundamento. A Securitate é o astrolábio e a bússola em que a autora mede sua dor, que vai muito além da mera e metafórica fixação por uma moedinha de vinte centavos e pode ser bem mais terrível que um tigre de Guzerat.