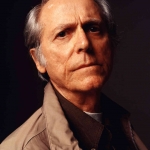Começos e mitos de origem
“A história parece esvaziada de passado e futuro, de contexto e consequência”, diz Martin Amis em uma das primeiras resenhas de O anjo Esmeralda, primeira coletânea de histórias de Don DeLillo (e seu vigésimo segundo livro). Alguns dos contos já haviam sido publicados em revistas e periódicos ao longo da prolífera carreira de DeLillo. Lançar uma seleção de contos a essa altura foi ideia de seu editor. Os contos cobrem o período entre 1970 e 2011, e a cronologia parece ser o único princípio organizador dessas histórias — pequenas pérolas que não são nada do tipo “uma pequena amostra do poder de DeLillo”, pelo contrário: não devem nada aos romances que tornaram DeLillo conhecido.
Como começa uma carreira literária exemplar como a de DeLillo? Com Americana, na década de 70, e a descoberta, ao longo de quatro anos de redação, das exigências a que teria que se submeter se quisesse vir a ser um escritor sério? Com as imagens televisivas do assassinato de Kennedy, repetidas em loop até se instalarem de vez na memória americana e colidindo o trajeto pessoal de DeLillo com o da História, justapondo memória, filme, tecnologia e morte?
Ou antes, quando DeLillo largou o emprego de publicitário e alugou um apartamento em cima de um túnel? Para insuflar o mito das origens e dos começos, nada melhor do que dizer o que a literatura de DeLillo não é, aquilo com o que ela jamais poderá se identificar, dada a natureza de onde se origina:
Em outras palavras, eu estava escondido. Eu me sentia escondido — mas, sabe, eu tinha uma vida, eu tinha amigos, eu tinha filmes para assistir, e eventualmente quando comecei meu romance, meu primeiro romance, foi o que eu fiz. Eu não tinha o sentimento romântico de ser um jovem escritor na Paris de 1920. Era o Queens-Midtown Tunnel, de onde eu estava escrevendo! (nota: dito por DeLillo em conversa com Franzen.)
Coração das trevas
Criação, o primeiro conto, que não tem contexto nem consequência, encena um casal em viagem turística ilhado nas Antilhas. Eles vão e voltam do aeroporto, passam por paisagens tropicais, vendedoras de nozes surgem da floresta, “um grupo em fila indiana carregando machadinhas” é avistado. A esposa se frustra, mas o narrador não quer ir embora. Ele gosta de oscilar, de não estar aqui nem lá, de esvaziar-se de passado e futuro. “Você adora o tédio. Procura situações chatas. Aeroporto. Viagem de táxi de uma hora”, diz a esposa. Como se numa versão turística de Coração das trevas, de Conrad, a paisagem exótica emanando uma consciência própria inescrutável para o homem civilizado é o velho tropo que DeLillo retorce em Criação. Ei-lo flutuando na piscina de um hotel exótico:
Eu não sou bobo de achar que estava vivendo algum momento primevo. Era um produto moderno, aquele hotel, planejado para dar às pessoas a sensação de que elas haviam deixado para trás a civilização. Mas se eu não era ingênuo, também não sentia vontade de alimentar dúvidas sobre aquele lugar. Tínhamos vivido meio dia de frustrações, longas idas e vindas num carro, e o toque refrescante da água doce em meu corpo, e a ave a sobrevoar o oceano, e a velocidade daquelas nuvens baixas, aqueles imensos píncaros a desabar, e a sensação de flutuar sem peso, girando lentamente na piscina, como uma espécie de êxtase com controle remoto, tudo isso me fazia sentir que eu sabia o que era estar no mundo. Uma coisa especial, sim. O sonho da Criação que brilha no limite da busca de quem viaja a sério.
O narrador despacha sua esposa e começa um estranho caso com uma moça que ele — um escritor — logo entremete em suas fantasias exóticas. Se a “consciência da selva” é para o turista algo digno de busca, é realmente um tropo, para a moça é uma realidade mais pragmática (e amedrontadora).
A maneira estranha de falar das pessoas. O dinheiro cada vez mais curto. As viagens de táxi pela serra. A chuva e o calor. E a tensão, a tensão sombria, o tom ou atmosfera ínsita, a lógica infausta do lugar. Era como um sonho, ou um pesadelo de isolamento e imobilidade.
Flutuações, oscilações, isolamento, imobilidade. Apesar de Martin Amis, “o conto soa esvaziado de passado e futuro, de contexto e consequência” parece precisamente o ponto de DeLillo em Criação. “Antes de tudo, há a linguagem. Antes da história e da política, há a linguagem”, já disse DeLillo em entrevista. O Centro da Criação não pode ser em Nova York, “onde há mil significados por minuto”, pois o desejável é a inacessibilidade, o pathos do não pertencimento, o velho sonho de livrar-se da civilização. Se ele “não é bobo” e sabe que a civilização que ele carrega dentro de si não desaparece com o deslocamento espacial, mesmo assim basta ficar imóvel, basta não pensar muito que a ilusão de uma linguagem livre de significados se encarregará de promover a experiência aventuresca do turismo.
Poderíamos ler Criação como Martin Amis e nos frustrarmos pela falta de teleologia, ou poderíamos ler Criação mais na chave irônica de DeLillo: uma pequena história-bolha emperrada na experiência inerte e autorresolvida do turismo capitalista. Mas essa ironia de DeLillo é um jogo de fumaça e luz. Tanto que o próprio narrador sente a precariedade de seu contexto, sente a instabilidade da refração: “Os melhores lugares novos tinham de ser protegidos de nossos próprios gritos de prazer. Creio que acreditávamos, juntos, que uma voz errada é capaz de obliterar uma paisagem”. E Martin Amis me vem falar em falta de contexto.
Terremoto-profecia-literatura
Já que, em DeLillo, uma voz possui enorme poder destrutivo, sugiro que “capitalismo” e “ironia” sejam pronunciados bem baixinho. Em DeLillo, “capitalismo” é um termo soterrado num jogo de palavras-cruzadas ou um monstro sugerido subterraneamente, como uma placa tectônica, de cuja enormidade só conhecemos sua metonímia na superfície. (Eu as imagino como gigantescos biscoitos rochosos deslizando sob a terra. Também nunca vi um capitalismo).
Em outro conto, A acrobata de marfim, há verdadeiras placas tectônicas em ação. Na ocasião de um terremoto na Grécia, DeLillo sai recolhendo a recepção simbólica e midiática da catástrofe na terra que deu origem à cultura ocidental: insegurança, espetacularizações, piadas, turistas tirando foto. Para DeLillo, tudo é um sinal.
Profeta é aquele que domina símbolos e sinais. Dando uma volta no parafuso, Ricardo Piglia, em Formas breves, sugere que arte de narrar (um conto) baseia-se na leitura “equivocada” dos sinais. DeLillo já declarou ter “apenas” se inserido na tradição dos contos de Tchekhov, Hemingway e Flannery O’Connor, em cima da qual Piglia trabalha para buscar suas teses sobre o conto. O conto narra duas histórias, diz Piglia, e o segredo é fazer com que a narração participe dessas duas lógicas narrativas distintas — uma aparente, a outra subterrânea. O misterioso efeito, bem próprio à forma breve, de significados ocultos sendo disseminados seria resultado dessa má interpretação deliberada dos sinais da narração da superfície. Essa desleitura, em DeLillo, faz com que a invisibilidade daquilo que é mobilizado subterraneamente, daquilo de que só temos os sinais na superfície, seja a expressão de algo mais terrível do que uma destruição espetacular.
A acrobata de marfim opera sobre esse desvio da imaginação do desastre. A personagem principal, Kyle, tem a vida suspensa, paralisada pela expectativa de um próximo terremoto.
Temia que tudo parecesse estar normal. Era terrível pensar que as pessoas eram capazes de retomar tranquilamente a rotina caótica de uma Atenas com os nervos em frangalhos. Não queria ser a única a pensar que alguma coisa havia mudado radicalmente. O mundo se reduzira a um lado de dentro e um lado de fora.
“Eu estou reduzida a um instinto puro, racional, canino”, diz ela. Para DeLillo, como para O’Connor, os terremotos que importam são aqueles que geram o abalo de noções simbólicas tradicionais como identidade, normalidade, o Eu. Terremotos imaginários com tremores de verdade.
Mídia e civilização (por enquanto tudo bem)
Para ser ou apresentar-se como real, a experiência precisa ser minimamente compartilhada. É necessária uma sensação de comunidade. O terremoto desobstrui a percepção de Kyle. Revelação, afinal, é o “levantar do véu”, mas a revelação nunca se completa, nunca se livra da roupa pesada dos sinais. “Queria ouvir alguém dizer exatamente isso, que a crueldade existia no tempo, que estavam todos desprotegidos no fluxo do tempo.” Os sinais são uma proteção.
Se a civilização existe para proteger a si mesma da morte (simbólica ou natural), em A acrobata de marfim a arquitetura é a mídia por onde a história dessas mortes será contada. Basta vigiar as paredes.
Não só as paredes são a mídia mais expressiva, mas também a própria personagem se torna uma mídia (cujo significado mais elementar é o de processar informação): “Os temores penetravam seu fluxo sanguíneo. Ela escutava e esperava”. Seu corpo não é mais seu, é uma mídia por onde se processam más notícias, a que ela está sujeita. “No momento, só tem um assunto. Esse é o problema. Antes eu tinha uma personalidade. E agora, o que é que eu sou?” A acrobata de marfim é a história da mulher que se transformou em um sismógrafo.
Por mais pomposos que sejam termos como civilização, mídia, o Eu, eles podem acabar desviando o foco de outra qualidade exemplar de DeLillo: o acolhimento. Sua prosa acolhe solitários, dando ênfase em particular a uma regra que parece geral da literatura americana contemporânea, ainda que discutida entre nós muitas vezes de modo pouco expressivo (para não dizer bobo): diminuir a solidão. Não apenas porque os personagens de DeLillo são quase sempre solitários, não se trata de identificação, mas porque, em DeLillo, inércia e solidão são atos eloquentes, são expressões. (Quando os personagens de DeLillo conversam uns com outros eles parecem estar mais redundando informações do que de fato conversando). Ficar parado, sozinho, apenas olhar e escutar os atos falhos da civilização dentro de nós.
Em DeLillo, corpo é mídia, e se mídias processam informação, informação processada significa formas — imagens, palavras, sons. Ao longo de O anjo Esmeralda essas formas (tornadas mensagens) são evocadas seja por um quarto vazio, seja pelo espaço sideral, seja por uma ilha turística. “O conteúdo de uma mídia é sempre outra mídia”, dizia Friedrich Kittler via Marshall McLuhan, e a literatura em geral, e DeLillo em particular, serve também para direcionar nossa atenção para essas vozes e imagens de dentro de nós — que por sua vez são traçadas por DeLillo de volta para épocas onde a palavra civilização possuía o significado mítico de uma obra colossal a ser um dia completada. É a crença de que com o avanço tecnológico um dia estaremos seguros. Se protegidas na noção de civilização estão algumas verdades como a precariedade de nossa camada de identidade, ou a ameaça de destruição em massa, os personagens de DeLillo são como fotografias de pequenos instantes dessa longa crise (e os Estados Unidos — dado seu caráter automitificador, suas pompas de Império, seu sonho de vida eterna — seu cenário mais expressivo).
Religião e miséria
No conto homônimo, O anjo Esmeralda, seguimos duas freiras em campanhas humanitárias pelo cotidiano de miséria e descaso do Bronx, onde “toxicômanos andam pelas ruas à noite com Reeboks de defuntos nos pés”, e cujas paredes amanhecem cobertas por gigantescas pichações de anjos toda vez que uma criança morre.
Fora dessas ruas do sul do Bronx, as pessoas olhavam para [irmã] Edgar e pensavam que ela existia fora da história e da cronologia. Mas em meio ao lixo e ao entulho Edgar era uma presença natural, ela e os monges com seus mantos. Que figuras poderiam ser mais apropriadas que aquelas, que trajes mais condizentes com ratos e pestes?
Contra certa crítica pré-fabricada que junta religião e populismo no mesmo saco, o conto de DeLillo lembra um trecho de um ensaio do filósofo Stanley Cavell sobre a relação entre autoridade e revelação. Quem tem autoridade para declarar que presenciou uma revelação? Quem tem autoridade para sofrer uma revelação? O trecho de Cavell, cujo texto se debruça sobre O livro de Adler, de Kierkegaard, serve tanto como uma espécie de framework espiritual para o conto de DeLillo quanto arma para o automatismo dessa crítica que se valeria de umas aulas de pontaria. Vou apenas deixar que Cavell ressoe e seguir adiante.
Nada que um forasteiro possa dizer sobre religião possuirá a violência enraizada das coisas que os próprios religiosos diriam de coração: nenhum ataque brilhante feito por um forasteiro contra (digamos) o obscurantismo será o bastante para um religioso diante da obscuridade real de Deus; e ataques contra instituições religiosas em nome da razão não serão o bastante para um homem que ataca essas instituições em nome da fé.
Noticiário sem mídia
No decorrer do conto, haverá uma aparição: o rosto de um anjo numa billboard. Diferentemente da rotina dos anjos pichados nas paredes (essas telas ancestrais), a aparição causa uma comoção real. Massas se deslocam em busca de revelação. Ao contrário de irmã Grace, que dispensa a veracidade da aparição como algo “feito para os pobres acreditarem”, irmã Edgar não tem tanta certeza. “Pra quem mais santos e anjos apareceriam, donos de bancos e executivos? Coma suas cenouras.”
Pinçando mais um item para o mosaico de termos de DeLillo, há em O anjo Esmeralda, e no conto homônimo, as massas. Em toda a obra de DeLillo, a massa é não gado marxista à espera de uma consciência, mas a própria imagem de uma consciência coletiva monstruosa (uma coisa desagradável, uma coisa de que o indivíduo pensante, racional, sozinho em seu quarto, tenta se livrar, como uma música chata e grudenta; mas que, para a consciência literária de DeLillo, possui a força, novamente, de uma revelação). A linguagem é a liga que une todas essas pessoas juntas numa única realidade, reciprocamente confirmável e encantatória. Que tipo de mágica, que mecanismo se inicia no preciso instante que precede a aparição de um anjo? Como se forma a liga?
As duas olhavam. Olhavam bestamente para o suco. Cerca de vinte minutos depois houve um murmúrio, uma espécie de vento humano, e as pessoas olharam para o norte, as crianças apontaram para o norte, e Edgar se espichou toda para ver o que elas estavam vendo.
O trem.
Edgar sentiu as palavras antes de ver o objeto. Sentiu as palavras embora ninguém as tivesse pronunciado. É assim que uma multidão focaliza a consciência de todos num único ponto.
Se a linguagem pode ser vista como um mapa ou um antídoto compulsório contra a invisibilidade das coisas, DeLillo acumula funções exemplares de cartógrafo e alquimista. Assim como J. M. Coetzee, ao fim de um ensaio, recuperou da obra de Phillip Roth pequenos manuais — como fazer uma luva, como construir uma tumba, como se preparar para a morte —, de DeLillo é possível recortar pequenos mapeamentos como o da citação acima, contendo procedimentos simples, passo a passo, de fazer brotar uma realidade (termo este que talvez figurasse razoavelmente no outro lado da equação noticiário menos mídia.)
Histórias de fantasmas interpretadas literalmente
Passamos por turistas, pela história condensada da destruição da civilização, pela superfície destruída da Terra onde um povo vive num eterno “noticiário sem mídia”, progredindo em O anjo Esmeralda, insuflados de admiração e tontos de vertigem, no meio do caminho chegamos a uma espécie de mortuário. É de bom tom pararmos e contemplarmos os mortos.
Em DeLillo, de maneira radical e elusiva, há sempre as artes visuais, e quase sempre em sua pragmática relação com os mortos. Basta lembrar de O triunfo da morte, que é tanto o prólogo de Submundo onde DeLillo reconstrói uma famosa partida de baseball (para DeLillo, um jogo de história e memória, um “arquivo vivo”) quanto o quadro de Pieter Bruegel, pintor flamenco do século 16, em que os mortos se levantam contra os vivos. No conto Baader-Meinhof, uma mulher passa os dias em um museu, obcecada por uma exposição de pinturas sobre um grupo de terroristas assassinados. A exposição, real, de Gerhard Ritcher, consiste em fotografias dos revolucionários ampliadas em telas enormes e tratadas com técnicas de pintura.
A realidade da mulher, a cabeça, o pescoço, a queimadura da corda, as feições eram pintadas, de um quadro para o outro, em nuances de obscuridade e negrume, um detalhe mais nítido aqui do que ali, a boca borrada numa tela aparecendo quase natural em outra, nada de sistemático.
A personagem é recém-divorciada, recém-desempregada. Come, dorme, vai e volta do museu. Olha e olha. “Ela é como alguém convalescente”, escreve DeLillo. A exposição de Richter a fazia perceber “como uma pessoa pode ficar impotente”.
O que eles fizeram tinha um sentido. Foi errado, mas não foi uma coisa cega e vazia. Acho que o pintor está procurando é por isso. E como foi que a coisa acabou como acabou? Acho que é isso que ele está perguntando. Todo mundo morto.
Em algumas culturas, os mortos são tão perigosos quanto os vivos. Eles influenciam, demandam atenção irrestrita, cobram constante vigília. Histórias de fantasmas interpretadas literalmente. Utilizar o termo “eles ainda vivem na memória” no lugar de “assombração” seria apenas trocar uma terminologia por outra, a nossa, na qual metáforas são resquícios de outro tipo de referencialidade. Embora o sol não nasça nem morra diariamente, nossa vida imaginativa segue de acordo com essa terminologia. O sol ainda nasce e se põe, todo dia, a despeito da astronomia. É impossível estar na Terra e viver de acordo com uma terminologia que se refere a um impossível trânsito de astros gigantescos separados de nós por uma distância que extrapola a escala de nossos instrumentos de percepção rotineiros. Nesse sentido, assim como “sol nascente”, “assombração” é um termo realista, e “viver na memória” é que seria no mínimo um eufemismo. Esse é o tipo de realismo praticado por DeLillo. E é mais ou menos nesse sentido que uma afirmação como “a literatura de DeLillo parece mostrar um mundo escondido” deve ser entendido, e literalmente.
A personagem de Baader-Meinhof olha os revolucionários Baader e Meinhof congelados no museu: “e era esta a sensação, a de que era como se ela estivesse numa capela mortuária, velando o corpo de um parente ou amigo”. À pergunta: de que maneira olhar o terrorismo, DeLillo poderia responder: à maneira de Ritcher, para quem pintar esses terroristas é um tipo de embalsamento. Sepultados nas fotografias estão corpos e ideologias, e com eles o “sentido” dos atos daqueles revolucionários. Que se anuncia, mas teima em não se revelar: um tipo de assombração, um tipo de realismo.
Procedimentos para preservar os mortos
Eis Friedrich Kittler novamente, teórico de tecnologia e literatura que engoliu um composto peculiar de Goethe, Freud, Lacan, Pynchon, Foucault e Alan Turing, sobre embalsamentos e sobre essa “história de fantasmas” que é a vida na Terra: “O que resta das pessoas é o que as mídias conseguem armazenar e comunicar. O que conta não são as mensagens ou o conteúdo… mas sim seus circuitos, o próprio esquematismo da perceptibilidade…”
(Uma paródia de como mídias contêm fantasmas já está presente na literatura pelo menos desde 1922, em Ulysses. No capítulo seis, Bloom vai a um enterro e reflete sobre a natureza da memória e sua relação com a tecnologia.
Além disso como é que você ia poder lembrar de todo mundo? Olhos, andar, voz. Bom, a voz, sim: gramofone. Ter um gramofone em cada túmulo ou deixar em casa. Depois da janta num domingo. Coloque o coitadinho do bisavô Craahraarc! Oioioi toumuitcontente craarc toumuitcontentderrevervocês oioi toumuitr crptschs. Lembra a voz que nem uma fotografia lembra o rosto. Senão não dava pra lembrar do rosto depois de quinze anos, digamos. [Trad. Caetano Galindo])
Baader e Meinhof estão para sempre (o tempo de duração de nossa “era tecnológica”) preservados em mídias — conceito este que, para DeLillo, como para Kittler, vai muito além de uma mera superfície. A mulher-sismógrafo, de A acrobata de marfim, e o escritor, de Criação, reproduzem processos de percepção informacional. Mas neste díptico de convalescência e morte que é Baader-Meinhof — a segunda parte do conto consiste na mulher em casa com um homem que conheceu no museu cujas investidas a enchem de terror —, DeLillo nos traduz os circuitos em frangalhos de uma mulher-mídia a cujo processamento das pinturas dos revolucionários mortos se assomam e ressoam as próprias mensagens em estado de pré-processamento (informação) de sua vida estagnada, vazia, recém-interrompida. Baader-Meinhof é o conto mais misterioso de O anjo Esmeralda, o que menos se revela, e o trabalho do leitor acaba sendo parecido com o da personagem: escutar vozes, decodificar imagens, se virar.
Ou procedimento, puro e simples
O que dizer de Meia-noite em Dostoievski, essa outra obra-prima de O Anjo Esmeralda? Nada teria a simplicidade requerida de um leia, apenas leia. Uma colagem de citações e exposição, à guisa de trampolim para o final, e chega. Dois estudantes caminham por uma paisagem nevada:
Às vezes abandonávamos o significado em prol do impulso. Que as palavras fossem os fatos. Era essa a natureza das nossas caminhadas — registrar o que havia à nossa volta, todos os ritmos dispersos das circunstâncias e ocorrências, e reconstruí-los como ruído humano.
Eis todo o conto. DeLillo articula lógica, matemática, Wittgenstein, processos de percepção, etimologia e pensamento analítico, e os expressa em um irresistível pathos arrogante típico de adolescentes inteligentes.
“Casaco alpino não tem capuz. O capuz não faz parte do contexto”, disse Todd. “É uma parca ou um anoraque.”
“Tem outros. Sempre tem outros.”
“Diz um.”
“Japona.”
“Jaquetão.”
“Japona.”
“A palavra implica capuz?”
“A palavra implica botão tipo cavilha.”
“O casaco tinha capuz. A gente não sabe se o botão era tipo cavilha.”
“Irrelevante”, argumentei. “Porque o cara estava com uma parca.”
“Anoraque é um termo inuíte.”
“E daí?”
“Pra mim é anoraque”, disse ele.
Tentei inventar uma etimologia para a palavra parca, mas não consegui pensar rápido.
“Éramos dois rapazes graves, encarangados em nossos casacos, o inverno impiedoso chegando”. Eles caminham pela linha férrea, o trem passa em alta velocidade, eles contam mentalmente os vagões, chegam ao mesmo número. Encontram um homem encapuzado e dedicam-se, até as últimas consequências, a atribuir-lhe uma narrativa, quem é, para onde vai.
“Imaginar uma linguagem é imaginar uma forma de vida”, a tão citada frase de Wittgenstein. Meia-noite em Dostoievski é a linguagem da inércia analisada, do tédio resfolegando de vida, do solipsismo arrogante de quem acha que o tropo do vazio da juventude vai continuar operante para sempre.
Essa mistura de cientificismo e prosaísmo é DeLillo destilado. Meia-noite em Dostoievski é um resumo, uma imagem, um caleidoscópio de toda sua obra — talvez da própria literatura, se entendida como DeLillo parece entendê-la.
Don DeLillo
Enquanto isso, há o homem, Donald Richard DeLillo. John Jeremiah Sullivan, a respeito de um dos tantos romancistas americanos influenciados por DeLillo, disse que David Foster Wallace era a coisa mais próxima que tínhamos de um “anjo registrador” [recording angel]. Um título que me soa muito mais apropriado a DeLillo, cuja obra parece menos com o que se entende por literatura em maiúsculas do que com um registro técnico de processos obscuros que nos atravessam os sensos. Ao longo dos contos de O anjo Esmeralda, DeLillo torna visíveis os canais que conectam o indivíduo a sistemas, grandes ou pequenos demais (e ainda assim sua obra contém outros elementos que a impedem de ser inserida no esquematismo da categoria do “systems novel”.) Coisas que as ciências e as humanidades passam uma vida desenvolvendo, DeLillo brinca com elas como uma criança brinca de desenhar monstros. Nenhuma surpresa o morador de um túnel passar a vida descrevendo sombras, luzes, sons. Com acesso privilegiado às mensagens que passam por esses canais, descobriu que elas soam encantatórias e primitivas, que nos conectam a uma época em que figuras contendo a história e o destino dos homens dançavam no fogo. Se fogos e paredes foram as primeiras mídias onde os homens podiam se imaginar, o que DeLillo fez foi apenas perceber em mídias modernas o resquício dessa mídia primeva. Como diz um de seus personagens, DeLillo está sempre “purificando o link”: as figuras hoje dançam no noticiário da noite, em marcas de aparelhos eletrônicos, no som de nomes de líderes comunistas repetidos fora de contexto, em quadros, desertos e olhares. Cada coisa um arquivo.