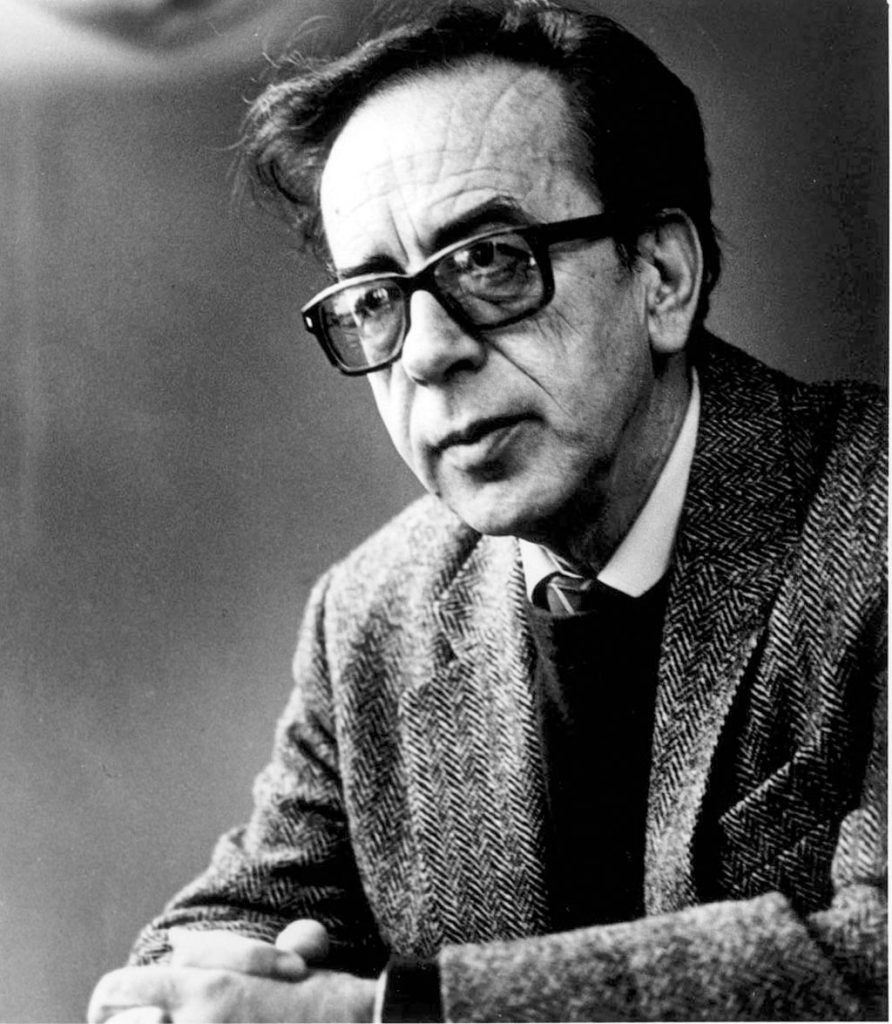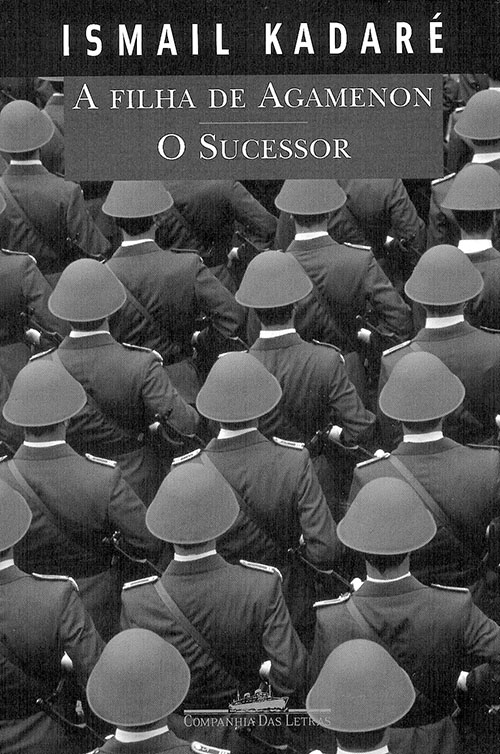O subtexto primário contra o qual se delineia A filha de Agamenon, primeira das duas novelas de Ismail Kadaré lançadas recentemente num único volume, é, evidentemente, o da tragédia de Ifigênia. Como se sabe, a filha do chefe militar grego Agamenon foi sacrificada, para que findasse a calmaria que assolava o porto de Áulis e a as embarcações pudessem rumar para Tróia. Mas há outra narrativa imanente à ficção de Kadaré, que, posto que desconhecida entre nós, revela-se igualmente produtiva. É a fábula de Calvo, certo indivíduo que, uma noite, cai no mundo de baixo.
Desesperado, Calvo recebe o auxílio de uma águia. A ave lhe faz uma proposta dissimulada: leva-o para o mundo de cima, sim, mas em troca de carne. Se Calvo falhar em alimentá-la, despencará para a morte. O herói arrebata um monte de carne e monta na águia. A subida começa e, aos poucos, à medida que a ave lhe pede comida, ele fornece nacos de carne. Mas a ascensão é longa e a carne acaba. Confrontado com a queda iminente, Calvo resolve cortar um pedaço do próprio braço para dar de alimento ao bicho.
Assim a história prossegue, lenta e literalmente agonizante, com Calvo retalhando pedaços do corpo — depois do braço, vêm a coxa, o flanco, etc. — para não ser precipitado no abismo. Quando a dupla chega finalmente ao mundo de cima, as pessoas que ali se encontram mal acreditam nos olhos: o enorme pássaro negro traz no dorso um esqueleto humano!
A fábula representa uma alegoria que se espraia pelas duas novelas do livro, situadas nos últimos anos do regime comunista na Albânia. O desmoronamento do Estado por fim ocorreu de modo relativamente rápido, mas, quando A filha de Agamenon foi escrita, em 1985, “podia-se conceber que o céu e a terra virassem de cabeça para baixo, mas não que a Albânia viesse a mudar”.
De fato, a ditadura parecia correr a todo vapor. De uma hora para outra, intrigas palacianas alçavam toda sorte de gente ao céu ou lançavam-na ao abismo do opróbrio. Pior: infiltrados nas lides dos comitês de bairro, agentes do governo podiam decidir a sorte ditosa ou funesta de toda a população. Ninguém escapava. A delação de colegas, amigos e familiares era prática comum. Exames de consciência constituíam o primeiro degrau de um processo que condenava indivíduos ao exílio, às galés, à morte.
Por mostrar sem meios-tons esse quadro desolador, A filha de Agamenon constituía um risco iminente a Kadaré, que acabou contrabandeando o texto para a França, com a ajuda de seu editor. Ali, junto com duas outras obras, devidamente maquiadas para que os guardas da alfândega albanesa pensassem que fossem tão-somente uma tradução de original alemão, ficou guardada em Paris, no Banque de la Cité.
Assim, vale comparar o papel da alegoria nas obras que consagraram Kadaré com a que existe nas duas novelas deste último livro. Nas ficções toleradas pelo regime comunista, a própria narrativa é alegórica: os personagens e ações representam ao mesmo tempo, veladamente, uma crítica de esconso à tirania — mas, como bastava não vestir a carapuça, o Estado comunista preferiu fazer vista grossa às possíveis críticas, para não ser obrigado a punir um escritor admirado internacionalmente.
Agora, a fábula, desloca-se, pondo-se ao lado da narrativa. Quem a traz para a cena é o jornalista que narra a primeira história. A fábula de Calvo vem a propósito de um dos personagens que ele encontra no caminho, de sorte que é bom resumirmos a ação principal.
O jornalista aguarda a chegada de sua amada Suzana, filha de um “chefe de alto coturno” do governo. É dia da festa mais aguardada do ano, o desfile do Primeiro de Maio. Também é a primeira vez que o jornalista recebe convite para assistir ao cortejo do alto das tribunas de honra.
Se a moça aparecer, o casal declinará a honraria. Há pouca chance de isso ocorrer, porém. Com a subida no escalão do partido, o pai de Suzana espera que a filha contraia núpcias com um cidadão mais adequado. A jovem submete-se ao desejo paterno. Não aparece; sinalizando, com isso, o rompimento definitivo com o amado.
Não há remédio para o rapaz, senão seguir ao desfile. No caminho cruza com três personagens. Um deles é um diretor de teatro que, por ter produzido uma peça com “desvios ideológicos”, cai em desgraça. Ao saber que o amigo tem um convite para a tribuna, o ex-encenador congratula-o de coração.
O outro personagem é uma figura esquiva da Rádio-Televisão. No ostracismo desde a prisão de um parente, ele consegue reerguer-se, servindo-se de um misto de bajulice, embuste e delação. É por sua causa que o narrador recorre à fábula de Calvo. A diferença reside no fato de que, em vez de dar a própria carne de comer à águia infernal, o réprobo a alimenta com a carne alheia.
Enquanto o ex-diretor de teatro se mistura à população indistinta, que assistirá ao cortejo de longe, o funcionário da Rádio-Televisão tem o direito de figurar nos melhores lugares da avenida central. As tribunas, porém, são vedadas tanto a estes dois quanto ao tio do jornalista, que, devido a isso, mira-o com inveja e também com a indisfarçável suspeita de que o sobrinho cometeu algum ato ilícito para merecer tal distinção.
É na fila para as tribunas que este último avista o terceiro personagem, um artista plástico consagrado que, apesar de não disfarçar seu desconforto com a proximidade com o poder, circula na alta roda política. “A que preço adquiriu esse privilégio?”, reflete o jornalista. “Sim, pois tal como todos nós, também ele haveria de ter sua águia, talvez a mais tremenda de todas, a carregá-lo através da escuridão.”
O sentido da fábula de Calvo domina todo o espectro de personagens, sobretudo quando recordamos que o nome Albânia (conforme nos explica a segunda novela) significa “terra das águias”. A condição albanesa facultava ao indivíduo a queda no inferno da iniludível contradição. Pois, para subir, ele se via obrigado pela pátria-mãe a entregar nacos de carne própria ou alheia; mas, subindo, também irremediavelmente cairia, do ponto de vista moral, galgando ao topo despojado da humanidade.
O direito à carnificina
Como apontamos, a outra lenda a repercutir na narrativa é a do sacrifício, não propriamente de Ifigênia, mas aquele a que Agamenon obriga Ifigênia. Quais seriam os motivos para o comandante-em-chefe da esquadra grega imolar a filha? O narrador vê com suspeita a explicação costumeira, isto é, a de que o sacrifício ensejaria à frota uma viagem segura a Tróia.
Calcas, o adivinho que fez o vaticínio e sugeriu a imolação, foi enviado por Príamo para sabotar os gregos. No entanto, ao chegar a Áulis, o troiano passou para o lado dos antigos inimigos. Ou seja, trata-se de um conselheiro, no mínimo, muito pouco confiável. O jornalista chega à conclusão de que Agamenon não imolou a filha devido aos augúrios de Calcas, mas em razão de objetivo mais macabro. Diante de um sacrifício tão terrível como o que o líder realiza, que mais seus conterrâneos poderiam almejar, quem iria opor-lhe, quem não se submeteria? “Ifigênia ofertara Agamenon o direito à carnificina”, deduz.
A história de Agamenon diz respeito, assim, à sede de poder e sangue que atinge os dirigentes, ao passo que a alegoria de Calvo refere-se ao sacrifício geral da população, que, num movimento de ascensão e queda simultânea, vê-se forçada a descarnar-se em benefício da águia-mãe. As fábulas funcionam, então, menos como elemento constitucional do que como comentário abalizador da situação narrada.
O narrador diz que trouxe à baila a história de Ifigênia para buscar o significado da palavra sacrifício em sua origem, quando ainda era “poderosa e sangrenta”. Ao ser trazida ao palco moderno, contudo, ela ecoa muito mais junto aos cidadãos-Calvos amesquinhados e destinados ao açougue nacional.
No início da novela, enquanto ainda espera por Suzana, o narrador é lembrado da festa pelo barulho da música e pelo ruído dos pés dos passantes. Apesar de seu ataque ao pai da namorada, o seu mal-estar, no fundo, volta-se contra a massa indistinta que representa a opinião pública, para quem a união amorosa com ele era inaceitável.
O seu antagonista está, portanto, expresso desde as primeiras linhas, na verdade logo na primeira frase: é a turba, é a população em festa. Seduzida pela propaganda, cega pelo desejo de ser afagada pela mão do Estado, a massa humana se esparrama, estúpida, pelas ruas; acostumada à delação, deixa-se comandar por comitês de bairro corruptos, entrega de bom grado seu quinhão de carne fresca. O Primeiro de Maio marca, desse modo, para o narrador, um duplo sacrifício: o do pai imolando a filha para continuar encharcando-se de sangue, e o do povo, auto-imolando-se irremediavelmente na cena pública.
A arquitetura da vingança
A segunda novela presente no livro reflete a primeira, mas seu andamento é bem diferente. A presença fabular é mais discreta. O narrador não se revela. E, em vez de se passar num só dia, a ação desenrola-se durante vários meses. A trama, como ocorre com freqüência nas narrativas atuais (Kadaré concluiu O sucessor em 2003), recorda vagamente uma intriga policial. Inicia-se com o suicídio ou assassinato do aspirante ao cargo de dirigente máximo do país. O autor teria se baseado no episódio mal-explicado da morte de Mehmet Shedu, primeiro-ministro do governo de Enver Hodja.
O sucessor é o próprio Agamenon, pai de Suzana, mas o entrecho ficou bem complexo. Sua morte não se dá exatamente pela mão da esposa e do amante dela, como sugere a lenda grega, embora a mulher não possa ser eximida de toda culpa — assim como ficam igualmente sob suspeita o ministro do Interior, o próprio dirigente e o arquiteto que reformou a casa.
A palavra-chave para a simbologia da história está justamente aí: a arquitetura. A casa do sucessor pertence ao antigo regime, mas foi completamente remodelada pelo arquiteto, tanto para atender aos ditames hodiernos quanto para obedecer a um objetivo pessoal de vingança. O arquiteto queria fazer a casa mais suntuosa do que a do dirigente, de modo que o proprietário fosse devidamente castigado por sua pretensa hybris. Mas a verdade é que algo permaneceu da casa antiga: um túnel secreto unindo-a à residência do dirigente, por onde, ao que tudo indica, poderiam ter passado o(s) assassino(s).
Kadaré sugere que há um elo entre o despótico governo comunista da Albânia e o não menos tirânico passado — um elo subterrâneo que, nada obstante as reformas de fachada, conduz ao crime e refugia-se na indefinição. O sucessor é visto primeiramente com desconfiança por ter-se suicidado, depois com exaltação por ter sido vítima de hipotéticos inimigos do regime e, por fim, com execração, por supostamente ter sido o cabeça de uma tentativa de complô. Qualquer que seja a explicação, de uma coisa estamos certos: ele nunca convencerá.
O autor chamou estas suas duas narrativas de díptico. A idéia é a de que há entre elas um sentido complementar, com uma obra redefinindo e redimensionando a significação da outra. Como O sucessor, portanto, modifica a leitura de A filha de Agamenon, cuja acepção é bem mais direta?
Em princípio, a teoria paranóica do jornalista precisa ser reavaliada. A julgarmos pelas conclusões do inquérito, o objetivo do sucessor em afastar a filha do amante não seria o de satisfazer a opinião pública, mas o de unir Suzana a um possível sabotador. Mas quem pode fiar no inquérito oficial? A conclusão a que se chega é que a nenhuma conclusão se pode chegar, pois, cada vez que surge uma versão mais ou menos indistinta, esta tremelica com o sopro de danações antigas e desaparece diante do reflexo de incertezas futuras.
O presente, incerto tanto para a Albânia como para a maior parte do mundo hoje em dia, é bem mais difícil de tabular do que o saldo de caducas ditaduras — sem contar, já que estamos aí, do que a contribuição passível de ser fornecida por lendas e fábulas de outra épica.