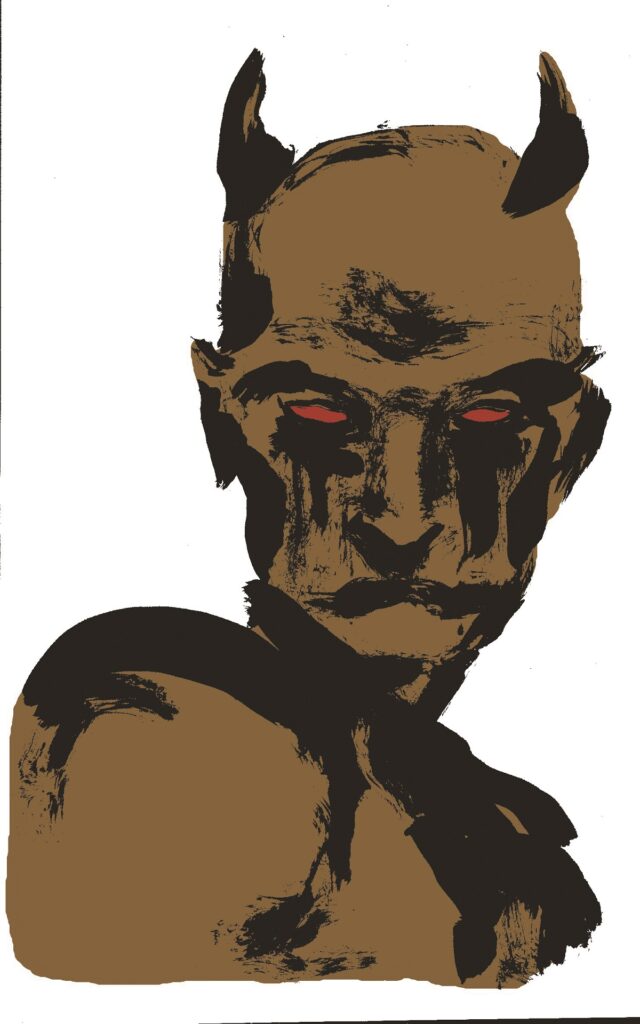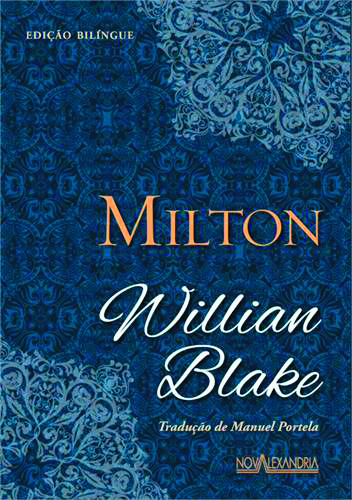O diabo na rua, no meio do redemoinho.
Guimarães Rosa, Grande sertão: veredas
1.
William Blake tinha John Milton em tão alta conta que ele era ousado o suficiente para interpretar a gigantesca obra poética e política deste último muito melhor do que o próprio autor. Para Blake, Milton era superior a Shakespeare, a Edmund Spenser (o autor de The faerie queenie) e até mesmo a Geoffrey Chaucer (o criador de Os contos da cantuária). Ele não era apenas o grande poeta da Inglaterra; era o vate que tinha como único competidor ninguém menos que Homero.
Mesmo assim, Blake acreditava que havia certas falhas no “sistema de pensamento” dele, especialmente sobre o papel de Deus e do Diabo nas revoluções que se abatiam sobre a população terrena. Testemunha direta dos efeitos tanto da Revolução Francesa, que chocou as mentes pensantes da Europa, assim como da Revolução Industrial, que transformou a vida das pessoas comuns, o poeta de O casamento do céu e do inferno (1790-93, já traduzido no Brasil pela mão impecável de Ivo Barroso) tinha uma profunda certeza de que Milton não havia colocado Satã — conhecido então pelo público como o grande vilão do épico Paraíso perdido (1667) — no seu devido papel. O Diabo não era um oponente, de acordo com Blake, e sim a grande força criadora que animava os poetas que cultuavam a imaginação como o verdadeiro fundamento do mundo. Era, na verdade, um herói — e se Milton não admitia isso em público era porque, como bem definiu o seu ardoroso discípulo cento e treze anos depois, se aliava ao “partido do Demônio sem o saber”.
Entre 1804 e 1810, quando William Blake era mais conhecido por suas gravuras iluminadas — verdadeiras obras-primas da arte ocidental — do que propriamente pelos seus versos de tom profético e visionário, ele começou a elaborar um poema épico que teria como tema ninguém menos que John Milton. Intitulado justamente de Milton — um poema em dois livros, sua intenção era a mesma que é descrita no célebre vigésimo-sexto verso de Paraíso perdido: a de “justificar os caminhos de Deus ao homem”. Mas, desta vez, havia uma diferença: se em Paraíso perdido, o vilão era Satã e o papel do herói cabia ao casal Adão e Eva, expulso do Éden pelo criador para encontrar aqui na terra “o paraíso dentro de nós”, agora o salvador da humanidade seria o próprio Blake que consertaria os erros de pensamento de Milton e que o levaria a um novo patamar na história da humanidade.
De certa forma, este é o fio tênue de enredo que conecta as várias visões do longo poema, que devem ser entendidas como se acontecessem de forma simultânea, fora do tempo e do espaço, uma vez que Blake percebeu como poucos que estes dois fatores limitavam o conhecimento humano em todo o seu potencial. Opositor das ideias de John Locke e Isaac Newton, mas também fascinado pelo Iluminismo francês, Blake sabia que a verdadeira mudança no mundo não se devia a causas físicas ou materiais e sim a partir de manifestações espirituais das quais a linguagem humana era limitada demais para expressá-las corretamente. Segundo ele mesmo escreveu em seu outro grande poema, Jerusalém (uma espécie de continuação gigantesca de Milton e também com tradução nacional, de autoria de Saulo Alencastre), — I must create a system or be enslaved by another man’s;/ I will not reason and compare: my business is to create [Devo criar um sistema ou me escravizar por um outro;/ Não vou argumentar e comparar; minha função é criar]. É nesta criação muito própria (dissecada em detalhes por Northrop Frye, no livro Fearful symmetry, como uma reapropriação muito original da cosmologia de John Milton) que ele monta um sistema de imaginação poética que libertará a humanidade da escravidão da física e da ciência então dominantes na nossa História.
As comparações que o próprio Blake faz consigo mesmo em relação a Milton não param por aí. De acordo com S. Foster Damon, em A Blake Dictionary, pode-se dizer que cada livro de Blake tem sua contrapartida em outro de John Milton — e o mesmo acontecia com suas respectivas biografias. Ambos tiveram pais que foram expulsos de suas respectivas paróquias religiosas; ambos estrearam na poesia como grandes promessas, mas renunciaram a ela porque preferiram interferir nos negócios políticos da Inglaterra e da Europa; ambos tiveram relações tumultuadas com suas esposas; depois, os dois se exilaram do burburinho da sociedade e conseguiram produzir os seus três grandes poemas, aqueles que lhe dariam a imortalidade literária — o que só foi possível porque ambos decidiram pela obscuridade do silêncio e do segredo.
O épico de William Blake que corrigia a obra de seu mestre John Milton mostra ao leitor comum, acostumado apenas a uma poesia linear e exata, de que os dois fizeram de tudo para escapar do redemoinho das revoluções que atingia a Inglaterra (chamada de Albion no sistema blakeano). Isto fica claro nos versos de abertura do poema, em que Blake se pergunta, se “porventura o Semblante Divino/ brilhou nestas colunas nebulosas?/ E foi Jerusalém edificada aqui/ Entre Fábricas Satânicas tenebrosas?” (de acordo com a vigorosa tradução do português Manuel Portela, em edição recentemente publicada no Brasil pela Nova Alexandria). Eis a ferida da dúvida que incomodava o sucessor do vate maior: Como a representante da Cidade de Deus na Terra existia em paralelo num mundo onde o progresso tecnológico cobrava o seu preço matando o espírito da imaginação poética?
Em Milton e no restante da obra de Blake, não há uma solução ou uma síntese possível deste dilema, por mais que o criador de Jerusalém queira encontrar uma unidade em seu sistema particular. Mas isso não ocorre porque ele espera por uma “Grande Ceifa & Vindima das Nações” que resolveria todos os problemas da sua era de uma vez por todas. O erro de Blake, por assim dizer, é não ter compreendido que Milton já tinha articulado perfeitamente a solução desses mesmos dilemas ao dramatizar os riscos de se escolher viver de acordo com a liberdade interior, orientada na figura de Jesus, filho de Deus, em especial no famoso episódio da tentação no deserto, narrado em Paraíso reconquistado.

2.
Se Paraíso perdido é conhecido pelo público como o grande épico que mostra o ser humano dilacerado entre Deus e o Diabo, Paraíso reconquistado (1671) é um poema em uma escala muito menor, próximo de uma pastoral, no qual o seu principal tema é a liberdade redescoberta em uma vida maturada em segredo. E para que este tema seja desenvolvido a contento, Milton o articula por meio de dois pólos simbólicos: o deserto e a ascensão.
No poema anterior, os exílios de Satã e do casal adâmico eram a intersecção que unia as duas pontas do início e do fim, formando uma imagem circular em sua estrutura dramática, a de que a condição humana era basicamente um exílio perpétuo; agora, Jesus é retratado como alguém que também vive exilado de seus pares — mas de uma forma muito peculiar, já que ele não é alguém que foi expulso do Éden. Jesus pertence a algum lugar, mas Milton faz questão de não explicitar onde este “novo país” ficaria pois o tema do seu pequeno épico é justamente a vitória de uma identidade — o Filho de Deus que enfim descobre a sua missão na Terra — perante as tentações de uma vastidão [waste wilderness] que o quer transformar em um detalhe microscópico na imensa engrenagem satânica do poder.
Não por acaso, de acordo com Jean Chevalier e Alain Gheerbrant em seu Dicionário de símbolos, o deserto é o lugar dos desejos e das imagens diabólicas exorcizadas; a terra árida, desolada, sem habitantes, que significa, sem dúvida, a possibilidade de um mundo afastado de Deus. A imagem do deserto é uma contínua presença tanto no Paraíso perdido como no Paraíso reconquistado; é um deserto que impede o acesso ao Paraíso; Adão e Eva descem até ele após a sua expulsão; a História é retratada como um deserto até o momento da Segunda Vinda; e depois Milton cantará de que, ao vencer a tentação satânica, seu poema fará que todos se lembrem do “Éden ressurgido do vasto ermo”.
Ao contrário do que muitos pensam, Paraíso reconquistado não é uma sequencia de Paraíso perdido, mas sim um complemento temático. Partindo dos relatos bíblicos coligidos em Mateus 4:1-11, Marcos 1:12-13, e Lucas 4:1-13, além das outras tradições exegéticas, Milton prefere seguir a ordem das tentações narrada por Lucas em relação aos outros dois evangelistas — e, assim como o épico anterior, também começa o seu poema in medias res, com o batismo de Jesus por João Batista.
Do mesmo modo que em Paraíso perdido, as palavras obediência e desobediência são os termos centrais para se entender o drama que acontecerá em Paraíso reconquistado, um drama que, devido ao caráter de diálogo a ser apresentado, não seria um exagero chamá-lo de um drama da persuasão. Satã quer convencer a Jesus que a sua visão de mundo é a única que vale a pena, enquanto este resiste a essa persuasão tortuosa por meio de uma retórica que se apresenta não apenas como verossímil, mas sim como a mais verdadeira de todas, mesmo que isso implique de não usar as palavras para deixar o silêncio repercutir na mente do leitor. No caso, o silêncio entre as palavras é também um reflexo da vida vivida em segredo que Milton insiste que foi a base da educação do Cristo quando era criança e que é a sua função como poeta narrar “os feitos mais que heroicos, mas secretos,/ por várias eras sempre imemorados;/ que injusto é tanto tempo sem ter canto” (na excelente tradução de Guilherme Gontijo Flores, Adriano Scandolara, Bianca Davanzo, Rodrigo Tadeu Gonçalves e Vinicius Ferreira Barth, publicada no Brasil e acompanhada das gravuras feitas por William Blake, inspiradas no poema).
Por outro lado, o segredo tem um caráter ambivalente para quem vive nele: ao mesmo tempo em que precisa do silêncio para se resguardar nele, há alguma espécie de poder em seu reduto — e este poder também pode ter a sua tentação, já que impede de Jesus assumir a sua identidade como Filho de Deus. Para Milton, o segredo tem a ver com a ideia de um tesouro guardado, do “talento” que está enterrado e que, se não for bem utilizado, sem dúvida será desperdiçado por quem deve usá-lo de acordo com os mandamentos do Evangelho. Há uma angústia que se origina em quem vive no segredo, justamente pelo seu peso interior, tanto para aquele que o guarda quanto para aqueles que o temem.
No Paraíso reconquistado, as pessoas que vivem ao redor de Jesus sabem que sua identidade ainda está em segredo, especialmente Maria e seus futuros discípulos André e Simão. E isso os perturba. Afinal, o que esse homem fará com tal poder? Essa dúvida afeta até o próprio Jesus quando, logo após o seu batismo, ao ser devidamente apresentado às hordas celestiais e infernais, pondo Satã em alerta a respeito do surgimento desse “novo rei”, ruma em direção ao vasto ermo.
Neste aspecto, o que surpreendeu tanto os atuais leitores como os contemporâneos de Paraíso reconquistado é o fato de que Milton preferiu mostrar a vitória de Jesus perante as falsidades do poder não por meio de sua Paixão e sim pelo episódio da tentação no deserto. De acordo com Barbara Lewalski, há motivos pessoais para tal escolha: eles se devem às próprias convicções de Milton de que o auto-conhecimento e o domínio de si mesmo eram regras fundamentais para qualquer ação pública que valesse a pena e que atuasse no mundo; a tentação por Satã permite ao poeta apresentar as inquietações de um Jesus como um grande épico interior e como o modelo para o conhecimento correto.
Satã desconhece qual é a verdadeira natureza de uma majestade — e esta será a lição que Jesus lhe dará no confronto que os dois terão no deserto, como veremos em breve. Mesmo assim, o rival parece não entender isso e insiste no autoengano usando e abusando de qualquer ação espetacular. Eis mais uma das inúmeras ironias paradoxais que Milton faz na construção dramática do poema: Satanás parece criar toda a ação do drama, dançando ao redor desse suposto Messias em um movimento febril, enquanto Jesus permanece quieto e imóvel, germinando suas respostas certeiras no segredo e no silêncio. A verdadeira ação ocorre na intimidade de Jesus, onde também a verdadeira mudança dramática acontece e progride até o completo reconhecimento de que a natureza de ser “Filho de Deus” não consiste em exibições exteriores e sim em um mergulho profundo rumo ao que Milton chama de “homem interior” [inner man].
Para que tal descida tenha efeitos duradouros no leitor, Milton desenvolveu uma estrutura complexa para o poema, centrada no paradigma de que Jesus é uma espécie de “segundo Adão” e que vencerá cada uma das tentações que o primeiro não conseguiu resistir enquanto vivia no Éden. Essas tentações ofertadas a Jesus são baseadas nos papéis que um rei deve ter quando se está no comando: o de ser um profeta ou um educador; o de ser um soberano, o comandante e o defensor da sua igreja e do seu povo; e o de um sacerdote, que deve mediar e, se necessário, sacrificar-se para garantir a redenção dos fiéis.
Para Milton, Jesus vem para ensinar o ser humano a ouvir o seu oráculo interior, a consciência que não teme as famas e as pompas evidentes de um poder que pouco importa transformar a pedra em um pão pois o verdadeiro alimento não está nas coisas exteriores — e sim dentro de cada um nós. Satã deseja ser o Filho de Deus, mas quer desobedecer ao Pai a qualquer custo, sem saber que, para ter a verdadeira glória, o certo é imitar Deus de uma nova forma, já antecipada no Paradise within, o “paraíso dentro de si” que o arcanjo Miguel ensinou a Adão e Eva no momento em que foram expulsos do jardim sagrado. Ele não consegue entender como, tendo a aparência de um homem comum e sendo um mero filho de carpinteiro, Jesus pode ter tamanha fortaleza moral para resistir a esses flertes com o desastre pelos os quais a humanidade sempre faz questão de se enamorar.
Raras vezes em sua obra, John Milton conseguiu articular tão perfeitamente — e em todos os seus estágios — como é e como acontece em termos concretos o que seria a liberdade interior. A verdadeira natureza de ser um rei está na disciplina interna que se impôs para dominar as suas “paixões, desejos e medos”; é aquele que reina em si mesmo, sem se preocupar com as coroas de ouro, ao mesmo tempo em que reconhece que governar é, antes de tudo, aceitar o seu fardo como uma coroa de espinhos, que sabe permanecer firme em sua posição e apenas esperar por algum sinal providencial. Como contrapartida, ter um reino na Terra é se submeter à anarquia interna do povo, da multidão que não sabe como se orientar dentro das paixões, esquecendo-se da luta por uma virtude que poucos podem manter em suas vidas. Recusar a tudo isso é o verdadeiro poder pelo qual Jesus educará os fiéis; rejeitar a majestade e a soberania oferecida pelos potentados é a maneira justa de transformar-se no único monarca possível, sempre tendo como meta de imitação a visão correta de um Deus que está além de qualquer conceito humano, ao eliminar qualquer rivalidade possível e assim atraindo o “âmago da alma”, a parte nobre que governa o “homem interior” [inner man], na conquista permanente da sua real identidade.
O que o poeta inglês propõe é algo mais radical — e Paraíso reconquistado é o poema que consegue simbolizar isso com uma clareza conceitual e dramática que ainda deixa os leitores surpresos: de acordo com ele, o verdadeiro governo só acontecerá se procurar Deus dando plena atenção ao “oráculo interior” [inner oracle] que guia a parte mais nobre da alma [nobler part], o homem interior [inner man] de cada indivíduo que permita voluntariamente que isso aconteça em sua vida, unindo a razão e a liberdade humanas em uma hierarquia que jamais dará amostras de estar em uma crise.
Talvez seja esta a razão pela qual Milton prefere não chamar Jesus pelo nome de “Cristo”: ao preferir pela transliteração anglicizada de Yeshua, um nome comum para um hebreu do primeiro século da nossa era — assim como o de Adão tem o seu significado estendido para a “humanidade” no Paraíso perdido —, o poeta rejeita qualquer majestade que possa haver ao chamá-lo de “Ungido” — a tradução grega para Mashiach, a palavra hebreu para “rei” ou “sacerdote” e do qual os reinos de Carlos I e Carlos II, contra os quais Milton era um feroz opositor, usaram para garantir o famoso “direito divino dos reis”. Milton rejeita a imagem de Deus como um rei porque, para ele, já estivemos próximos do divino tal como ele é realmente; a grande tarefa da humanidade é “reparar as ruínas de Adão e Eva”, conforme lemos em seu tratado Sobre educação, para depois realizar efetivamente a transformação da liberdade exterior para a interior, do profano para o sagrado, do meramente humano para a completude do divino.
Esta transformação se dá concretamente no poema quando Satã ascende ao topo de uma montanha com Jesus. Aqui se dá o segundo pólo simbólico no qual o drama da persuasão é construído — o da ascensão. Ela representa o símbolo de alçar voo, da elevação do céu após a morte. Na definição de Gheerbrant e Chevalier, todas as variações de sua imagem “representam uma resposta positiva do homem à vocação espiritual e, mais do que um estado de perfeição, um movimento em direção à santidade”. O nível de elevação no espaço — seja perto do chão ou em pleno céu — “corresponde ao grau da vida interior, à medida segundo o qual o espírito transcende as condições materiais da existência”.
A ascensão de Satã e Jesus no topo da montanha é o ápice de um combate entre as forças que querem ir além da “criatura visível e inferior”, rejeitando qualquer espécie de desejo exterior como o poder, a riqueza e o conhecimento, e as forças que querem ter tudo isso como se fosse a única realidade possível. Jesus mostra que há uma chance de ir além dessas superfícies, dessas imagens e aparências que confundem os nossos sentidos; já as tentações satânicas são organizadas em torno de um único princípio: concretizar a metáfora do que é ser um rei, exteriorizando coisas que podem muito bem ser interiorizadas no “âmago da alma” dentro do seu valor verdadeiro. O que Jesus rejeita não é a comida ou a riqueza, a realeza ou o conhecimento por si mesmos, mas a percepção equivocada de que o exterior, o visível, o tangível é a única régua pela qual se mede a realidade. O “homem interior” do Filho de Deus recusa a coroa oferecida pelo próprio Pai em Paraíso perdido — e depois ofertada de maneira maliciosa por Satã em Paraíso reconquistado —, seja na Terra ou no Céu porque é a única escolha a se fazer para garantir a redenção de toda a humanidade após a Queda de Adão e Eva. Daí a insistência de Milton na humanidade de Jesus, recusando qualquer espécie de majestade real ao chamá-lo de Cristo, ou de Ungido: se um homem pode resistir aos encantos de Satanás, se um homem pode recuperar o paraíso que todos nós perdemos, então cada um de nós pode ter a liberdade de escolher, por meio da razão que foi dada só pelo o Pai, o poder de assegurar a nossa própria redenção. Ao contrário do que pensa Satã, nem todos podem ser o Filho de Deus, mas todos podem ser reis de si mesmos.
Para Milton, a verdadeira identidade de Deus deve sempre permanecer no segredo e, portanto, oculto em um manto de silêncio. Não por acaso, o início e o fim de Paraíso reconquistado dão ênfase às ações privadas e interiores do Filho — que são variações do próprio segredo, da intenção profunda de se recolher para uma meditação interior na qual Jesus possa conversar com a sua “parte mais nobre”. Milton indica sutilmente que cada um de nós deve fazer o mesmo: renunciar a qualquer espécie de poder terreno implica aceitar o verdadeiro poder — o de obedecer constantemente o divino que há dentro de nossas intenções e ações. E só o segredo, o silêncio, podem ajudá-los a encontrar o “homem interior” [inner man] com alguma chance de vitória. Quanto atingir tal meta, então o Filho de Deus se despedirá do seu Pai e escolherá voluntariamente, tal como fizeram Adão e Eva, qual será o seu solitary way — que será curiosamente retornar ao “lar materno anônimo” [his mother’s house private]. Jesus sai do deserto com a liberdade interior recuperada, em um caminho solitário que só tem a Providência como guia, recusando a qualquer outro tipo de deus, anjo, rei ou magistrado — apenas a orientação interna do que significa ter um relacionamento com o divino e adentrar em um paraíso que há dentro de cada um de nós em vez de um paraíso que exista tão somente no mundo exterior.
Ao retornar para a casa da sua mãe e não a do Pai, o Filho rejeita o poder e a glória de ser um rei ao se encaminhar para um lugar e para uma vida que não possui nenhum envolvimento com os governos exteriores que devem existir seja na Terra como no Céu. Para Milton, permanecer no segredo e escutar o silêncio, continuar na vida privada, é a forma justa e verdadeira de governar qualquer sociedade.

3.
A pergunta que não quer calar é: O que o leitor brasileiro tem a ganhar ao ler os poemas tão distantes no passado e tão visionários no futuro de William Blake e John Milton? Talvez quem possa nos dar essa resposta seja um homem que conseguiu fazer a ponte entre as revoluções que assolaram a Europa e as que iriam tomar conta do Brasil, o imigrante austríaco Otto Maria Carpeaux. Em um ensaio célebre intitulado A consciência cristã de Milton, ele comenta que o bardo do Paraíso perdido é “o advogado intrépido da maior lição que o cristianismo nos ensinou: do valor único de cada alma humana, valor que se revela na dignidade indelével da consciência livre”. Foi esta mesma lição que William Blake tomou para si e para a sua obra — e daí podemos concluir a causa principal de sua admiração pela vida e pela obra de John Milton.
O leitor brasileiro ganha muito ao conhecer esses dois grandes poetas porque justamente atravessa um momento histórico em que ele não reconhece mais, seja em si mesmo, seja nos outros, o que seria essa “consciência livre”. Oprimido pelas necessidades materiais do dia a dia, pelas seduções inerentes de um poder que jamais saberá se conseguirá manter, pela ojeriza a uma incerteza e a um risco de viver que infelizmente (ou felizmente, dependendo do ponto de vista) estrutura a própria realidade, o Brasil precisa aprender com Blake e Milton de que hoje, mais do que nunca, ele vive aquilo que um grande escritor nosso, tão gigantesco quanto os vates ingleses, disse na epígrafe citada na abertura deste ensaio: a de que estamos vivendo o conflito com “o diabo na rua, no meio do redemoinho”.
Ao contrário de Riobaldo Tatarana — e indo na contramão do caminho descoberto por Blake e Milton —, o brasileiro não sabe mais o que significa ter uma “consciência livre”. A liberdade interior defendida e articulada nos versos de Paraíso reconquistado não é apenas um luxo; é nada mais nada menos que a base de qualquer sociedade saudável e que deseja se manter assim por um bom tempo. Em Grande sertão: veredas, Guimarães Rosa também percebeu isso ao criar a antológica cena em que o jagunço Riobaldo ouve o sussurro diabólico que o tenta a matar um velhinho que encontra pelo caminho, apenas para manter o seu poder diante do seu grupo. No momento em que Tatarana percebe que é o mesmo diabo de todo o sempre, aquele que também quis seduzir Jesus no deserto, o escritor mineiro faz o seu personagem parar tudo e refletir a respeito do fato de que “daí, de repente, quem mandava em mim já eram os meus avessos. […] A porque, sem prazo, se esquentou em mim o doido afã de matar aquele homem, tresmatado. […]Ah, mas, então, do sobredentro de minhas ideias — do que nem certo sei se seja meu — uma minha-voz, vozinha forte demais, de tão fraca, suministrou um cochicho. Foi. Em tão curta ocasião que teve, essa vozinha me deu aviso. Ah, um recanto tem, miúdos remansos, aonde o demônio não consegue espaço de entrar, então, em meus grandes palácios. No coração da gente, é o que estou figurando. Meu sertão, meu regozijo!” (Grifos meus).
Atormentado pelo “diabo na rua, no meio do redemoinho”, pela violência que estimula as ideologias políticas que, no fundo, se igualam na “vastidão dos espelhos” que também perturbava as Guerras Civis Inglesas, das quais John Milton foi testemunha, e as Revoluções Francesa e Industrial que atormentavam William Blake — o Brasil foi abandonando o grande palácio da consciência individual onde poderia habitar e preferiu se deixar escravizar por um sistema em que a imaginação poética deixou de ter a sua vez. Não escutou mais o silêncio e preferiu a falsa transparência (apelidada de “democracia”) que não permite a educação pelo segredo — este sim, o verdadeiro poder que faz um homem (e, por consequência, um país) construir sua personalidade de forma madura e prudente.
A leitura das obras de William Blake e John Milton, mesmo em uma nação periférica como a brasileira, é útil porque, depois que o redemoinho diabólico destrói a tudo e a todos, é sempre bom redescobrir que há também o redemoinho do segredo, aquele em que o diabo pode até habitar no seu núcleo, mas pelo menos já fomos avisados por esses poetas de que há uma forma de se manter livre e escapar da sedução do seu vórtice aparentemente inescapável. A única questão é se agora teremos a coragem de encaramos o deserto que nos espera para, muito tempo depois, começar a realizar a ascensão que devemos conquistar a um custo extraordinário, sempre tendo como meta o grande palácio que habita dentro de nós.