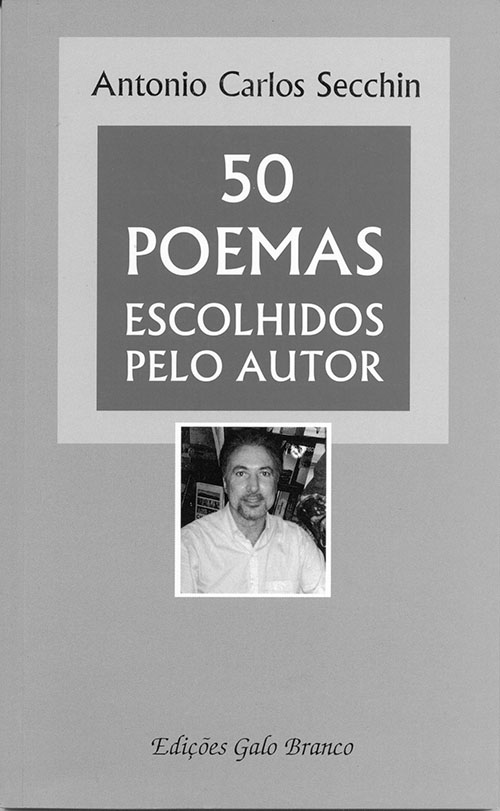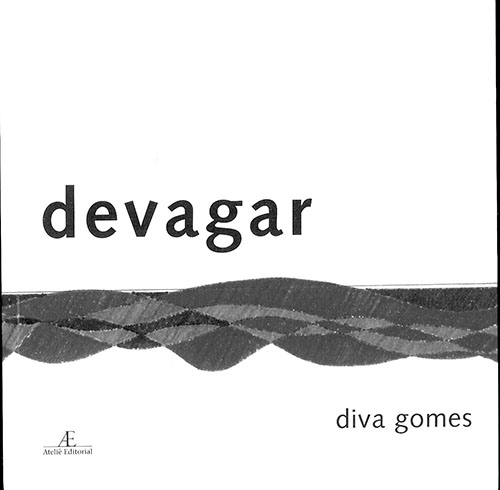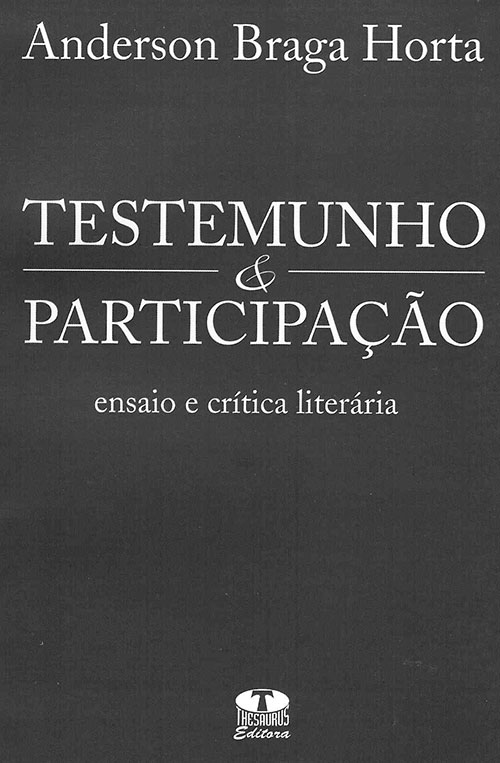Antonio Carlos Secchin é um poeta de poucos livros. Mas como tudo mundo sabe, a poesia não se mede pela quantidade. Secchin escreveu até agora — digamos — o necessário. Membro da Academia Brasileira de Letras, Secchin é um poeta de poemas elegantes. Certamente, o maior ensaísta conhecedor da poesia de João Cabral. Professor titular de Literatura Brasileira da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Secchin tem apenas quatro livros de poemas publicados, sendo que um deles, Todos os ventos, de 2002, é a poesia reunida até então.
Trata-se, no entanto, de um poeta de fino trato. Poeta de grandeza. Antonio Carlos Secchin costuma dizer que o poeta é uma ilha cercada de poesia alheia por todos os lados. Explica: “O poeta insulado em si, no seu compromisso radical de criar uma palavra tanto quanto possível própria, mas abastecido pelo manancial que flui dos mais diversos mares”.
O que alimenta um poeta? Tudo alimenta o poeta: o crítico, o ficcionista, um certo azul nas manhãs de junho, o sobressalto amoroso, a procissão das formigas. Tudo são variações de espanto e de sensibilidade em busca de linguagem, de uma formulação irrepetível e irrecusável que resgate da morte a fulguração da beleza.
Antonio Carlos Secchin está lançando 50 poemas escolhidos pelo autor, um apanhado da melhor poesia de um poeta que prima especialmente pela beleza, em poemas de elaboração preciosa, coisa rara atualmente. Veja-se, por exemplo, este pequeno poema Cartilha, de apenas dois versos: “Me aprendo em teu silêncio/ feliz como um portão azul”. Mais: O poema O ar ancora no vazio: “O ar ancora no vazio./ Como preencher/ seu signo precário?/ Palavra,/ nave da navalha,/ gume da gaiola,/ invente em mim/ o avesso do neutro/ — o não-assinalado,/ o lado além/ do outro lado”.
Veja-se especialmente o poema Notícia do poeta, que tem de constar de todas as antologias de poesia que forem organizadas: “Aos 37 anos e 4 dias, na madrugada de 1915/ o poeta Marcelo Gama despenca do bonde/ e se espatifa nos trilhos do Engenho Novo./ Ao cair, sonhava que morava/ numa nuvem de 2 quartos e 10 armários/ cheios de cheiros e espartilhos de donzelas./ Em torno do corpo,/ policiais e parnasianos se entreolham, assustados”.
“Dificilmente escrevo poesia num regime de continuidade. Às vezes surgem lampejos, versos, sinalizações de um texto — quando posso, anoto, e deixo o material de lado, até que me sinta irresistivelmente tentado a dar um destino àquele fragmento, seja num poema, seja na minha voraz lata de lixo”, diz Antonio Carlos Secchin, confissão de poeta que observa seu cotidiano de olhos abertos. Secchin esclarece que gosta de se alinhar com os desalinhados, os que não têm fórmulas para salvar a poesia, “os que experimentam por necessidade e não por alinhamento grupal, os que não desclassificam a priori um poema pelo fato de ele vir em verso livre ou regular”.
Os sonetos escritos por Secchin representam uma aula, além do desafio que é essa forma de poema. Secchin não aceita as chamadas “regras poéticas”: “O poema”, diz ele, com grande ironia,
sustenta exatamente a impossibilidade de se julgar a poesia a partir de pontos de vista autoritários e cristalizados sobre o que “pode” e o que “não pode” entrar na composição. Nesse particular, o dogmatismo modernista foi tão ou mais intolerante do que o de seus antecessores. Sob o pretexto de libertar a poesia das amarras formalistas, estabeleceu uma série enorme de prescrições. Não creio que, no século 21, se possa ainda fazer a poesia do século 19. Mas tampouco me satisfaço com os renitentes epígonos de Oswald.
50 poemas escolhidos pelo autor, de Secchin, é um livro de poesia, somente isso: um livro de poesia, que dignifica essa poesia tantas vezes aviltada e ferida de morte por alguns. O exemplo disso é o poema À noite:
todas as palavras são pretas
todos os gatos são tardos
todos os sonhos são póstumos
todos os barcos são gélidos
à noite são os passos todos trôpegos
os músculos são sôfregos
e as máscaras, anêmicas
todos pálidos, os versos
todos os medos são pânicos
todas as frutas são pêssegos
e são pássaros todos os planos
todos os ritmos são lúbricos
são tônicos todos os gritos
todos os gozos são santos.
*
Diva Gomes é graduada em Filosofia e tornou-se mestre pela Universidade de São Paulo com a tese A questão da subjetividade na obra de Borges, orientada por Marilena Chauí, aquela que costuma fechar os olhos a qualquer realidade. Professora universitária, atua na área de Língua Portuguesa e Literatura. Está lançando o livro de poemas, Devagar, com um texto indefinido entre o que é poema e o que é prosa. Ou entre o que poderia ser poema e o que poderia ser prosa. O livro quer ser raivoso, mas não é raivoso. Quer ser social, mas não é social. Quer ser contra intelectual, mas cai na própria armadilha. Quer ser político, mas não é político. Deseja ser poético, mas não é poético. Algumas vezes, os versos querem ser versos, mas não conseguem. Quer ser participante, mas também não é. É bem aquela discussãozinha da USP, onde os ricos fazem a festa com o parco dinheiro da periferia. Enfim, Devagar é um livro de poemas que não é um livro de poemas, com alguns lampejos que até merecem ser destacados como poesia. O livro começa bem com uma composição de palavras verdadeiramente poética: “omarazulanoite”. A poesia parece ter ficado aí, na primeira página. O que vem depois é um texto que tem a forma gráfica de poema, mas não é poema, como o poema exige ser. O que é estranho é que em vários momentos a autora brada contra os intelectuais, mas o tempo todo ela fala como intelectual, não como poeta. Na página 25, ela diz, mais em tom de um texto corrido do que de poema, que “a poesia — queiram me desculpar estes senhores/ e tantos outros proibidores julgadores/ adeptos do preconceito — tem uma dimensão/ desinteressada, ou, melhor dizendo, libertária”. Em In praesens ela escreve: “Não ao positivismo, o pragmatismo, o vale-tudo liberal/ conhecimento de fachada, vida morna, moralismo”. Na página 24, ela repete por 16 vezes a frase “o jogo publicitário do sim e do não”. É bem concretinho. Se continuar assim, terá futuro garantido na chamada mídia cultural brasileira. Em outro “poema” ela afirma que “a falta de sensibilidade/ é também uma coisa que abomina”. Por fim, o que pode ser o resumo de tudo: “sensações poéticas eu as tenho todos os dias/ comendo sapinhos/ abrindo verdinhos/ pulando miudinho”.
*
Marcelo Sandmann, de Curitiba, é poeta. Como ele diz, “tem ganas de enterrar o aguilhão, a todo momento, no próprio dorso”. Está lançando Criptógrafo amador, um belo livro de poemas: “viro o verso do avesso/ e no avesso/ do verso/ olho no olho/ espelho contra espelho/ eu me recolho/ e me/ disperso”. Escreve como poeta que é e que sabe lidar com as palavras. O escritor Cristovão Tezza observa na apresentação do livro que “nesse tempo de transição, com a autoridade da poesia em crise, dizer poemas é um risco freqüentemente mal calculado”. Diz ainda que “para o poeta, localizar a sua linhagem, saber o seu lugar, descobrir a própria família, abrir caminho na indiferença e afinar a voz na multidão barulhenta são tarefas que quase sempre vão nos deixando na estrada, o artista e o seu leitor, cada um em sua trilha”. Tezza explica que Marcelo Sandmann “escolheu para escrever uma poesia que se insere na nossa forte tradição coloquial, mas com um sólido contrapeso de formas que não derramam o brilho dos achados, sempre lapidares”. Tem toda razão. Esta poesia de Criptógrafo amador é uma narrativa consistente de um poeta que sabe bem de seu ofício de escrever poemas. No poema Epitáfio (para outra geração fin-de-siècle), ele diz: “Sob/ os escombros/ da torre de marfim,/ o corpo do poeta/ arqueja”. Alerta, no entanto, que “não há motivos para pânico”. Explica que “Os bombeiros o alcançarão dentro de dois ou três dias,/ e até lá/ ele terá/ certamente/ tido ainda/ tempo/ mais do que/ suficiente/ para/ polir seu último verso”. Os poemas primam por ironias com uma narrativa e vão fundo no que querem informar. O pequeno poema A esfinge no divã pode explicar melhor: “Decifra-te/ ou/ devoro-me”. Ou ainda no Evangelho segundo Bloom (versículo único): “No princípio/ era o Cânone/ e o Cânone estava com Shakespeare/ e o Cânone/ era Shakespeare”.
*
Anderson Braga Horta está lançando Testemunho e participação, ensaio e crítica literária especialmente sobre poesia, no qual analisa a poesia de mais de cem poetas. Em Brasília vivem os mais honestos tradutores brasileiros de poesia, entre eles o próprio Anderson, mais Fernando Mendes Vianna e José Jerônymo Rivera. Os que vivem em São Paulo, por exemplo, não primam pela honestidade literária. Em relação ao poema alheio, que dizem traduzir, não passam de embusteiros. Braga Horta observa que é bom para um poeta, no meio do caminho, parar um pouco e rever alguns de seus passos: o que tem pensado e o que tem realizado em matéria de poesia. O autor escreve sobre sua trajetória na área da poesia, como poeta e como crítico, entre 1970 e 2003. Lembra um verso de Carlos Drummond de Andrade — “Lutar com palavras é a luta mais vã” — para, de alguma maneira, situar este belo volume que discute poesia. Braga Horta observa, então, que “o poema nasce quando quer. O ritmo, a idéia, a imagem, às vezes todo um verso, a semente do poema se oferece de improviso”. Explica que, em geral, é algo muito favo, uma nebulosa que gira na mente do poeta, mas pode ser — como ele diz — o verso inicial, como pode ser o fecho de um soneto. Diz, assumindo o risco de exagerar, “que nem só os poetas de menor porte suam a pena para agarrar a poesia”. Acredita em inspiração, fundamental, mas não o bastante. Cita Samuel Johnson: “O que é escrito sem esforço é geralmente lido sem prazer”. Concluiu que “escrever é cortar palavras”. Braga Horta deixa claro que é isso que ocorre com ele. Esse ensaio representa um amplo painel da poesia brasileira, desde José de Anchieta, sob a análise de um poeta que sempre trilhou, à sua maneira, o caminho avesso às facilidades. Escritores assim estão se tornando cada vez mais raros.