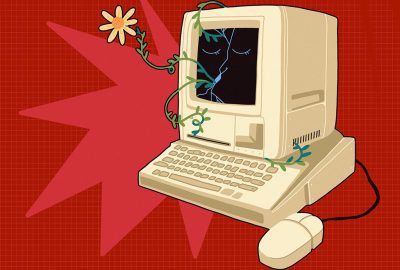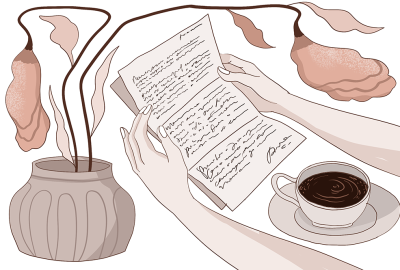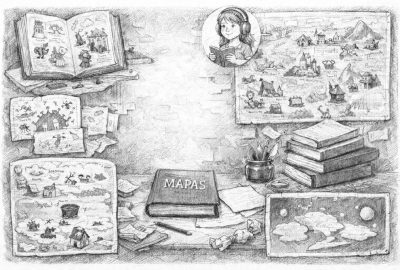Algumas pessoas cosem para fora, eu costuro para dentro.
Clarice Lispector
Quando Montaigne decide aposentar-se, lança-se em um grande projeto pessoal: a escrita dos Ensaios. Esta foi, possivelmente, uma das aposentadorias mais produtivas da literatura moderna. Ele não só criou uma nova forma, como o fez com maestria, inserindo sua subjetividade no centro da narrativa: “Sou eu mesmo a matéria do meu livro”. Talvez por não caber nos modelos existentes, precisou de um formato literário próprio. Para escrever, Montaigne refugia-se na solidão do âmbito doméstico, em seu château na Dordonha, diferindo da tradição dos homens de seu período, que se inspiravam nos espaços públicos, nas viagens, nas aventuras, nas conversas nos bares.
Contudo, Montaigne devia ter muitos empregados à disposição. Já a maioria das mulheres — contemporâneas ou não de Montaigne — que ousaram se lançar no universo da escrita precisaram conciliar a criação com os cuidados da casa e da família, não lhes cabendo um único quarto em que pudessem escrever sem interrupções, como já citou Virginia Woolf em seu conhecido ensaio Um teto todo seu (1929). Muitas mulheres, célebres ou esquecidas, enfrentaram obstáculos materiais entre elas mesmas e a caneta na mão. Woolf, que já tinha um teto para chamar de seu, viu-se, por exemplo, diante da dificuldade de exorcizar um fantasma que a atormentava: o anjo da casa, termo cunhado no ensaio Profissões para mulheres.
Quando Virginia Woolf nos apresenta o “anjo da casa”, ela não descreve apenas uma figura feminina de seu tempo; nomeia um fantasma que ronda a literatura, os salões e os quartos onde mulheres escrevem. “Intensamente compreensiva. Intensamente encantadora. Absolutamente altruísta.” O anjo é feito de delicadezas e renúncias. Sacrifica-se diariamente, toma o pior pedaço do frango, senta-se na corrente de ar para que outros se aqueçam. É a figura que prefere estar sempre de acordo, que se dissolve na vontade alheia, que renuncia à opinião própria para que a harmonia dos outros não se quebre.
Denúncia
Esse retrato, tão breve quanto preciso, é também uma denúncia. Woolf desmonta, com ironia e lucidez, a máscara de virtude que sufocava as mulheres vitorianas — e, por extensão, sufoca as escritoras de todos os tempos. O anjo não é apenas uma personagem doméstica; é uma exigência cultural: seja dócil, seja compreensiva, seja bela, seja leve, seja útil. Não escreva demais, não pense demais, não deseje demais. A beleza do texto não está apenas na ironia, mas no tom quase obituário: Woolf descreve uma figura aparentemente luminosa, mas que deve ser exorcizada. O anjo é um mito de sacrifício permanente — e só ao reconhecê-lo como mito podemos começar a escrever fora de sua sombra.
Em sua obra, cuja primeira versão foi publicada em 1580, Montaigne aborda de forma inventiva uma variedade de assuntos: a ociosidade, o pedantismo, a vaidade, a própria escrita e até a sensação de estar vivo. Ainda que não se reduza a uma escrita de si, percebe-se um movimento de partir de si para além de si. Penso que o ensaio, a partir da pena de Montaigne, abriu caminho para uma estilística feminina na literatura, no cinema e em outros campos das artes, porque permitiu que a ensaísta carregue sua presença subjetiva para dentro da própria obra.
Contudo, por escrever a partir do meu lugar de fala e de escrita — mulher da periferia — e não do centro de uma erudição masculina, ouso questionar: e se fosse uma mulher que, em 1580, escrevesse um livro cuja personagem principal fosse a própria autora, e a escrita da obra se centrasse na autoescrita? Será que seus escritos seriam publicados e inaugurariam um novo gênero literário? Se assim o fosse, talvez Hélène Cixous, em seu ensaio O riso da Medusa (1975), não se sentisse tão solitária na literatura, já na década de 1970, convocando as mulheres a escreverem porque, ao seu redor, cruzava com poetas, filósofos, ensaístas homens — “mas onde estavam as mulheres?”, questionava ela.
Sozinha no mundo
Na crônica As três experiências, publicada no livro A descoberta do mundo, Clarice conta sobre suas vocações; entre elas, está a vontade de ser escritora: “uma das vocações era escrever e não sei por quê, foi essa que segui”. Ela dividia sua rotina entre a escrita e a maternidade: “Os dois meninos estão aqui ao meu lado. Eu me orgulho deles, eu me renovo neles, eu lhes dou o que é possível dar”. Quando crescerem, diz ela, seus filhos abrirão as asas para o voo necessário e ela seguirá o destino fatal de todas as mulheres: ser sozinha no mundo. Se a solidão é o destino inevitável de toda mulher, afinal, “quem cuida das cuidadoras?”.
No ensaio A obrigação de ser genial, Betina González dedica um capítulo ao processo de tornar-se escritora. Certa vez, uma professora lhe perguntou: “O que você quer ser quando crescer?” — “Quero ser escritora”, respondeu. Com um olhar de reprovação, a professora questionou o que ela poderia escrever, já que, para escrever, seria necessário viajar o mundo, viver bem. Betina ouviu, de forma disfarçada, algo parecido com “ponha-se no seu lugar”. Clarice Lispector também começou a escrever na infância. Aos sete anos, enviou seus contos para uma seção de textos infantis do jornal Diário de Pernambuco, que nunca os publicou.
Dentro de casa
A literatura, o cinema e as artes visuais feitos por mulheres, durante muito tempo, brotaram na penumbra da casa, sempre no intervalo dos cuidados domésticos. Assim também nasceu a literatura de Clarice Lispector. Ela escrevia com a máquina de escrever sobre o colo para que seus filhos não sentissem a ausência da mãe, que à época já havia se separado do diplomata Maury Gurgel Valente. Já a cinescritora — como gostava de ser chamada — Agnès Varda usou o interior de sua própria casa e as redondezas como locação de boa parte de seus filmes. Em Daguerréotypes (1976), lançou um olhar afetuoso sobre os pequenos comerciantes da rua onde morava, em Paris. Na ocasião das filmagens, ela cuidava de seu filho Mathieu, de apenas dois anos, o que a impedia de se afastar muito de casa.
Refletir sobre a casa como um corpo-espaço que abrigou, durante muito tempo, as angústias e a potência criativa das mulheres remete ao pensamento de Woolf sobre a necessidade de um lugar material e abstrato que represente o berço da criação de uma linguagem feminina dentro de uma tradição literária patriarcal. Gaston Bachelard, em A poética do espaço (1957), concebe a casa como um espaço vital que protege o sonhador: “Pois a casa é nosso canto do mundo. Ela é, como se diz frequentemente, nosso primeiro universo”. A casa foi para as mulheres um espaço de resistência, berço do devaneio e da criação artística. Nos limites da casa-corpo, os olhos se desautomatizam e aprendem a prestar atenção no detalhe. Seja na literatura ou no cinema, a dimensão ensaística permite às artistas inscreverem-se livremente nas obras, expressando sua subjetividade.
O ensaio propõe conexões imprevistas, tendo como ponto de partida as próprias percepções para descortinar os movimentos do pensamento. O elemento subjetivo torna-se o centro da reflexão, oferecendo uma perspectiva para os que ficaram à margem do espaço público, do cinema ou da literatura em seus formatos tradicionais. Agnès Varda e Clarice Lispector começaram a produzir suas obras em cenários dominados pelo olhar masculino. Contudo, a partir dos anos 1960, seguindo o espírito do tempo, essas artistas passaram a experimentar formas disruptivas do feminino e novos procedimentos estilísticos.
Em As praias de Agnès (2008), Varda usa as imagens como elaboração de si em abertura ao mundo, colocando-se em tela em corpo e voz, mas também inserindo o outro em cena. Além de diretora, inscreve-se como personagem, narradora, roteirista e montadora de muitos de seus trabalhos. Já Lispector, em Água viva (1973), mostra que a liberdade é o valor maior de sua obra, diluindo os elementos formais da narrativa (enredo, personagem, tempo e linguagem) e embaralhando as fronteiras dos gêneros.
O filme-ensaio de Varda, a partir do uso de materiais de arquivo e de uma narração em voice-over da própria realizadora, apresenta uma vontade de experimentar o cinema e experimentar-se através dele. Prestes a completar oitenta anos, entra e sai de quadro como se realizasse uma coreografia, lançando-se na fronteira entre o tempo particular e o tempo vivido coletivamente.
A intimidade no centro
Diante da insatisfação com modelos engessados, o filme-ensaio de Varda mostra ao espectador um duplo chamado: “a busca de si pela imagem (o outro) e da imagem através de si. É tanto colocar a subjetividade em obra pela imagem quanto colocar a imagem em obra pela subjetividade”. Nesse trânsito entre o dentro e o fora, entre memórias pessoais e coletivas, o filme articula elementos visuais e sonoros que descortinam um modo ensaístico de fazer cinema. A cineasta perfaz uma obra em que se borram os limites entre público e privado, trazendo sua vida íntima e seu corpo para o centro da narrativa.
O ensaio fílmico mobiliza suportes diversos, construindo uma colcha de retalhos: a presença em tela, as fabulações, as associações entre palavra, imagem e lembrança pessoal, as performances lúdicas e a voz em primeira pessoa. É uma voz que se coloca na obra com modulações tonais, afetuosas ou carregadas de humor. A voice-over começa a ser usada no cinema com o advento do som, no fim dos anos 1920, sendo incorporada aos documentários tradicionais.
Por meio de uma performance em que a cinescritora anda para trás, insinuando a rememoração de um evento passado, Varda revisita os lugares de sua infância através das imagens de arquivo (fotografias familiares e trechos de seus filmes) ou por meio de novas filmagens e recursos de encenação. Em uma cena no pátio da escola onde estudou, por exemplo, crianças brincam de amarelinha. Varda comenta e faz autorreflexões por meio do monólogo interior, numa narrativa que se perfaz ao longo da travessia com a ajuda de intercessores — dado que o eu é o outro. “Este modo de conceber a relação com o outro entra em crise com a introdução no documentário de um princípio de incerteza que vem abalar os dois polos da relação, tanto o saber de si do cineasta quanto o suposto saber sobre o outro. Passou-se do eu/eu para o eu é o outro.”
Fragmentos encadeados
As quebras de narrativa e o pensamento digressivo são característicos da inflexão subjetiva na filmografia de Varda. Em As praias de Agnès, o fio narrativo se constitui por fragmentos encadeados livremente, como um jorro do pensamento. O fluxo é interrompido por divagações sobre a velhice, a morte e fatos históricos. Conforme escreve Sarah Yakhni: “A realizadora entra e sai de quadro, fazendo reverberar essa fronteira entre o dentro e fora de campo, transitando de um ponto a outro”.
Em outra passagem do filme, ela visita o Palácio Papal de Avinhão, na França. Nesse momento, há uma quebra narrativa quando externa seu zigue-zague mental ao observar um rapaz colando pedaços de mosaico: “Atrai-me muito esta ideia de fragmentação, corresponde verdadeiramente a certos aspectos da memória. Será possível reconstituir a personagem, a pessoa que foi Jean Vilar, um homem tão excepcional?” (As praias de Agnès, 2008).
Assim como a obra cinematográfica de Varda — aberta, heterogênea e que pensa por fragmentos —, em Água viva, Clarice Lispector recicla seus próprios escritos a partir de uma retomada intra/intertextual. Seria um modo benjaminiano de pensar a escrita ensaística por meio de citações. Nesse caleidoscópio em forma de livro, estão fragmentos de crônicas publicadas no Jornal do Brasil, bem como textos oriundos de A legião estrangeira (posteriormente reunidos em Para não esquecer) e de Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres.
Corte e colagem
Clarice praticou aqui a ação ensaística de uma reescrita contínua. Foram três anos escrevendo, rasurando e reescrevendo a obra inicialmente intitulada Atrás do pensamento: monólogo com a vida, que depois passou a se chamar Objeto gritante e, por fim, publicada como Água viva. No processo de maturação do livro, cerca de cem páginas da primeira versão foram eliminadas. “Quanto ao livro, interrompi-o, porque achei que não estava atingindo o que eu queria atingir. Não posso publicá-lo como está.”
Nesse processo de corte e colagem de fragmentos dispersos, palavras foram substituídas, a profissão da personagem-narradora foi modificada e o próprio título alterado por três vezes. A prática de transpor um fragmento de texto, copiando ou reescrevendo-o, determina o caráter de obra não terminada. O próprio Montaigne, inventor do ensaio literário, a praticou enquanto viveu — e só parou de reescrever sua obra quando morreu.
Assim, Clarice foi ressignificando seus escritos a partir de mudanças sutis, como a substituição de palavras ou o uso de aspas e itálico, conforme elucida Edgar Cézar Nolasco ao citar o exemplo de um mesmo fragmento textual publicado em A legião estrangeira (1964), com o título A pesca perigosa, reaproveitado em uma das crônicas do Jornal do Brasil sob o título Escrever as entrelinhas (1971) — inserido em A descoberta do mundo — e, por fim, retomado em Água viva (1973). Um mesmo fragmento vai ganhando sentidos múltiplos a cada novo rumo da escrita. Em Água viva, Clarice desconstrói os gêneros, evadindo-se de prescrições de normas, classificações e delimitações rígidas.
De Virginia Woolf até os dias atuais, a escrita das mulheres brota de um lugar de apagamento, de um segredo, como um crime a ser encoberto. Não raro, a mulher, para escrever, precisava esconder sua identidade por trás de um pseudônimo masculino. O segredo, para uma mulher que escreve, pode ser uma forma sagaz de resistência. Muitas vozes, ancoradas no patriarcado, tentarão colocar a mulher que escreve em seu “devido lugar”, invisibilizando sua escrita. Ao reler Clarice, Virginia, Betina, questionamos se, para uma mulher escrever, é condicionante que o faça às sombras e sempre duvidando de sua qualidade literária. “Não, não é fácil escrever. É duro como quebrar rochas. Mas voam faíscas e lascas como aços espelhados”, escreve Clarice em seu clássico A hora da estrela.