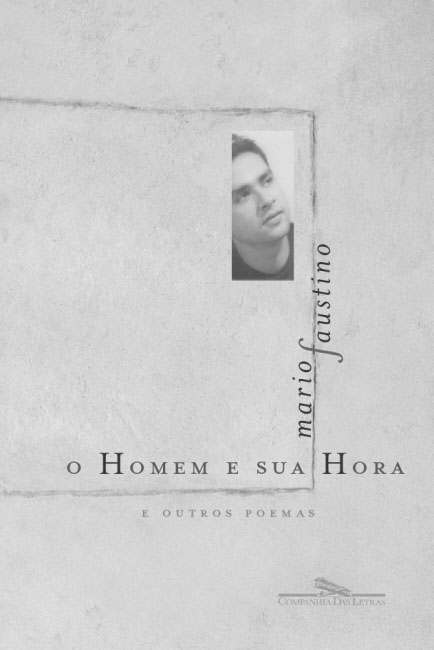Quem fez esta manhã? Pergunto e calo com medo da resposta. Estou parado ao meio-dia, e no meio do mundo sinto uma congregação de seres que me circundam interrogativamente. Invoco o Herói, e o convoco à marcha. Tendo restituir o tempo e dar curso ao curso sem sucesso das coisas que fluem e fluem sem trégua. Chove sobre campos de sal, e eu inutilmente tento recolher palavras do chão, com as quais componha um palco Absoluto onde possamos cantar, eu e meu espírito. Todos nós. Eis aqui os meus brasões, unicórnios que investem contra o rei. Amo monstros de aventura em uma terra deserta onde a luz custa a nascer e os homens e sonhos caem sucessivamente pelo caminho. Nenhuma verdade resplandece nesse verão sonhado por abutres, onde profetas estremecem nos seus túmulos, palmeiras tentam em vão resgatar a beleza ausente e nuvens tecem no céu suas estrelas. Triunfo da guerra, a morte, coroa longeviva que carregamos entre tochas acesas e sob um sol que se eclipsa. Eis a legenda áurea onde pinto a cena inaugural: no princípio houve trevas o suficiente para o espírito mover-se livre, e o silêncio era tanto e tal a quietude vegetal que era possível ouvir as lágrimas que caem e vincam a cara dos heróis. Vivo apenas para te cantar, dia singular que progride fora do tempo, e corre em forma de lenda e mito.
Partilho das Festas da Agonia. Vejo o Anjo, a Besta, o Sono, as Damas, a Vida. E amo a morte, e com ela travo meu pacto. Toda a vida é linguagem, figuração de desejos e janelas onde se espelham deuses, talvez. Provavelmente homens nus, cobertos apenas de palavras. E caminhando com elas contra a chuva se protegem, à espera daquela língua perfeita, eterna e inacessível. Olho a estrela roxa. Que sementes de suicídio o cadáver solar depõe? Alma que foste minha! Desprende-te do meu corpo e de meu espírito! Nenhum metro te organiza. Nenhum gênero da noite te distingue. Nenhum signo te orienta enquanto rumas para algo ou para o quê que não sondamos. Que pirâmide encerra a tua essência? Que trigo te mata a fome divina? Nada. Apenas náusea. O cérebro se consome em sua cópula sinistra. Em Babilônia e em Argos, somos todos culpados pelo nojo que vestimos. A carne de barro trêmula e acinzentada geme. É hora de subir aos templos de estrume onde celebraremos nossa náusea coletiva. Pássaros adejam asas de chumbo. Sombras marinhas me delatam em meu percurso. E falo pelo ego de Mona Kateudo. E vejo Aquiles abraçado a Heitor, Sebastião e as chagas que o afagam. O crucificado beija o enforcado. Estações! Eu as invoco. E retorno ao Herói, meu lema e guia. Dia não sondado pelos calendários. Sombras sábias de João, fumo sacro de Febo. Venho viajando de Delfos e Patmos vos consultar. Mais putas para Eleusis! Peço enfurecido. Anjos pálidos e candelabros, crocodilos vomitando cogumelos. Vejo Kung Fu Tse, Luzbel, passo pelo Estígio e rumo em direção a Chipre. Clamo por Hephaistos e pela Santa Face. Orfeu retesa sua lira e solta um pássaro, enquanto Galatéia límpida contrafaz o canto e a eternidade. Forjas de Dédalo, a Usura e seus dragões, paz ao baile das coisas. Só isso que eu peço aos deuses. Todos nós ruímos e ruímos e ruímos. Ilhas cheias de templos e a aurora de dedos rosas a afagar nossas cicatrizes. Flecha que enceta seu vôo eterno. Tudo congregado e consumado, nunc et semper. Em um meio-dia a pino o homem pára. O homem, apenas ele, a sós com sua hora trágica.
O livro de Mário Faustino, O homem e sua hora, é desses livros que nos deixam felizes por uma série de motivos. A começar pela fabulação altamente engenhosa com a qual ele entretece seus poemas, compondo quase que um romance em versos e um mosaico da história. E aqui vale toda sorte de mitos e lendas, já que é próprio da poesia desprezar o particular e o acidental de cada tempo e compor sua química verbal de modo a apenas indicar indiretamente o espírito de sua época, sem ser uma serva dele. Ela se vale de uma série de maneiras para conseguir isso. Uma delas é ir colher no esteio das fábulas o seu repasto atemporal, o seu alimento mágico e a sua matéria-prima. E Faustino, defensor intransigente de uma poesia de invenção, parece ter sido dos poucos homens inteligentes a perceber o sentido profundo dessa palavra, já que etimologicamente inuenire quer dizer apenas achar, descobrir, revelar. Aristóteles e todas as poéticas já escritas até o século 19, ou melhor, até o Romantismo, entenderam essa palavra nessa acepção. O inventor é aquele poeta cuja engenhosidade descobre relação entre as coisas, e as trama em imagens e metáforas, com ritmo e pulsação próprios à cadência interna dos versos e ao andamento do raciocínio. A invenção é uma parte da prosódia, então. Não é uma tecnologia, submetida à lógica descartável da superação científica, já que para dar sabor novo às palavras da tribo, mais do que uma nova técnica, é preciso um novo olho, processo obviamente muito mais complexo e inacessível às almas simplórias, que preferem reduzir tudo a uma questão de linguagem. Mesmo Ezra Pound, poeta predileto de Faustino, clássico e anti-romântico até a medula, quando reivindica o seu make it new, cunha a palavra invenção nesse sentido antigo, que durou e dura mais de vinte séculos. Assim também ocorre com a palavra moderno que, etimologicamente, significa apenas atual, não revolucionário ou qualquer coisa do tipo. Tudo o que é de alguma maneira atual é moderno. O resto é modismo e tecnocracia.
Mas voltando ao livro de Faustino, uma de suas maiores virtudes é essa: a da invenção e da capacidade de achar a matéria, o assunto poético, e de tecê-lo no artesanato verbal com rigor e técnicas admiráveis. Faustino sabe que a invenção imita aquele gesto inaugural, com que nomeamos os seres e os organizamos na folha virgem do mundo. Para cada sensação e para cada peça dessa máquina, uma forma, um estilo, um motivo. Pois é na variedade que os olhos encontram prazer, como diria Baltasar Gracián. E tanto sua concepção de poesia se afina com essa dimensão inventiva, que é dela que nasce uma segunda virtude do livro: o uso das formas. Isso se tornou objeto raro na poesia contemporânea, por uma série de motivos que não cabe enumerar aqui. Mas é muito interessante ver como Faustino manipula o decassílabo branco, o soneto, ora modificado na sua estrofação tradicional ora sem rimas, a sextilha, o verso livre, a elegia, a ode e até o romance, tão familiar à nossa tradição Ibérica e de onde João Cabral retirou a batida martelada dos seus heptassílabos de rimas toantes, além de ter se inspirado também em Calderón de la Barca e nos alexandrinos bimembres dos Milagres de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo. Em todas essas formas utilizadas por Faustino, poucas vezes encontramos um vocabulário deslocado ou uma construção sintática forçada, indecorosa dentro do tom geral do poema, seja ele mais elevado ou mais coloquial.
E assim a invenção das matérias vai se entrelaçando, e em mimetismo com a própria composição do mundo: as nuvens se unem e se dissolvem, se chocam e se entrelaçam compondo formas inteligíveis. Há ordem na revoada de anjos que descem até o lamento de dor do mártir, na revoada de pássaros de metal que vergam suas asas sobre um precipício, no escudo que o Herói empunha e na própria chaga de sua carne lacerada. Faustino revela a ordem que não está aparente e que subjaz a tudo isso, porque tudo isso é obra daquele Artífice que forjou a manhã inaugural do mundo em deu Forma a todas as formas, das quais o poeta é um decifrador em segundo grau. É um jogo de transparências e de opacidade: porque o poema nos pinta essas ações e em todas elas encontramos a dissolução dos limites e sua reorganização pelas mãos do artífice, ao mesmo tempo em que ele nos leva ao caos circundante da vida que corre fora dele mesmo, à vida de fato e não à ficção da vida. O homem e sua hora, nesse sentido, é um livro totalmente alheio às circunstâncias e especificidades da vida atual, estando mais próximo de uma dimensão espiritual ou mítica do tempo e da história. E é assim, pela negativa, que ele fala a nosso ouvido tão de perto: talhando em bronze as faces de um mundo poético primitivo e caótico, ele não sucumbe ao que há de caótico e não poético em nossa experiência mais imediata, e que em breve será poeira cósmica indiscernível.
O livro vem acompanhado de um ensaio crítico de Benedito Nunes e de estudo da organizadora, Maria Eugenia Boaventura. Os poemas inéditos e esparsos que foram incluídos, descontadas algumas exceções, são curiosidades sem qualquer interesse literário. O fulcro da obra é o capítulo homônimo, onde está na íntegra o único livro publicado por Faustino em vida, em 1955. Há fragmentos de uma obra em progresso, a maioria deles fraca e que sucumbe ao jogo lúdico, do tipo uma palavra puxa a outra, entre outros, muito circunstanciais ou apenas em estado de projeto. Alguns têm um valor tão discutível que deveria se pensar se vale a pena comparecerem em livro. É o caso do poema dedicado a Fidel Castro, entre outros. E esse é o aspecto que dá ao livro um desequilíbrio em excesso, compreensível por uma série de motivos. Mas não deixa de ser desalentador ver matéria informe e rascunhos de idéias que poderiam ter virado muitos outros livros de igual valor, caso o destino tivesse permitido.
É inegável o débito de Mário Faustino para com a Invenção de Orfeu de Jorge de Lima, outro amigo da invenção fabulosa e da fabulação do mundo supra-sensível, poeta por sua vez muitas vezes desigual e prolixo, mas tantas outras admirável. E essa dimensão mística em um sentido laico do termo está estampada logo no poema de abertura do livro, Prefácio. É da convergência dos astros em um determinado ponto e em uma determinada hora de um determinado dia que nasce o nó insolúvel do destino. Quem o guia, não podemos perscrutar. Lido em associação com o fim trágico do próprio Mário Faustino, morto em um desastre aéreo em 1962, o conjunto de poemas que compõem o núcleo do livro ganha uma espessura existencial incalculável e se abrem para uma série de sentidos adicionais. Porque se o poeta é aquele que ordena o caos original, onde nuvens e um turbilhão de anjos pairam à beira de um abismo do qual o mundo parece ter acabado de ser criado, e faz dele um cosmos, o mistério apenas começa ao pensarmos que também ele é apenas uma peça nessas engrenagens do universo. Não é um demiurgo, que move as esferas celestes e compõem com elas a sua música de pura geometria, embora os versos possam sinalizar e imitar sons de delicadeza semelhante. É apenas um poeta, um homem. E como todos nós estará um dia a sós com a sua hora — e nada mais.
Noturno
Mário Faustino
Nem uma só verdade resplandece
Neste verão sonhado por abutres.
O ano inteiro, o outro ano, e outro,
Mentidos pela mímica de um bufo,
Contam falsas proezas de funâmbulo.
E os saltos já não podem mais traçar
O mito que exercemos, a parábola.
Alardes, fugas, flâmulas. Palmeiras
Partilhando o regaste da beleza
Das nuvens criadoras de uma estrela,
De nada mais que uma. O saltimbanco,
Mirando-se nas poças, rejubila.
E ressoa na flauta de anteontem
O repouso de um pântano…
Quanto foste traído! O luar torto
Raiva no campo aberto onde esta noite
Um profeta estremece no seu túmulo.