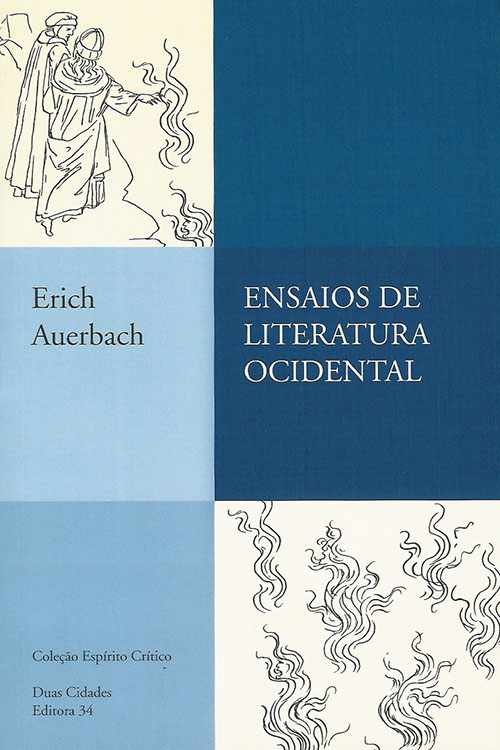Os textos de Erich Auerbach reunidos em Ensaios de literatura ocidental abrangem o período de 1927 (Marcel Proust: o romance do tempo perdido) a 1954 (Os apelos ao leitor em Dante). À parte a sempre instigadora experiência de ler Auerbach, um dos aspectos que sobressaem da coletânea é a inflexão do autor, ocorrida em algum momento pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Há uma evidente valorização da tradição cristã nos ensaios escritos depois que ele abandona a Alemanha, em 1935. E ainda que o filólogo se esforce por manter a mesma imparcialidade que encontramos, por exemplo, em O escritor Montaigne, de 1932, ou na primeira versão de La cour et la ville, de 1933, nosso ensaísta inclina-se, nitidamente, a uma visão que se distancia do humanismo de inspiração greco-romana, incorporando ao seu discurso certa linha de raciocínio às vezes ambígua, mas sob a qual se instila a metafísica cristã.
No ensaio que abre o livro, Sacrae scripturae sermo humilis, de 1941, seu elogio à “nova forma de sublime”, incorporada pelo cristianismo à retórica e substanciada por Santo Agostinho — “uma forma que lhe parecia [a Santo Agostinho], se comparada às concepções de seus contemporâneos pagãos, mais profunda, mais verdadeira” —, nos faz pensar que Auerbach desconhecia o fato de que a nova religião, sob a qual se congregavam os estratos humildes e ignorantes da sociedade, não só usou de explicações meramente teológicas para justificar a pobreza estilística de seus textos, como também necessitava de uma ferramenta que, deturpando a retórica clássica, tornando-a mais assimilável, atingisse e, principalmente, convencesse as camadas pobres da população.
O problema ganha transparência no ensaio Sermo humilis, de 1952, no qual o filólogo se propõe a “saber quais modificações as formas tradicionais [da retórica] sofreram sob o peso dos novos conteúdos e, ao mesmo tempo, em que medida elas, em sua variante cristã, podem ainda ser acomodadas ao sistema da retórica antiga”. Capaz de detectar a preferência dos cristãos, que escolhem o estilo “baixo” — assim denominado pela retórica clássica —, Auerbach, no entanto, nega-se a discernir o porquê dessa escolha, realizada, como bem sabemos, inclusive por razões de proselitismo. Nesse texto, além dos trechos em que o ensaísta praticamente assimila o discurso de Santo Agostinho, o que encontramos é um estudioso dividido entre a tradição nascida na Antiguidade e as inovações deturpadoras e popularescas do cristianismo, que submeteram a arte aos interesses da catequese. Nosso filólogo salienta que “a maioria dos pagãos cultos considerava a literatura paleocristã […] como ridícula, confusa e repugnante. Não apenas o conteúdo parecia-lhes uma superstição infantil e absurda, mas também a forma representava um insulto a seu gosto: o vocabulário e a sintaxe pareciam ineptos, vulgares e eivados de hebraísmos, quando não exagerados e grotescos”. Contudo, logo a seguir, julga que os cristãos estavam certos ao defender uma nova forma de sublime na “baixeza” do estilo bíblico, justificando sua observação com um fato ulterior: o de que tal estilo perdurou para muito além da Idade Média, tornando-se “um motivo importante na formação dos conceitos de estilo e níveis de estilo na Europa”.
Assim, novamente repete-se a visão parcial. De alguma forma seduzido pela cristandade, Auerbach esquece que, primeiro, a retórica clássica foi rebaixada, de início por ignorância, depois, com o intuito de convencimento e catequese. E só mais tarde, séculos mais tarde, esse rebaixamento foi proposto como uma nova forma de arte. Ou seja, um estilo usado constante e massificadamente, século após século, só não ganharia importância, popularidade e influência se ocorresse um milagre.
Como se desejasse salvar as duas extremidades da questão, Auerbach pondera que “os grandes oradores e críticos da Antiguidade tardia não eram pedantes de espírito estreito: eram elásticos o bastante para reconhecer a eficácia de uma expressão energicamente realista no interior de uma peça sublime, e sabiam perceber e muitas vezes admirar a variação expressiva em um mesmo nível estilístico ou em uma mesma obra”. E salienta, com extrema sabedoria, que “a simplicidade popular não é uma garantia contra o vazio do coração”, chegando, numa exaustiva comparação entre Antígona e Perpétua (uma mártir cristã do século 3), a apresentar todas as nuanças da escola de vulgarização do discurso empreendida pelo cristianismo.
Sabemos, contudo, que Auerbach já se rendera muito antes, ao afirmar categoricamente que “a Bíblia é história escrita” — afirmação nascida, é claro, do seu judaísmo — ou que “muitos — se não a totalidade — dos vulgarismos no emprego e na formação das palavras, nas mudanças de sentido e na estrutura da frase perderam seu caráter vulgar assim que se tornaram parte do latim cristão: foram introduzidos numa outra esfera e ganharam nova dignidade” — sem dúvida, uma curiosa generalização.
Descristianização
Em La cour et la ville, compreendemos, graças ao cuidado dos editores brasileiros, um pouco do que se passou com Auerbach após a ascensão do nazismo. A edição brasileira traz a íntegra desse ensaio, na forma como foi publicado em 1933 e não na versão de 1951, quando o filólogo cortou um longo trecho do final. A leitura referenda minhas suspeitas: há no trecho expurgado uma enfática dissertação sobre “o processo de descristianização da vida mundana”, especificamente na França. Um processo que tem Descartes em seu centro e que cria uma “esfera da liberdade humana” não a partir de Deus, “mas contra Deus”. Auerbach vê com bons olhos, em 1933, o moralista para quem “a vida não é nem uma participação humilde e divinamente ordenada no pecado, uma submissão cristã às vias do mundo, nem tampouco […] uma recusa enérgica, ativa e progressista da visão de um mundo corrompido”.
Para esse Erich Auerbach, a tragédia de Racine “é a expressão perfeita dessa descristianização, do surgimento de um novo universo de valores ideais” — ou seja, a descoberta de que o mundo poderia ser sublime independentemente do cristianismo. Uma idéia referendada pelo final altivo, agradavelmente humanístico, no qual o filólogo salienta o fato de que o “público francês criou para si um mundo além da história e da vida cotidiana, em que a pessoa moral podia viver por si, morrer sozinha e triunfar para si e para seus semelhantes”.
O Auerbach de 1951, no entanto, abjurou tal conclusão. Os horrores da Segunda Grande Guerra, o genocídio de sua raça e a amarga experiência do exílio levaram-no não a descrer do homem, mas a crer que um mundo no qual Deus não tivesse um papel preponderante, um mundo sem a possibilidade de uma redenção metafísica, estaria fadado ao vazio absoluto.
Essa guinada em direção à divindade — e o conseqüente abandono das concepções puramente humanistas — encontra-se explicitada no ensaio As flores do mal e o sublime, também de 1951. A cada linha, percebe-se o quanto Baudelaire fascina Auerbach. E, ao mesmo tempo, como o filólogo se recusa à entrega total, à sedução. Semelhante a um cristão que aguarda a Parusia — ou um judeu que anseia pelo Messias —, Auerbach afirma: “Agora que a crise de nossa civilização […] se aproxima de um momento de decisão, podemos esperar que haja talvez um declínio da influência de Baudelaire; num mundo totalmente transformado que se dirige talvez para uma nova ordem, as gerações vindouras podem perder contato com seus problemas e suas atitudes”.
Lendo-o em 2007, bem sabemos o quanto se enganou, mas não deixa de ser enternecedora a maneira como, no final do ensaio, ele se rende a Baudelaire, comparando a obra do poeta, num elogio indireto, à Divina comédia, “cuja beleza é tão amarga quanto a das Flores do mal”.
Fazer falar as coisas
Descobrir, em meio à angustiosa divisão de Auerbach, quanto o humanista foi sufocado pelos horrores da guerra, representa, entretanto, um prazeroso exercício de leitura, cuja recompensa não se resume apenas ao conhecimento de um método de análise jamais superado, mas abrange a erudição invulgar e a clareza do texto, com os parágrafos deliciosamente longos e as definições que são sínteses capazes de iluminar questões ainda hoje discutidas.
Em O triunfo do mal: ensaio sobre a teoria política de Pascal, encontramos talvez a melhor explanação sobre a força das idéias verdadeiramente originais, um trecho que, apesar de longo, exige ser transcrito:
Quando uma idéia é aceita porque é moeda corrente, porque está no ar que se respira, sua expressão torna-se geralmente frouxa e confusa, uma vez que parece supérfluo o esforço de expressão precisa; uma alusão, uma palavra-chave, alguns torneios de frase familiares sugerindo um certo viés de pensamento parecem bastar; nesses casos, uma mera palavra a respeito de uma das idéias que estão no ar é suficiente para induzir uma compreensão ou, pelo menos, um vago sentimento do que o autor quer dizer. Mas uma idéia que […] é arrancada da própria experiência do escritor por uma atividade interior espontânea — uma idéia assim é suscetível de uma expressão plena e adequada que exclui o mais leve mal-entendido, impede até mesmo o menor deslocamento ou evasão de seu significado exato e permite ainda uma compreensão de seus vários níveis de profundidade.
O mesmo ensaio nos presenteia, depois de uma exaustiva análise filosófica, com uma deliciosa comparação entre “a arte política empírica ou raison d’état do Absolutismo” e “o tempero e o frescor” dessa mesma política no pensamento de Maquiavel, em quem podemos encontrar “a elegância descontraída, composta de engenho toscano e ousadia humanística” que, infelizmente, se perdeu.
Na análise de um trecho de Demóstenes, no texto Os apelos ao leitor em Dante, Auerbach mostra-se frustrado em relação à escola que deu as costas ao humanismo clássico. Ele parece desejar um novo Renascimento. Reencontramos aqui o filólogo cuja ciência nos leva de volta à humanidade que ainda não fora fragilizada pela noção de pecado. E colocados no centro da assembléia, ouvimos a Oração da coroa, conduzidos por um intérprete que não hesita em comparar Demóstenes a Dante: “Ambos tinham a mesma força, a mesma parcialidade, a mesma sede de vingança e a mesma crueldade para com os inimigos”. Ainda que no final Auerbach renda-se mais uma vez ao cristianismo — o ensaio foi concluído entre 1953 e 1954 —, o trecho dedicado ao político grego guarda a paixão do humanista que admira o tempo no qual os homens não temiam “argumentar contra a Divindade, pois esta — o Destino — decide apenas o que deve acontecer, não o que é certo ou errado”.
Mas nada se compara ao mais aliciante dos ensaios, dedicado a Montaigne: um texto paradigmático, mescla equilibrada de pesquisa histórica, análise estilística e estudo biográfico, no qual Auerbach demonstra como o autor dos Ensaios “lisonjeou a morte” durante toda a vida, transformando a escrita em um sintoma da sua existência, tentando “habituar-se à morte do mesmo modo como se conduz um cavalo ao obstáculo diante do qual ele refuga”.
Se fosse possível resumir em algumas linhas o legado de Erich Auerbach, eu diria que ele nos ensina a não temer a tradição, mas, ao contrário, a dialogar corajosamente com os que nos antecederam — e a sermos críticos em relação aos modismos. Acreditando que a análise filológica poderia ser um meio de “tornar os homens conscientes de si em sua própria história”, ele se propôs a “fazer falar as coisas” — o que sempre alcançou, mesmo quando discordamos de suas conclusões.