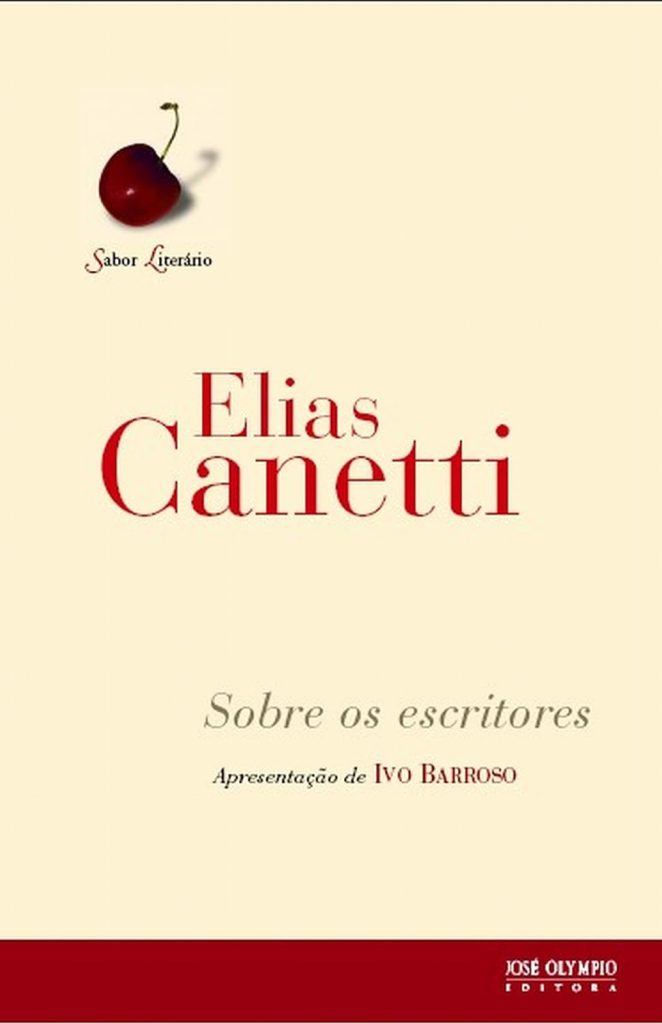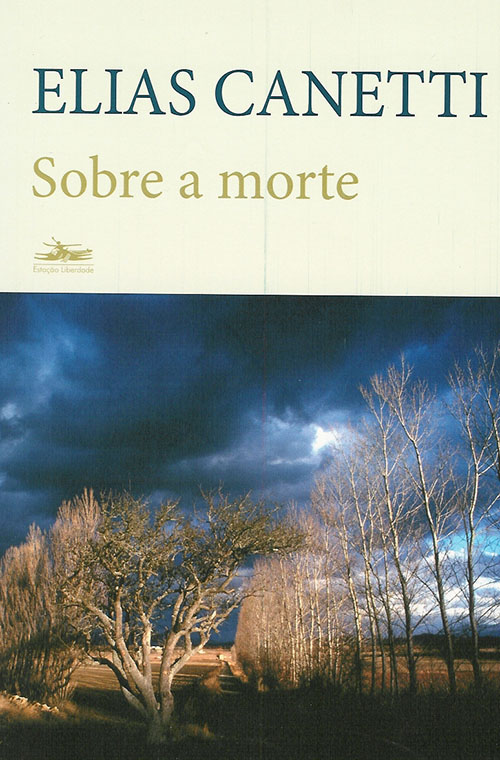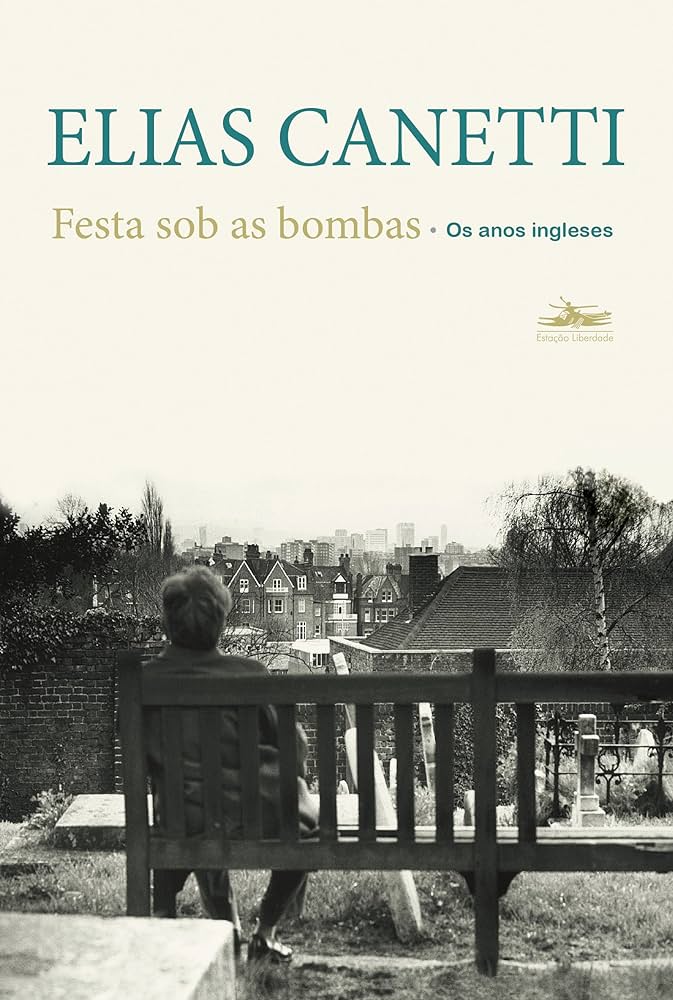Há os que se entregam à língua para dissolvê-la. E outros que estremecem ao tocá-la.
Elias Canetti
Talvez a palavra chave para acessar o vasto e inquietante universo de Elias Canetti seja metamorfose. No conjunto da obra deste autor judeu sefardita, Nobel de Literatura em 1981, nascido na Bulgária e educado em alemão, que morou na Inglaterra, Áustria e Suíça e é considerado um dos mais incisivos intelectuais do pós-guerra, a única possibilidade de compreensão do mundo parece ser apenas o que é capaz de demovê-lo da lei da inércia.
Em famoso discurso, proferido em Munique, em 1976, O ofício do poeta, de fato, ele insiste na necessidade de que “o guardião das metamorfoses” se manifeste, que verdadeiramente assuma seu papel, pois só assim, haverá quem exerça uma força contrária à que cega a sociedade contemporânea, jogando-a no marasmo alienante de quem nada mais questiona e se deixa manipular pelo aparato ideológico que mantém as estruturas de poder.
Para Canetti, zelar por metamorfoses é tratar do literário como forma de resistência, como tentativa de salvaguardar o humano do embrutecimento, da avalanche sectária de todas as formas de preconceito predominantes em sociedades dirigidas pela tirania dos que não admitem transformações, dos que se enrijecem nos muros da segregação, sufocando as liberdades individuais e os direitos humanos.
Nesse sentido, podemos perceber um rico diálogo entre o que ideologicamente o alimenta — analisado com minúcia em Massa e poder, obra que o consagrou com o Nobel — e o que vem sendo proposto por vários pensadores contemporâneos a respeito. Apenas a título ilustrativo, bastaria lembrar a análise de José Saramago sobre a cegueira generalizada que, em tempos como os nossos, é avassaladora e tem o poder de se alastrar e contaminar a todos (a propósito, ver Rascunho 104, de dezembro de 2008).
No mesmo tipo de abordagem, em boa medida, situam-se muitos autores — Mario Vargas Llosa, Octavio Paz, Bernardo Soares e Alessandro Baricco, entre outros — que, respeitando as respectivas diferenças e particularidades, entendem o literário como requisito primeiro no resgate de uma erudição da sensibilidade, capaz de combater uma das concepções mais difundidas hoje em dia: a de que a literatura seria uma atividade da qual se pode prescindir.
Não só não se pode prescindir da literatura, dirá Canetti, como se faz urgente reconhecer a indiscutível missão do poeta (aqui, também, entendido em acepção mais ampla: o escritor, o homem das letras), alguém que se esforça para “guardar” toda potencialidade de transformação humana, atento às metamorfoses como instrumentos de combate à alienação e, conseqüentemente, ao aprisionamento das consciências.
A tarefa de quem guarda metamorfoses, portanto, é árdua e deve se verificar, primeiramente, na apropriação da herança literária da humanidade. Aqui, assevera nosso autor, há que se ater a dois livros fundamentais da Antiguidade: Metamorfoses, de Ovídio, coletânea quase sistemática de todas as metamorfoses míticas e “elevadas” então conhecidas, e a Odisséia, que trata particularmente das metamorfoses aventureiras de um homem, Ulisses.
De fato, não é difícil constatar o quanto as Metamorfoses de Ovídio reaparecem em Ariosto, Shakespeare e em incontáveis outros, incluindo os modernos e pós-modernos, além do óbvio fato de que nos deparamos com Ulisses cada vez mais, podendo-se arriscar a percebê-lo como “a primeira personagem a entrar para o panteão da literatura universal”.
Mas o poder de zelar por metamorfoses vai além e aqui reside sua força mais incisiva:
Num mundo onde importam a especialização e a produtividade; que nada vê senão ápices, almejados pelos homens em uma espécie de limitação linear; que emprega todas as suas energias na solidão gélida desses ápices, desprezando e embaciando tudo o que está no plano mais próximo — o múltiplo, o autêntico —, que não se presta a servir ao ápice; num mundo que proíbe mais e mais a metamorfose, porque esta atua em sentido contrário à meta suprema de produção; que multiplica irrefletidamente os meios para sua própria destruição, ao mesmo tempo em que procura sufocar o que ainda poderia haver de qualidades anteriormente adquiridas pelo homem que poderiam agir em sentido contrário ao seu — num tal mundo, que se poderia caracterizar como o mais cego de todos os mundos, parece de fundamental importância a existência de alguns que, apesar dele, continuem a exercitar o dom da metamorfose.
No exercício dessa “paixão pela metamorfose” é que consistiria a habilidade dos poetas em manter abertas as vias de acesso entre os homens, uma vez que o poeta seria aquele capaz de se transformar em qualquer um, mesmo no ser mais ínfimo, no mais impotente. Desse modo, e apenas assim agindo, seria possível sentir o que um homem é por trás de suas palavras: não haveria outra forma de apreender a verdadeira consistência daquilo que nele vive.
Disso decorre que, em síntese, a grande busca de Elias Canetti, como romancista, poeta, ensaísta, dramaturgo ou pensador, tenha sido a de tornar-se, ele mesmo, um guardião dessas metamorfoses, numa constante troca de peles, a fim de buscar o outro, atingindo o que se esconde por trás das máscaras de cada discurso.
Transformar-se, desse modo, assume uma dicção próxima à do “outrar-se” pessoano. Transformando-me em outros, abro o dique da contenção homogênea e massificadora de culturas que se fossilizam na autoveneração, sem espaço para o diverso ou estrangeiro.
Ao vestir outras peles, metamorfoseado, relativizo verdades absolutas e paradigmas dogmáticos, exercendo a liberdade como prerrogativa intrínseca do humano e não apenas como instância a ser conquistada a ferro e fogo, resgatada das armadilhas que embotam e condicionam consciências.
A influência de Karl Krauss
Daí porque seja bem compreensível que um dos intelectuais mais venerados por Canetti tenha sido, por exemplo, Karl Krauss. Não faltam referências a ele e a todo o seu poder de influência nas aulas e conferências em que, como brilhante orador, vaticinava sobre os efeitos desastrosos que adviriam da segunda grande guerra que, à época, apenas se anunciava.
De fato, tanto em O jogo dos olhos, como no recém-publicado Sobre os escritores, em que Canetti lhe dedica todo um capítulo, fica bem evidente o quanto Krauss foi onipresente em sua formação intelectual e quão decisiva foi a leitura do excepcional Últimos dias da humanidade. Sobre o que teria aprendido com Karl Krauss, afirma:
Em primeiro lugar, há o sentimento de responsabilidade absoluta. Ele existia em mim de uma forma que beirava a obsessão, e nada que fosse menos me parecia valer a pena viver… Temos essa pobre palavra “engajamento”, nascida para ser banal e que hoje se multiplica por toda parte qual erva daninha. Soa como se tivéssemos que ter uma relação empregatícia com as coisas mais importantes. A verdadeira responsabilidade é cem graus mais pesada, pois é soberana e se autodetermina.
Em segundo lugar, Karl Krauss me abriu os ouvidos, e ninguém mais teria conseguido fazê-lo. Desde que o ouvi, é-me impossível não ouvir… Graças a ele comecei a compreender que cada indivíduo possui sua própria configuração lingüística graças à qual se destaca de todos os outros.
É também, no âmbito abrangente e polissêmico dessa urgência de metamorfoses que compreendemos o tom de inquietação de Canetti, ao escrever seus apontamentos e aforismos sobre escritores, literatura, vida, guerras e morte.
Na trilogia recém lançada pelo trabalho conjunto da José Olympio – o já mencionado Sobre os escritores — e da Estação Liberdade — Festa sob as bombas e Sobre a morte, que agora são apresentados ao público como uma compilação de inéditos —, verificaremos o mesmo fio condutor que já direcionava suas principais obras: o da representação poética da singularidade de cada experiência.
Não é à toa que Peter Von Matt — um exímio decifrador do espírito irrequieto e apaixonado desse búlgaro — observa que, a todo o momento, diante dos mais simples apontamentos de Canetti, estejamos expostos a uma voz que nos incita, como se dissesse: “Vejam, esse aí me transformou!”.
Sem meias medidas
A essa voz persuasiva e quase devocional que nos convence da necessidade de conhecermos certos autores, como Büchner, Goethe, Kafka (entre os eleitos, o maior), Stendhal, Robert Walser, Keller, Musil e Pessoa — devido às metamorfoses que suscitariam em seus leitores —, há, em contrapartida, a linguagem afiada contra os não-eleitos.
Desse modo, encontraremos páginas antológicas de profunda veneração, como o capítulo inteiro sobre Büchner ou o fragmento dedicado a Kafka:
Kafka despiu Deus dos últimos vestígios da paternidade. O que resta é uma teia densa e indestrutível de dúvidas acerca da própria vida e não acerca das pretensões do criador…
Diante de algumas figuras do espírito, e são muito poucas, o meu Eu pára completamente. Nem são aqueles que mais realizaram; estes, ao contrário, apenas nos estimulam. São antes aqueles que enxergaram por trás de sua realização coisas mais importantes e inalcançáveis, precisando encolher até ela desaparecer. Entre essas figuras está Kafka, e assim ele tem uma influência mais profunda sobre mim do que Proust, que realizou incomparavelmente mais.
Com o mesmo tipo de ênfase, porém contra os “não gratos” denominaríamos como, no mínimo, ousadas, algumas de suas famosas investidas aforísticas a respeito de intelectuais respeitados e renomados como Freud ou Sartre. Sobre o primeiro, por exemplo: “Freud só se tornará interessante depois de ficar totalmente esquecido durante muito tempo. Se eu fosse Freud, sairia correndo de mim mesmo”.
Ou ainda, no que toca a um dos pais do existencialismo:
Jamais o considerei um poeta, e sim um analista e panfletário. Sempre me repugnou o seu “engajamento” como um tipo de atividade. Nenhuma de suas formulações foi um pensamento. Nada seu foi novo. Ele tinha logo uma resposta, que existia já antes da pergunta. Há em todas as afirmativas de Sartre aquela mesma falta de cores, nada brilha, nada respira, nada vive. Mas há também grandes e detalhadas discussões. Elas nunca me interessaram e eu mal me ocupei delas.
Tal tipo de postura pode levar, com freqüência, a diagnósticos prematuros sobre Canetti, vez ou outra, distorcendo a abrangência de seu pensar, sob a acusação de arrogância ou presunção.
O que temos, ao invés disso, é o permanente tom de inquietação de quem jamais se satisfaz com o que está posto, de quem não pretende aparar arestas, mas sim, explicitá-las.
Recorrendo ainda a Peter Von Matt, concordamos com o que ele observa como um forte traço de originalidade do autor. De fato, enquanto os tradicionais guardiões da cultura pretendem encontrar nuances, gradações e principalmente classificações que possibilitem catalogar escritores em categorias já conhecidas, Canetti, diferentemente, investe no ímpar, na descrição minuciosa de experiências daquilo que é único. Esta singularidade da experiência é que estaria por trás de todos os encontros do autor com livros, poetas, intelectuais e, também, com as mais diversas pessoas e situações de sua vida.
Retratos humanos
Desse modo, em Festa sob as bombas — Os anos ingleses, coletânea de fragmentos, o que se nos apresenta é um desfile dos mais variados tipos, desde poetas da alta casta intelectual de Londres, Oxford, Cambridge, Hampstead Heath, até o simples casal de anfitriões Milburn, que acolhe Elias e sua esposa Veza no campo, por conta do aumento de ataques aéreos e das subseqüentes vitórias dos alemães, à época da guerra.
Cada um desses encontros é narrado com tamanho detalhe e força descritiva que passa a constituir um verdadeiro retrato humano, como se a lente objetiva do autor aqui visasse a uma aproximação o mais fidedigna possível de uma representação do real, que desse conta de um alto grau de verossimilhança, necessário a certos relatos que pretendem, acima de tudo, documentar.
Talvez seja esse transbordamento do humano, criado em seu texto, abrindo um amplo leque de pessoas de todo tipo, que confira certa leveza àquele cenário de guerra na Inglaterra, sob as bombas de Hitler.
Mais uma vez, e nesse caso, em experiências que tangenciam encontros verdadeiros, narrados com o timbre quase confessional dos diários, Canetti busca a metamorfose, valorizando cada singelo esbarrão, com quem quer que seja, parando para ver, ouvir e, assim, dar voz a esse outro, transformando-se nele, deixando-se transformar por ele, eterno guardião da intensidade única de situações que, com eficácia, acrescentam algo valioso à sua existência.
É o que extraímos, por exemplo, do irônico episódio em que a paradoxal ingenuidade e total alienação da senhora Milburn vem à baila, numa espécie de disparate:
Mrs. Milburn assustou-se um pouco com Veza, que não conseguia reprimir o fogo em seu rosto e logo começou a contar dos ataques aéreos a Londres. Tais coisas Mrs. Milburn não gostava nem de pronunciar, nem de ouvir. “O mal não existe realmente”, ela disse com brandura, “o mal é uma imaginação nossa”, disse Mrs. Milburn. Veza percebeu finalmente os meus sinais e calou-se.
Ou ainda, neste refinado retrato de um gari:
O gari observava bem e conhecia todos. Não apenas por causa de sua idade, ele era a pessoa mais experiente do povoado inteiro. Tinha um jeito lento de olhar e não sentia vergonha de demorar os olhos por muito tempo em alguém. Mas, à sua maneira, era precisamente isso. Foi assim que senti seu olhar em mim, a primeira vez que saí da loja. Assim o senti nas minhas costas durante o tempo todo na calçada que ligava as duas ruas. O que via quando olhava as pessoas se afastarem? O fato de ele encarar os transeuntes parecia tão natural quanto a sua coroa de cabelos brancos.
Com a mesma vibração com que colhe tipos humanos aparentemente tão singelos, buscando interpretar o mundo por meio de seus olhares, Canetti não poupa argumentos contra o distanciamento e a frieza características das festas inglesas, junto a intelectuais que, tantas vezes freqüentava e em que era imperativo não se revelar, não se deixar conhecer, em consonância com o espírito fleumático e egocêntrico do típico inglês que jamais se expõe publicamente, mestre na arte de dissimular, arte à qual o autor sempre manifestou resistência. A propósito, uma de suas críticas mais ferrenhas e polêmicas, à época, foi a que travou contra T. S. Eliot.
Sobre a morte
Às anotações e aforismos sobre os mais variados pensadores, poetas e escritores, em recorte sincrônico, encontrados em Sobre os escritores, correspondem, no mesmo estilo, as observações a respeito de outro de seus grandes temas: o da morte.
Traumatizado pela morte precoce do pai, que presencia com apenas sete anos, permanecerá, ao longo de toda vida, um inconformado diante da inexorabilidade do fim: “Quem se abriu cedo demais à experiência da morte jamais pode fechar-se novamente diante dela: uma ferida que se torna um pulmão, através do qual se respira”.
É da insistência em lutar contra a morte e contra tudo que lhe seja concernente que tratam os pensamentos colhidos em Sobre a morte, de 1973 a 1985. Entre todos, talvez pudéssemos colher algo dessa indignação particularmente no seguinte:
Por que você se defende contra a idéia de que a morte já está dentro dos vivos? Ela não está em você?
Ela está em mim porque devo atacá-la. Para isso, para nada mais que isso é que preciso dela. É para isso que eu a peguei para mim.
Tal resistência será levada a cabo, inclusive nas assertivas que faz sobre Nietzsche, porque para ele — diferentemente do que postula o eminente filósofo alemão — não seria possível reconhecer morte alguma.
Hiroshima
Entretanto, se só são considerados sábios os que não prestam honrarias à morte, em sentido contrário, releva Canetti, é o máximo sinal de integridade humana dedicar absoluto respeito aos mortos. Daí porque teça sinceros elogios a um médico sobrevivente de Hiroshima, Dr. Michihiko Hachiya, por meio de cujo diário é possível recolher fontes seguras e comoventes daquela catástrofe. O que mais o engrandece, diante dos olhos do autor, é o fato de ter demonstrado pensar nos mortos como pessoas, não como cadáveres a mais, porém como indivíduos, de quem era necessário recuperar a história.
Importa perceber aqui um ponto interessante de aproximação entre o que é relevante para Canetti e as teorias tecidas por Walter Benjamim sobre a morte no texto O narrador, ao entendê-la como fonte de conhecimento da história dos indivíduos.
Também é interessante lembrar a mesma postura de valorização dos mortos, numa recente obra-prima do cinema japonês: A partida, do diretor Yôjirô Takita premiado com o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2009, em que um jovem violoncelista, tendo recebido a notícia de que a orquestra em que tocava seria extinta, precisa recomeçar, sendo conduzido pelas mãos do destino a outro tipo de emprego, totalmente estranho e subestimado pela sociedade: o dos que “ajudam a partir”, ou melhor dizendo, dos que preparam os corpos dos mortos para a cerimônia final.
Em tempos em que vigora uma verdadeira necessidade de “higienização” da morte, em que os velhos e doentes são, cada vez mais, afastados de seus próprios ambientes, alijados dos espaços públicos, confinados em asilos e clínicas que possam subtrair a imagem da decrepitude aos olhos da população, tanto a preocupação de Canetti quanto as lições de Benjamin e a delicada e profunda mensagem de A partida são de extrema relevância.
A imagem da morte natural que nos vai sendo sonegada, substituída pela brutalidade das mortes violentas, amplamente exploradas pela mídia, forjam um sentimento generalizado de aversão à morte e conseqüentemente aos mortos, o que, para Canetti é inconcebível, sobretudo em sociedades que compreendem e valorizam a história de seus indivíduos.
De corpo e alma
“De corpo e alma” é uma expressão que parece dizer bem do comportamento desse autor que procura um entendimento visceral e apaixonado de cada uma de suas experiências.
Para ele, nada passa despercebido e tudo é digno de nota, pois tudo precisa se transformar ou ser transformado pela ação do outro, seja este outro um livro, um autor, um homem, uma história de vida, de guerra, um amor, uma morte…
Muito interessante, a propósito, é o que ele narra no capítulo Büchner no deserto (em O jogo dos olhos) sobre a crise que viveu, logo após o término de seu único romance: Auto-de-fé.
O livro trata, em síntese, dos descaminhos e desilusões sofridos pelo erudito sinólogo Kien, dono de uma vasta biblioteca, cuja tragédia é levada a cabo quando precisa se deparar com o mundo exterior àquele dos livros, mundo que acabará por destruí-lo, já que nele não há lugar aos que cultivam o espírito e o pensamento.
Mas o episódio que transtorna o autor Canetti é o fato de ele ter criado a situação de ruína do protagonista, em meio à queima dos livros. É pungente o modo como revela o que o assolava então:
A queima dos livros era algo pelo qual não podia me perdoar. Não acredito que ainda lamentasse por Kien. Tanto mal fora-lhe infligido ao longo de todo o trabalho no livro, eu havia me atormentado tanto a fim de reprimir minha compaixão por ele — não me permitindo demonstrá-la nem mesmo da forma mais velada —, que pôr um fim à sua vida pareceu-me, do ponto de vista do escritor, sobretudo uma redenção.
Para essa libertação, porém, haviam sido empregados os livros, e que estes se consumissem em chamas foi para mim como se fosse eu próprio a arder. Sentia-me como se tivesse sacrificado não apenas meus livros, mas também os do mundo inteiro, já que a biblioteca do sinólogo continha tudo o que havia de importante para o mundo: os livros de todas as religiões, de todos os pensadores, os da totalidade das literaturas orientais, os das ocidentais que tivessem conservado em si um mínimo que fosse de vida. Tudo isso fora consumido pelo fogo, e eu permitira que assim fosse sem ao menos uma única tentativa de salvar alguma coisa. O que restou foi um deserto, agora nada mais havia além dele. Disso eu era culpado, pois o que se passa num tal romance não é meramente um jogo, mas uma realidade pela qual temos de responder perante nós mesmos, muito mais do que a qualquer crítica vinda de fora…
Essa análise do cúmplice narrador autobiográfico Canetti faz vir à cena o autor do romance Canetti, que, até então estava por trás dos bastidores. Essa espécie de confissão sobre seu padecimento, enquanto autor, pode ser lida como verdadeira chave de entendimento dos rumos pelos quais transitam algumas de suas concepções sobre o processo da criação ficcional.
Diferentemente das tendências atuais que postulam a total anulação do sujeito e do esvanecimento do autor, em que a obra se assume como entidade ontológica em si, em sentido diametralmente oposto, em mais de uma situação, Canetti faz questão de mostrar os mecanismos de funcionamento das metamorfoses pelas quais passa, durante o processo em que gera personagens e histórias.
Nessa espécie de auto-reflexão, em que teríamos uma situação semelhante, por exemplo, à do relojoeiro que desmonta a peça toda, para fazer vir a conhecer o que antes ficava oculto dentro da máquina, assim também temos, num tom de sinceridade confessional, uma humanização do sujeito criador.
Ao depararmos com esse tipo de relato parece que estamos diante de um auto-retrato do autor, quando do momento decisivo da elaboração do epílogo de sua grande obra, em que os transtornos e culpas do deus criador vestem a pele do humano, que sofre por se responsabilizar pela ruína do personagem, em mais um difícil jogo de outrar-se, nessa constante e infindável transmutação.
O que temos, enfim, é o narrador em primeira pessoa Elias Canetti, na obra de cunho autobiográfico O jogo dos olhos, assumindo-se como contador de sua própria história, cúmplice da crise enfrentada por Elias Canetti, ele mesmo, transfigurado, agora, no autor do romance Auto-de-fé, metamorfoseado em homem, ao assumir a dor da culpa de ser o único responsável pela incineração da biblioteca do personagem Kien, biblioteca ficcional que, por sua vez é, também, a metamorfose de todas as bibliotecas de toda a humanidade.
Esse episódio dá conta de mais um de seus mais significativos aforismos sobre personagens:
Alguns personagens de romances são tão fortes que mantêm o seu autor aprisionado e o sufocam.
Dissolução do personagem na literatura mais recente: os personagens de que nosso tempo necessita são tão monstruosos que ninguém mais teria a audácia de inventá-los.
Seja como for, nesse complexo ser antenado com o mundo ao redor, captando-o de corpo e alma, arrebatando e sendo arrebatado por livros, pensadores, poetas, encantado por gente, pela rica diversidade de cada singular experiência vivida e sofrida, diante do imponderável da morte, Canetti encarna, em tudo que o traduz, a imagem que ele mesmo criou, no discurso proferido em Munique, a partir da interessante metáfora da metamorfose. Se houve poetas que assumiram plenamente o dom de exercitá-la, certamente ele foi um deles, um de seus mais legítimos e incansáveis guardiões.