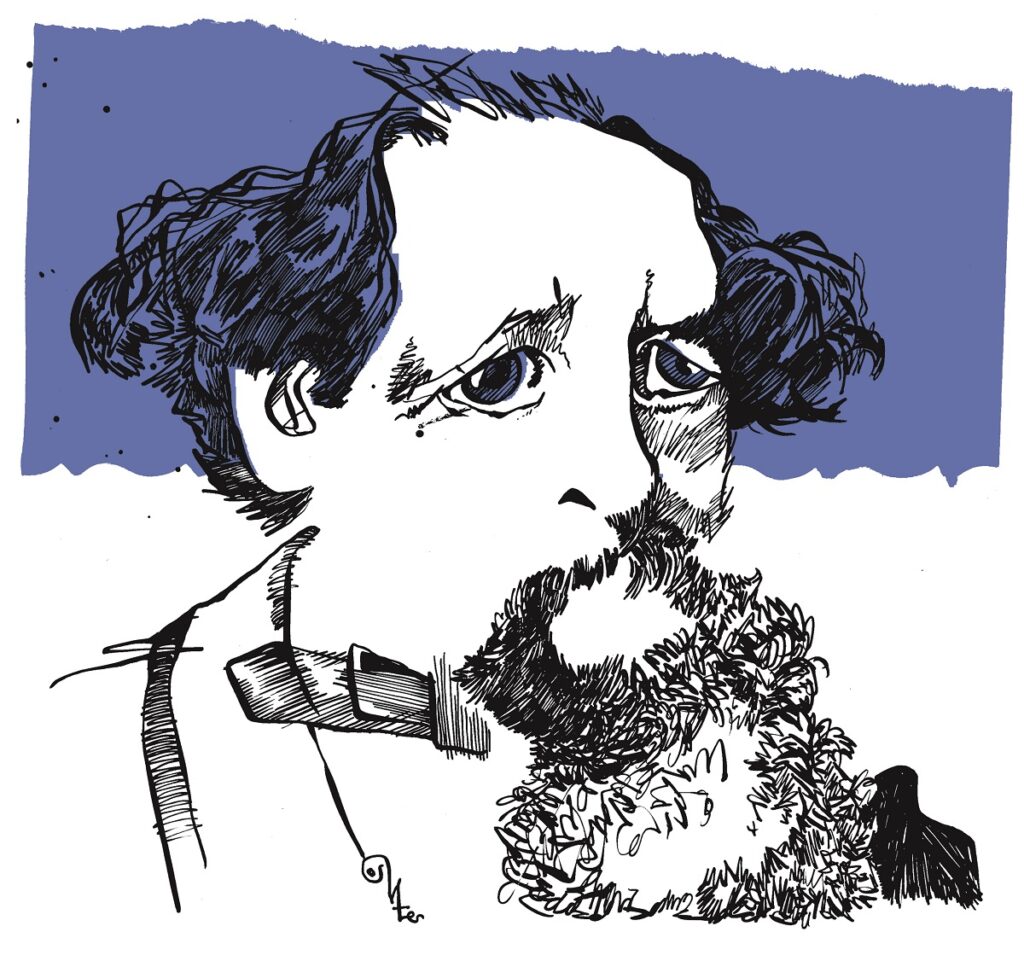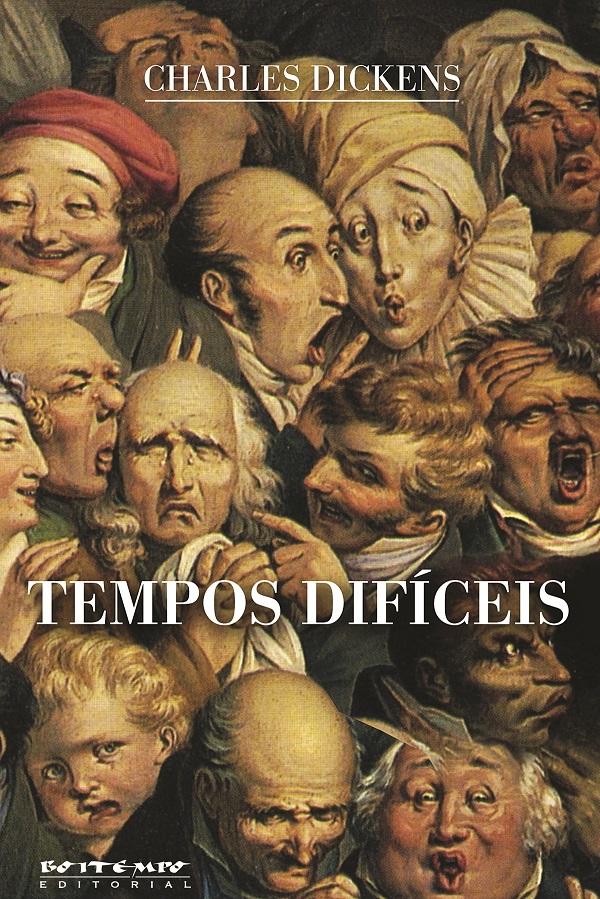Em uma recente palestra na Tate Gallery, em Londres, o filósofo alemão Peter Sloterdijk, agradecendo à platéia pelo convite e oportunidade de lá estar, comentou, em referência à famosa querela entre as assim chamadas tradições continental (franco-alemã) e analítica (anglo-saxã), que, para um pensador germânico, a Inglaterra permanece “aquela ilha estranha”, da qual nada se sabe; uma ilha, contudo, da qual tudo se sabe pela novelística que produziu. Nos “romances ingleses” temos a sensação de conhecer a vida profunda do ser inglês, articulada como ela é na dramatização dos grandes dilemas, debates e controvérsias de cada época, sobretudo no século 19, quando a literatura emerge como uma significante arena de conflito e experimentação da inteligência civil. Trata-se de uma afirmação que demanda qualificação, por certo. O crítico, atento às generalizações e pormenorizações pontuais, precisa admitir, entretanto: a anedota não se inviabiliza na questão acadêmica que encerra. Sloterdijk está mais correto do que equivocado. Tomemos o caso exemplar de Charles Dickens.
Charles Dickens foi provavelmente o escritor britânico mais popular do século do advento das máquinas e das multidões, o 19, um verdadeiro best-seller nos moldes contemporâneos — como reporta Richard Daniel Altick em importante estudo sobre o público leitor inglês no período, foram comercializados, entre 1870, ano da morte de Dickens, e 1882, mais de 4 milhões de cópias de seus livros, somente na Inglaterra. Muito dessa popularidade e interesse se mantêm em 2015, a julgar pela contínua reedição de suas obras em séries consagradas como as Oxford ou Peguin Classics, e pelas dezenas de adaptações das mesmas para o teatro, cinema e a televisão. O esmero considerável dispensado às recentes edições brasileiras de David Copperfield e Tempos difíceis é ainda outro reconhecimento desse prestígio.
Inicio o texto com uma observação sobre o trânsito singular do autor para realçar uma característica que o corpo crítico sobre sua obra geralmente incorporou e buscou articular: Dickens escreveu literatura para as massas, no sentido técnico do termo. Massas, isto é, considerando-se a taxa desigual de ingleses então alfabetizados. Deixemos de lado a ponderosidade lamentosa da Escola de Frankfurt e a carga negativa que aquele termo veio a adquirir ao longo do século passado. Quero dizer, e é isso que nos interessa, que Charles Dickens produziu parte considerável de sua arte tendo em mente os seus leitores, que eram muitos; foi um escritor amplamente acessível. Seu estilo tão reconhecível, combinando aguda sátira social, uma preferência pelo grotesco e um elevado grau de melodrama, simultaneamente incorpora e se modula por uma atenção às expectativas daquele público, que devorou seu primeiro romance, As aventuras do Sr. Pickwick, e garantiu-lhe carreira como escritor profissional quando Dickens tinha apenas 25 anos. Interessava-lhe manter os leitores curiosos, à espera da sequência de cada capítulo. Seus numerosos trabalhos — só os romances foram quinze —, normalmente publicados em série, em edições ilustradas ora mensais, ora semanais, mobilizavam a dedicação e o aguardo dos leitores por períodos prolongados. David Copperfield, por exemplo, saiu em dezenove partes (dezenove meses!), ao longo dos quais o autor preparava os capítulos seguintes.

Grandes mudanças
Nesse sentido, a literatura de Dickens é fundamente marcada pelo aspecto da contingência, assim como sua biografia, como veremos adiante. Mas isso não quer dizer que podemos assim caracterizar a obra que fica. Dificilmente poder-se-ia identificá-lo com um cético a orientar-se pelas circunstâncias sempre cambiáveis, imprevisíveis; de qual autor vitoriano poderíamos, aliás, dizer isso? Pelo contrário, o autor pressentira grandes mudanças por vir; um filantropo dedicado a melhorar a condição de vida do povo, tinha uma visão social ampla, por vezes opaca, mas sempre consequente, donde sua literatura, direcionada ao grande público, não se deixava dirigir por ele. Dickens não era um ideólogo, tampouco um demagogo; foi lido avidamente por todas as camadas sociais enquanto vivo, e enterrado como herói nacional na Westminster Abbey, onde repousam os reis britânicos. Seu apelo duradouro reside largamente em sua incapacidade de aceitar a injustiça, e na empatia aberta que nutria pelos desafortunados e desprotegidos, pelos explorados e pelos bons, os quais pôde tematizar em uma verdadeira pletora de personagens carismáticos, tipicamente dickensianos, personalidades individualizadas, cheias de vícios e manias, sonhos e defeitos, como bem notara aquele espertíssimo leitor de Dickens, Gilbert Keith Chesterton.
Há de se aprofundar a observação de Chesterton. Pois Dickens, que está, como cronista do cotidiano, para Londres assim como Honoré de Balzac está para Paris, nasceu em uma das primeiras gerações do mundo posterior à primeira Revolução Industrial, à consolidação da burguesia e ao surgimento das massas urbanas, sobretudo das multidões de operários nas fábricas do país, submetidos àquelas condições desumanas tão impressionantemente descritas no primeiro livro de Friedrich Engels, A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Viu, portanto, seu século com olhos inéditos. Londres foi a primeira cidade do mundo a ter mais de um milhão de habitantes; Dickens compreendeu que o fenômeno das massas, tal como se configurava, trouxera consigo toda uma rede de problemáticas nova, intraduzíveis nos termos do século precedente, que dariam a tônica da historiografia britânica na era da rainha Vitória. Dickens não teorizou a paupérie. Se, por um lado, as desigualdades sociais se tornaram patentes nos coletivos de trabalhadores, urgindo assim uma reação política vigorosa, que expressar-se-ia em ideologias e proto-sociologias fortemente ideologizantes, criava-se, por outro, o problema da diluição da realidade ultrajante daqueles homens, mulheres e crianças em conceitos abstratos como “classe”, “os pobres”, “os oprimidos”, falsificando-a e, por que não, subestimando a engenhosidade dos desfavorecidos. A urgência do concreto perdia-se facilmente na clarividência dos conceitos.
Pessoas
Daí que Dickens, que conhecia Londres na palma da mão, nunca escreve o mesmo aristocrata, o mesmo burocrata, o mesmo pobre. Evita idealizá-los: pobres ou ricos, alguns são maus, outros, bons. Dickens resistiu à tentação e, mantendo simpatias alinháveis sobretudo com os socialistas, povoou seus livros com pessoas. São pessoas, não aglomerações e forças impessoais, que sofrem e que fazem sofrer; embora hajam razões, como sugere Sandra Vasconcelos Guardini em ótimo ensaio incluído nessa nova edição, para crer que Dickens tratasse as desigualdades sociais em termos políticos, como desbalanço do sistema. De todo modo, trata-se de uma índole anti-teórica tipicamente inglesa, afeita ao common sense e à experiência. Essa convicção se ancora noutra, a de que os valores têm caráter eminentemente transformativo; nisso Dickens é um moralista típico de seus dias. Hoje, ocorrido o desmantelamento do sujeito liberal clássico e praticamente consumada a deterioração dos valores tradicionais, é difícil não tomá-lo por algo ingênuo à primeira vista.
No entanto, essa crença na melhoria do indivíduo não era desprovida de fundamento. Tenhamos em mente que a mobilidade socioeconômica no período já era uma possibilidade para muitos, incluindo-se aí o próprio Dickens, em uma nação em rápida mudança e que atravessaria profundas reformas sociais, sedimentadas nas várias incorporações legislativas pós-1850, que ampliariam direitos civis e trabalhistas. A título de exemplo, tamanhas foram as mudanças legislativas que a Inglaterra introduziu no período em que Dickens viveu que, entre 1826 e 1861, o número de crimes capitais no código penal foi reduzido de duzentos para quatro. A luta para tais conquistas civis aparece com clareza nos enredos de Dickens, que era particularmente sensível à condição dos prisioneiros ingleses. Em comparação com seus contemporâneos, Dickens foi talvez quem melhor dramatizou e denunciou os limites e fragilidades do otimismo vitoriano, liberal, que tomava o progresso como processo cumulativo e inevitável, e que tratava a grandeza do Império Britânico como puro fato a ser celebrado em volumosos tomos históricos, como os de Macaulay, tão populares à época. Mas Dickens não foi revolucionário, pois não tinha ideologia; tampouco foi reacionário, pois inconformista: um democrata preocupado sobretudo com o que nós hoje chamaríamos de esfera civil.

Pobreza
Charles Dickens nasceu em 1812, na cidade costeira de Portsmouth, 120 quilômetros ao sul da capital inglesa. Seus avós paternos eram empregados de confiança em casa de aristocratas, o que lhes garantira alguns privilégios. Seu pai, John Dickens, foi burocrata da Marinha, uma carreira sólida e promissora no panorama social de então, com um salário relativamente alto e frequentes oportunidades de promoção. Isso não o impediu de arruinar suas finanças, contraindo uma dívida que o colocaria no cárcere por inadimplência em 1824. Pouco antes, a família havia se realocado em Londres, e dali em diante o menino Charles apenas frequentaria a escola “para os pobres”, de maneira errática. Contingências da vida: aos 12 anos, Charles trabalha por seis meses em uma fábrica de graxa, presumivelmente a fim de remediar a situação financeira da família.
Os estudiosos e biógrafos do escritor não cansam de interpretar o impacto desse episódio sobre o restante da vida e obra de Dickens, que conhecemos pelas cartas do autor; alguns estudiosos consideram-nas exageradas, romanceadas. Transmito-lhes a interpretação mais comum: foi ali que ele teria conhecido a astúcia dos oprimidos, a maneira como ajudavam-se uns aos outros, sob condições de trabalho que hoje nos parecem mera ficção. Essa versão pode até ser fidedigna. Artisticamente, essa engenhosidade tinha uma contraparte clara nos livros que o jovem Dickens (e David Copperfield!) devorou e amou, os romances ingleses do século 18, a literatura de Tobias Smollett, Henry Fielding e Daniel Defoe, as antigas narrativas picarescas — Smollett traduzira Gil Blas, de Lesage, e o Dom Quixote — com seus protagonistas “malandros” lançados ao mundo e à sorte, dependentes dos próprios recursos e da boa vontade alheia; trata-se talvez do gênero literário que melhor tematizou o problema da contingência. É verdade que tal temática recebe em Dickens uma acentuação ética, uma gravitas da responsabilidade individual própria das sociedades liberais modernas. Muito do que encontramos no gênero, por exemplo, como no Lazarillo de Tormes, espécie de Pernalonga do século 16, ou na protagonista de Moll Flanders, de Defoe, seria censurável sob diversos aspectos.
O jovem Dickens ainda trabalharia como estenógrafo nas cortes judiciais, onde pôde estudar a prolixidade infinita dos burocratas da lei, que ele tanto satirizaria ao longo da vida; já adolescente, tornar-se-ia, primeiro, um repórter parlamentar bem-sucedido, para depois juntar-se à equipe do Morning Chronicle. Nessa ocupação Dickens viria a conhecer bem os meandros da imunda cidade de Londres, seus vários distritos, os diversos tipos humanos ao longo de toda a hierarquia social, seus cacoetes, vícios, códigos e registros expressivos. Uma das características mais amadas do estilo de Dickens é precisamente sua habilidade de reproduzir a performance de quem fala, como se o leitor estivesse sempre a ouvir suas personagens. Não raro, é essa performatividade das falas, e não o que elas em si dizem, que cria o efeito de paroxismo, que faz ressoar a personalidade e individualidade das personagens. Daí a efetividade de criações como o auto-comiserativo Josiah Bounderby, em Tempos difíceis, e do pusilânime Uriah Heep, orgulhosíssimo de sua humildade, em David Copperfield, para ficarmos somente com dois exemplos oportunos. Em ambas as traduções, diga-se, essa qualidade sonora da prosa dickensiana transparece, em dois trabalhos de altíssimo nível.
A carreira literária começa propriamente em 1836, com o lançamento da coleção de contos Sketches by “Boz”, que obtém sucesso. Mas o êxito mesmo veio logo no ano seguinte, com a publicação das Aventuras do Sr. Pickwick, talvez o romance mais estruturalmente “picaresco” do autor, um livro episódico com uma condução narrativa frouxa, repleta de incidentes hilariantes. A ele seguiram-se grandes clássicos como Oliver Twist, Nicholas Nickleby, Dombey e filho, Bleak House, Little Dorritt, Grandes esperanças, Um conto de duas cidades, entre outros, nos quais Dickens refina progressivamente o estilo que o tornara famoso, para ganhar em profundidade psicológica e descritiva, compondo assim verdadeiros panoramas da sociedade de seu tempo, onde nenhuma contradição e injustiça passou sem exame, e que nunca deixaram de ter valor analítico para políticos, historiadores e sociólogos, como deixara entrever Sloterdijk. Nessa imensa obra, David Copperfield ocupa literalmente uma posição central.
Construção de uma alma
David Copperfield (1850) é o oitavo romance de Dickens, e seu preferido. Fortemente inspirado na biografia do autor, a narrativa apresenta, em primeira pessoa, a vida do menino homônimo, do nascimento à vida adulta, quando engata uma carreira como escritor e conhece a fama. Trata-se de um “romance de formação”, para alguns o Bildungsroman britânico por excelência, em que o autor constrói — e isto é sim um clichê, útil pois evocativo — todo um mundo, vividamente povoado por mais de cinquenta personagens. Somos espectadores da construção de uma alma, de uma sensibilidade. Fortemente calcada na memória da infância de Copperfield e construída com superposições de reflexões, desvios de foco, enquadramento tanto nos cenários quanto nos objetos que os compõem; abreviações de períodos longos em parágrafos curtos, e prolongamentos de ações breves em passagens extensas, a prosa em David Copperfield tem, como sugere Jerome H. Buckley, em texto felizmente incluído na edição brasileira, a dimensão do tempo intensivo, qualitativo, que aproxima seu método de composição à técnica do cinema, a arte de massa por excelência. Talvez aí esteja outra pista para a atualidade de Dickens.
Seria algo petulante e injusto condensar a narrativa no espaço desse texto, que na belíssima edição da Cosac Naify ocupa mais de 1.200 páginas. Mas eis os contornos iniciais do sinuoso enredo: David Copperfield nasce “filho póstumo”, de pai falecido; é criado por sua mãe complacente, porém carinhosa, e pela governanta da casa, a senhora Pegotty. Não à toa as duas têm em comum o nome, Clara. David desenvolve grande apreço por Pegotty e sua família, que conhece em viagem a Yarmouth, onde eles habitam uma fantástica casa-embarcação. Ao retornar, descobre que a mãe casara-se com Mr. Murdstone, homem intransigível, psicologicamente violento. De certo modo ele tipifica uma constelação ficcional no universo de Dickens, a dos representantes de uma pedagogia vitoriana de disciplinamento pela humilhação e o rebaixamento, que reaparece até mesmo na série Harry Potter. David é então mandado para a escola, onde conhecerá tipo similar de tratamento, mas onde fará alguns amigos, em especial James Steerforth, que será mais tarde um importante antagonista na história. No ínterim, David fica órfão da mãe. Em um nítido paralelo com a vida de Dickens, David passa a ser explorado na fábrica de Murdstone, ganhando uma mixaria. Logo ele estará vivendo com a família Micawber, personagens inesquecíveis que se tornaram, como tantas outras criações do autor, pontos fixos na imaginação inglesa. Wilkins Micawber, como John Dickens, é encarcerado por inadimplência. Não perde, contudo, a resiliência; e é abordado pelo vigarista Uriah Heep, que acredita-o desonesto. Heep, um secretário no escritório de advocacia de Wickfield, secretamente arma contra o patrão. E a história prossegue até a ascensão de Copperfield e a queda de Heep. Somente nesse breve sumário, deliberadamente incompleto, já podemos vislumbrar o modo pelo qual Dickens tece as nuances da vida social, em suas irredutíveis tramas e redes de motivações e agentes.
Mas o realismo de Dickens é, claro, parcial. Como escritor, dotado de poderes “demiúrgicos”, ele pode dispensar o bem e o mal, e os dispensa: tende a vingar-se dos vilões, e a compensar a leniência dos bons. Distribui as virtudes e agenda o dia do juízo. Não à toa chamavam Tolstoi de “grande escritor cristão”. Dickens é um grande educador sentimental e moral. Não supera o melodrama como técnica de base. O romance pode ser visto como espécie de sub-rogado ou contra-imagem da teodiceia, uma grande justificativa dos caminhos do mundo. Essa, todavia, já não é mais uma questão específica na obra de Dickens, pelo contrário. É uma tendência presente até hoje nos folhetins, nas telenovelas; mas sua linguagem fundamental teve no século de Dickens seu momento crítico de amadurecimento e intensificação. Já se afirmou que a linguagem de Dickens é a linguagem dos best-sellers.

Insatisfatória
Nele preside, ademais, uma tensão permanente entre a disciplina da interioridade e da imaginação como resistência à despersonalização — herança romântica que o marxismo desenvolveu como problema filosófico — que é o fundo ideativo de David Copperfield; e um idealismo inerme, que inflaciona o papel da imaginação no equilíbrio do mundo social. Assumindo múltiplas configurações, essa tensão é uma verdadeira linha subterrânea de força na literatura moderna, unindo autores tão distintos como Dickens e o Peter Weiss da Estética da resistência. Mas tal tensão é menos produtiva em Tempos difíceis do que em Copperfield. Publicado em fascículos semanais e consideravelmente mais breve, Tempos difíceis (1854) é leitura agradável — raramente Dickens nos entedia —, mas algo insatisfatória, justamente porque prescinde da força de caracterização do autor, que rotineiramente humaniza as caricaturas que põe no mundo. O maior atrativo do livro é a descrição dos cenários da modernização e deterioração do ambiente social, passagens de um verdadeiro mestre da prosa, lindamente traduzidas. O pano de fundo é a luta dos operários de Coketown, que Dickens baseou nas cidades industriais de Lancashire, ao norte, e que a romancista Elizabeth Gaskell descreveu maravilhosamente em Norte e sul, do mesmo ano. É verdade que Josiah Bounderby, que sucede em irritar o leitor em rigorosamente todas as cenas em que aparece, é um personagem esplêndido, mas Thomas Gradgrind, um utilitarista que crê apenas no que chama de “fatos”, instruindo os filhos a suprimir o sentimento e a imaginação, nunca se materializa; é mesmo uma paródia, e diverte na medida em que cumpre esse papel. O subtexto dessa educação pelos “fatos” (diríamos hoje: “estatísticas”) é o automatismo, que começava a afetar e ameaçar a auto-imagem dominante do ser humano. Thomas Gradgrind sabe o que é quantificar vidas humanas, sabe exatamente o que é transformar vidas em dados. Charles Dickens é um autor axial para se entender o século 19.
As novas edições pela Boitempo e Cosac Naify merecem o apreço e agradecimento do público. Traduções excelentes, acabamento gráfico minucioso (no caso de David Copperfield o resultado é realmente estupendo), papel de qualidade, tipografia elegante. Justificam não só a leitura, mas a compra. A edição da Cosac Naify incorpora, além dos já mencionados textos de Buckley e Vasconcelos, professora da USP, um testemunho curto de Virginia Woolf sobre o livro.
Por ter captado os sonhos e medos de toda uma época e tê-los trazido para o interior da grande conversação, revelando, com generosa imaginação moral, sua dimensão de eminente possibilidade humana, Charles Dickens escreveu a imagem mais autorreconhecível que a Inglaterra produziu em seu século. Foi, por isso, acima de tudo, amado e honrado por toda uma sociedade que se reconhecia abençoada por sua magnânima utopia. Relê-lo hoje é relembrar como a literatura, em seus sonhos improváveis, constrói a imagem do futuro. Dickens foi um forjador de horizontes.