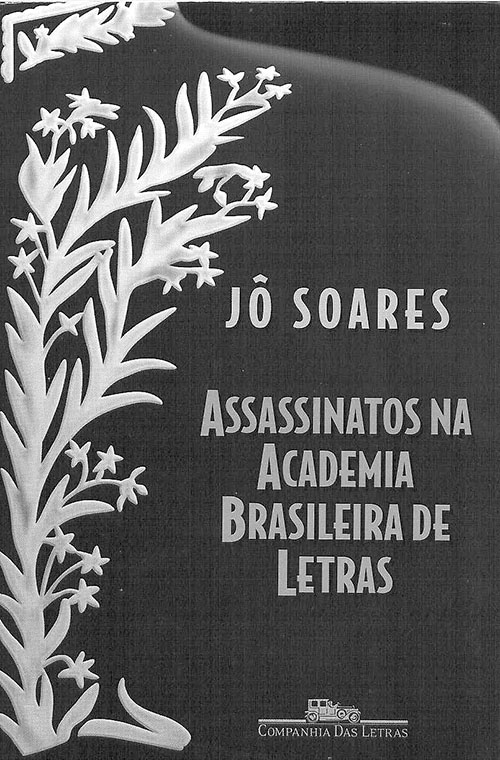Uma vistosa carreira foi traçada para Assassinatos na Academia Brasileira de Letras. Com tiragem de 100 mil exemplares, site exclusivo na internet e no estilo das superproduções cinematográficas, tarde de autógrafos no Petit Trianon — a lendária sede da ABL —, o terceiro romance de Jô Soares está sendo lançado com estardalhaço e na expectativa do grande sucesso. E este sem dúvida já se delineia no horizonte das listas dos mais vendidos, repetindo a trajetória de O Xangô de Baker Street e O homem que matou Getúlio Vargas, que juntos já venderam mais de 1,3 milhão de exemplares em todo o mundo. Mas a crítica especializada recebeu-o com pouco entusiasmo e muita reserva. Os principais veículos optaram quase todos por dar um grande destaque ao lançamento — e não poderia mesmo ser diferente —, mas raros foram os que proveram uma análise mais consistente da obra, e, nesse caso, ela tendeu a ser desfavorável. O recado parece estar claro: a notícia sem dúvida tem mais importância no plano jornalístico do que no literário, a despeito de Jô Soares ser hoje uma personalidade das mais brilhantes e cultas da mídia nacional. É inevitável também supor que uma parte significativa do mundo literato não se deu (nem se dará) ao trabalho de ler o romance, pois imagina conhecer de antemão a fórmula que garantiu o desempenho dos dois que o antecederam. Triste sina a do livro que já nasce como best seller: o interesse do grande público consegue ser inversamente proporcional ao desdém que lhe devota a elite intelectual; e quanto mais a obra vende ao primeiro, tanto mais ela se afasta da segunda.
Desde a estréia como romancista, há oito anos, Jô Soares é muitas vezes saudado com um adjetivo de uso recorrente entre os leitores mais exigentes: ele é tido como “pretensioso”. Nesse universo, como bem se sabe, a pretensão desmedida em qualquer das artes, mais que desmerecer o trabalho, equivale a uma sentença de morte. Via de regra, o jargão aplica-se à obra que foi realizada aquém do que se propôs, seja por ela ter sido de fato ambiciosa demais em relação à capacidade do artista em executá-la, seja — o que é mais comum — pela imodéstia do artista em avaliar o próprio talento. A autoconfiança exacerbada e o afã da grandiosidade acabam por afastá-lo de um dos princípios mais caros quando o assunto é arte: a simplicidade ainda é a maneira mais segura de se vencer a dificuldade, por paradoxal que esse conceito possa parecer. No caso de Jô Soares, é evidente que a figura midiática do homem de múltiplas aptidões contribui para que se espere dele sempre mais do que talvez se devesse esperar. Ou seja, o fantasma da pretensão cerca-o por todos os lados.
O escritor inglês Graham Greene, ao declarar que dividia sua produção literária em obras “sérias” e “de entretenimento”, acabou criando um novo conceito. A partir dele, a expressão “literatura de entretenimento” passou a designar um segmento essencialmente contemporâneo, quase sempre vilipendiado pela suposta pecha de servir à massificação, e que, ao contrário daquele dito “sério”, não teria a preocupação da transcendência. A proposta é divertir o leitor, e ponto final. Isaac Bashevis Singer talvez não concordasse com essa divisão, ao afirmar que “a literatura genuína informa enquanto entretém”, ou seja, toda a literatura, para ser considerada como tal, pressuporia o divertimento do leitor, mas não se limitaria a ele. Mas, admitindo-se que haja esses dois pólos e diferentes gradações entre eles, sem dúvida alguma Assassinatos na ABL deverá estar mais próximo ao do filão idealizado por Greene, tanto pela natureza da trama quanto por sua gênese: foi o próprio Jô Soares quem afirmou ter pretendido fazer um livro de humor.
O argumento não poderia ser mais sedutor: em 1924, o senador da República Belizário Bezerra, graças muito menos ao sucesso de seu último romance Assassinatos na Academia Brasileira de Letras e muito mais por influência política, está prestes a se tornar imortal da ABL, quando cai fulminado em pleno discurso de posse. Depois dele, insinuando uma irônica paródia de seu fictício livro, outro imortal morre em situação misteriosa, o que chama a atenção do comissário Machado Machado, um “compulsivo devorador de livros” e cuja esdrúxula duplicidade no nome é uma homenagem feita pelo pai, no fervor da admiração, a Machado de Assis, patrono da cadeira número um da ABL. Os Crimes do Penacho, assim batizados por um garçom do tradicional bar Lamas, passam a ser investigados num Rio de Janeiro que acaba de assistir à inauguração do Hotel Copacabana Palace, um dos ícones do período de glória da capital brasileira à época, mas que também se encontra em pleno estado de sítio. Os bastidores da ABL, as cenas da vida num Rio antigo e já perdido, o teatro de revista, o Cassino da Urca, o malfadado governo de Arthur Bernardes compõem o pano de fundo para uma trama detetivesca que vai ser esclarecida apenas no derradeiro momento, quando o nome do assassino é enfim revelado.
No resumo acima fica fácil reconhecer o tripé sobre o qual Jô Soares baseia a obra: humor, intriga policial e crônica histórica. O projeto, como se pode ver, não é pouco ambicioso. Para mesclar ficção com fatos e personagens reais, foi necessário um trabalho de pesquisa, e o resultado convence. A reconstrução da cena carioca dos anos 20 do século passado, com tudo o que ela teve de pitoresco e glamouroso, representa a melhor porção do romance. É óbvio que hoje em dia, com as facilidades todas proporcionadas pela internet, o levantamento de dados históricos tornou-se exercício corriqueiro. Entretanto, saber inter-relacioná-los e explorá-los com propriedade na literatura de ficção depende de um embasamento cultural prévio e que o autor já há muito demonstra ter. Alguns momentos são deliciosos:
“Um alarido ecoou pela sala, saudando a chegada do futuro imperecível. Belizário Bezerra, o Rodolfo Valentino da Zona da Mata, assemelhava-se a um imperador de opereta. O colar banhado de ouro e o espadim lavrado aprimoravam essa aparência. A tez queimada pelo sol do Nordeste fundia seu rosto com o verde e o dourado do esplêndido vestuário. Carregava, sob o braço, o chapéu bicorne emplumado, e percorreu o salão debaixo de aplausos, apertando mãos úmidas entre as luvas brancas. O andar de Belizário tinha a firmeza marcial dos militares e a graça dos bailarinos. À sua passagem ouviam-se exclamações arrebatadas: ‘Quel penache!’, ‘Quelle allure!’. Um desavisado que desconhecesse a ocasião e o visse passar assim paramentado seguramente perguntaria, inclinando-se num salamaleque: ‘Sois rei?’”
O léxico reflete a afetação própria da linguagem da época — “imperecível” como sinônimo de “imortal” é um dos vários e impagáveis exemplos —, sem, contudo, se valer das intrincadas construções sintáticas que, se também caracterizavam esse estilo empolado, poderiam vir a atrapalhar na fluência do discurso ao leitor de hoje. A opção foi inteligente. Um tempero adicional é a transcrição de algumas notícias fictícias do jornal O Paiz grafadas no português antigo.
Se por um lado o autor se esmera nesses detalhes de linguagem, por outro derrapa em lugares-comuns perigosos. Há um consenso entre os escritores e leitores mais experientes quando o assunto é sexo na literatura. A quem pretende se arriscar num tema dos mais difíceis de ser tratados com originalidade e elegância, o conselho jocoso é que o candidato fuja de expressões como “seios túrgidos” e “membro intumescido”: elas simbolizam hoje tudo aquilo que já foi demais usado e por conseguinte virou clichê. Pois bem, ambas podem ser encontradas em Assassinatos na ABL. De resto, a supressão das cenas de sexo não traria prejuízo algum ao romance. A única desculpa aceitável para que um acessório desse quilate seja mantido sem atrapalhar é que ele esteja exemplarmente bem-feito, o que não é caso.
O enredo policial não é dos mais inspirados, mas isso não constitui a priori um problema, pois o humor ainda pretende ser a atração principal. O detetive Machado é um personagem tão estereotipado que, como acontece com o célebre Ed Mort de Luis Fernando Verissimo, só poderia mesmo servir a uma trama humorística. Ele faz sexo com todas as mulheres com as quais cruza no curto espaço de tempo em que se passa a história, esbarra a todo momento na ignorância do superior imediato e tem até mesmo um Robin improvisado na figura do médico-legista que o ajuda na investigação. O único traço peculiar dessa criatura inverossímil, a paixão pelos livros, tampouco consegue ser original: Luiz Alfredo Garcia-Roza tem nessas paragens a precedência com seu delegado Espinosa, um dos melhores da ficção brasileira. A solução do mistério, por sua vez, chega a tanger a magistral urdidura de O nome da rosa, do italiano Umberto Eco, obviamente sem o mesmo resultado.
Nenhum dos vícios apontados até agora teria a menor significação se o livro conseguisse cumprir com seu propalado objetivo. É justamente aí que deve estar centrada a principal avaliação, trabalho dos mais espinhentos tendo em vista tratar-se de um assunto no qual o autor é mestre supremo. Mas tal especialidade, mais uma vez comprovada em Assassinatos na ABL, peca agora pelo excesso. O humor burlesco — e não por isso menos inteligente — tenta conviver harmoniosamente com a ironia minimalista, e essas duas poderosas forças se entrechocam e atrapalham a fruição. Mal comparando a partir do conceito de Greene, o escrachado posaria no lado do entretenimento, enquanto o irônico se avizinharia da porção mais séria, e o indivisível leitor, que jamais dispensa a direção firme do escritor, fica pulando de um galho a outro sem saber exatamente o que se passa na floresta.
Em que pesem todas essas ressalvas, Assassinatos na ABL é uma obra que tem seus atrativos. Além disso, flui bem, prende a atenção desde o primeiro instante, respeita o sábio preceito do princípio, meio e fim. Ao leitor que quer apenas uma leitura agradável, ela consegue oferecer um pouco mais do que isso. A um paladar mais exigente, contudo, ao final restará a sensação do tempo perdido em algo que já conhece e que já viu mais bem realizado.