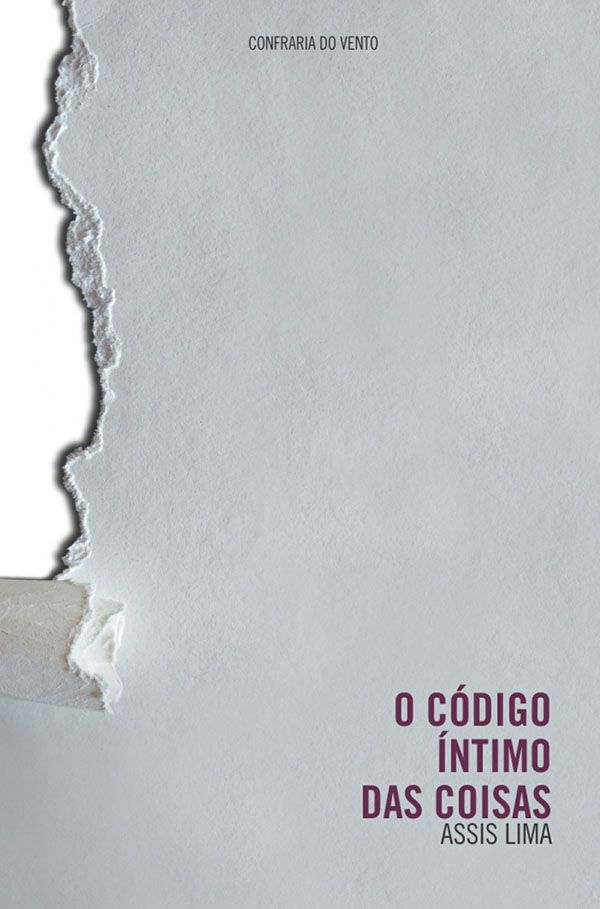Um dos temas caros à poesia brasileira há mais de 100 anos é o tempo. Nem precisamos nos demorar na demonstração do quão sintomático de angústias modernas (de era sangrenta e capitalista) é esse desejo de enigma: saber do tempo.
Tempo de ruínas, com Augusto dos Anjos. De errar, com Drummond. De viajar na memória, com Cecília Meireles. De reconhecer a luta inglória da linguagem, com Gullar, e revesti-la em outras materialidades — Concretismo. De recolher os poemas amassados, rasgados com Ana C. De reescrever a história em outros códigos, com Edimilson de Almeida Pereira, Ricardo Aleixo e Angélica Freitas. De escrever os versos nos muros, nos corpos. Enfim, de assumir a deformação do mundo, papel mais legítimo da arte.
Em meio à deformação, consoante ao tumulto da vida presente, um modo de assumir o tempo é com espanto. Eis a proposta que o poeta cearense radicado em São Paulo Assis Lima faz no livro O código íntimo das coisas. Mais que espanto, susto.
Se o tempo é espanto,
o presente é espanto
ou até mesmo um susto.
E o enfrentamento do espanto, à maneira de Drummond, está no gesto de palmilhar a estrada.
Entre o passado mal compreendido
e o futuro inescrutável,
meu passo a passo.
A diferença mais evidente talvez esteja no fato de o poeta mineiro sempre enfatizar as pedras da estrada e mostrar que elas se complexificam não apenas em obstáculos, pois vêm compor junto aos homens que caminham o signo elidido da poesia e da vida perversamente moderna. Ao mesmo tempo, a estrada proposta por Assis Lima é areada, como se pudesse ser refinada pelos que assumem o enfrentamento do enigma:
Rosa dos ventos,
novas equações
e incógnitas.
Destino,
carta enigmática.
O título do poema em que os versos citados até aqui aparecem é Areado. A sugestão parece ser a de que podemos refinar o caminho com nossas pegadas deixando na página — do poema e da vida — uma nota de otimismo, diferente do tom que predomina no enigma drummondiano, onde o que resta é a estrada rota e a impossibilidade de não segui-la.
Entretanto, se o destino é uma “carta enigmática”, o poeta tem de nos oferecer ao menos uma floresta de códigos para caminharmos. E Assis Lima faz isso. Sempre cuidando para não cair no embuste de oferecer falsas formas de desvendamento dos códigos. O livro não se oferece como solução; antes, parece chamar para aquilo que não se resolve, já que o objetivo é colocar em intimidade com as coisas, não solucioná-las.
Nisso, temos de convir, consiste a potente poesia dos séculos 20 e 21. Recolher na vida precária a poesia possível e fissurar o mundo eticamente com devires esteticamente forjados. Não se trata mais de constituir imagens para o mundo em formação. Em vez disso, como proporia Merleau-Ponty, trata-se de deformar o olhar para o mundo. Sendo assim, ao poeta cabe apenas colocar o leitor em estado de intimidade com os códigos, como numa pedagogia que não indica as respostas, mas tão somente estimula novas perguntas. Ensinar, numa dada etimologia, é introduzir aos signos, não entregá-los prontos.
Se estamos falando de uma poética de colocação em intimidade com os códigos das coisas, tratamos também da oportunidade moderna de elidir pedagogia e poética, de modo que aquela seja fissurada por esta e que ambas estejam intimamente tensionadas na floresta de signos que emancipa o indivíduo (como quis Deleuze e ainda defende Jacques Rancière).
Cacos
Para além da indicação metapoética, que também aparece nos versos de Botica (“Nem malhar a poesia a ferro frio,/ nem imergi-la no formol/ das múmias egípcias”), o livro está repleto de realizações das possíveis intimidades com os códigos. Estes, por sua vez, se implicam nas performances de uma tradição moderna de virada de século. Percebe-se no livro de Assis Lima uma dialética estendida com o poeta paraibano que primeiro acusou o niilismo inerente ao modo de ser dos países se modernizando no início do século 20, qual seja, Augusto dos Anjos. São deste as imagens que notamos no poema Artilharia.
No entanto, aqui, no caso do poeta cearense contemporâneo, percebemos que com os vestígios da forja (imagens exploradas por Augusto dos Anjos), ou seja, nas limalhas, nas faíscas que saltam, coisas que escapam do choque do “metal no metal”, o poema vai se realizando. Se Augusto, influenciado por Schopenhauer, apontava a condenação da subjetividade quente e amorfa ao esfriamento e às formas preestabelecidas pela forja, Lima tenta recolher alguma coisa que sobra:
enquanto a forja não para de soprar
e a chuva de ouro não chega,
imprimo na página o pó da ferrugem.
A indicação de que se trata de uma conversa com o poeta de Eu se confirma na alusão à chave de ouro, comum à forma escolhida por Augusto, que se apropriou e distorceu sonetos. Porém, aqui, em vez de chave, chuva, já que estamos numa cena em que chove faíscas — a de uma forja.
Outros diálogos
Também encontramos diálogo com os pontos altos do nosso melhor Modernismo — João Cabral de Melo Neto e Drummond, claro (“Mas hoje até as pedras têm coração”). No entanto, a conversa com a tradição não se estabelece apenas no plano mais erudito do cânone literário.
A tradição menos eurocêntrica aparece num poema em prosa bastante complexo em que o autor nos revela traços da diáspora africana que violenta uma tradição sufocada e enlouquecida. É o caso do poema Alcance: nele, vemos que o eu lírico-médico, ao se deparar com um paciente negro, jovem e atormentado pelo que poderia ser uma esquizofrenia, tenta estabelecer contato puxando por um ponto de candomblé em iorubá. A estratégia funciona por um breve instante apenas. Depois, “tentei abordá-lo, mas uma ausência desértica já o cobria e embotava”. O poema mostra como a violência da diáspora tortura também psicologicamente.
E ainda notamos, no epílogo do livro, uma vontade explícita de conversar com as tradições populares não apenas dos lugares para onde o processo de modernização, forjado à luz de falsas modernidades capitalistas industriais, insistiu em virar as costas, mas também de conversar com uma tradição mais distante — a do cancioneiro medieval, bem como da tradição épica.
Justamente nessa parte, que encerra o livro, dançamos ao ritmo de um repente travado com o multiartista pernambucano Antônio Nóbrega, figura que vem reunir, talvez para ajudar a encontrar a “chuva de ouro”, o popular e o erudito.
O código íntimo das coisas revela uma vontade de encarnar o signo do presente na linha rota e esgarçada do tempo. Pois, conscientemente, nos assusta para o tempo. O que, em poesia, sempre se alcança com um quê de anacronia.