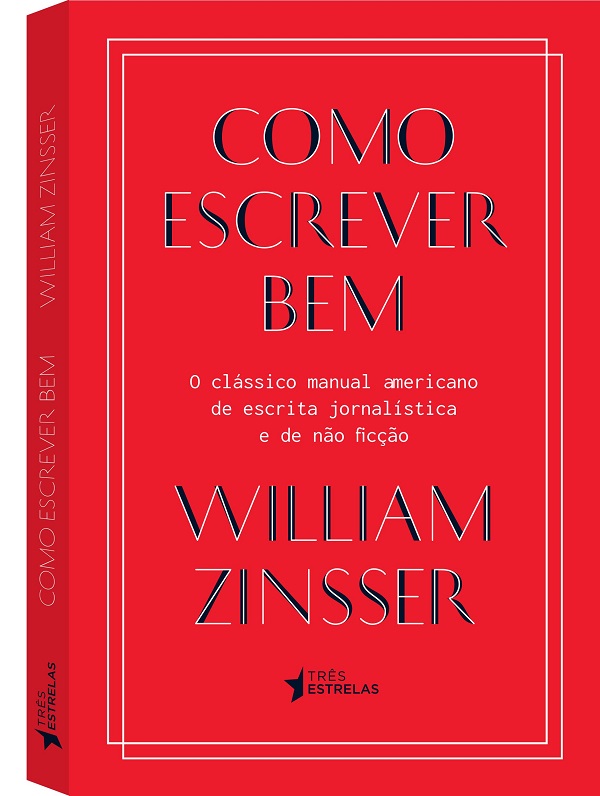O manual Como escrever bem, do norte-americano William Zinsser, só melhora depois que o leitor atravessa os dez primeiros capítulos. Essas 115 páginas iniciais — aliás, a metade do livro — não são de todo dispensáveis, porque contêm conselhos até úteis e certa perspicácia, mas a verdade é que bem podem ser descritas como um apanhado de banalidades, clichês e, infelizmente, algumas mentiras sobre a arte da escrita. Muitas dessas fórmulas mágicas do bom texto são repetidas à exaustão nas aulas de português e nos cursos de redação que habitam as escolas brasileiras; mas, se ajudam o vestibulando a conseguir a nota máxima numa prova, não necessariamente garantem o estilo reconhecível, a clareza argumentativa, a precisão vocabular.
A simplicidade, que é regra de ouro para Zinsser, deve materializar-se, em grande medida, nas palavras corriqueiras e na frase curta. Ele afirma na página 19:
[…] o segredo da boa escrita é despir cada frase até deixá-la apenas com seus componentes essenciais. Toda palavra que não tenha função, toda palavra longa que poderia ser substituída por uma palavra curta, todo advérbio que contenha o mesmo significado que já está contido no verbo, toda construção em voz passiva que deixe o leitor inseguro a respeito de quem está fazendo o quê — todos esses elementos são adulterantes que enfraquecem uma frase.
É uma ideia tentadora porque, a princípio, soa lúcida. De fato, elementos supérfluos em qualquer tipo de escrito, dos relatórios aeronáuticos às estatísticas geológicas, envenenam a argumentação e desviam o foco. Mas a simplicidade como valor inalienável através da aplicação dessas técnicas tenta esconder o elefante na sala. Um artigo de jornal apinhado de períodos curtos só será orgânico e se manterá de pé com naturalidade se o estilo do autor já for essencialmente esse. Um estilista caudaloso entregará o pior de si internado no manicômio dos parágrafos minúsculos e das frases de três sílabas. No fim, trata-se de uma dica limitante ao pleno desenvolvimento das capacidades de um autor.
Zinsser tem consciência dessa verdade inconveniente. Por isso cita Norman Mailer e Tom Wolfe como autores que construíram “casas notáveis” — em outras palavras, trabalhos de não ficção usando técnicas literárias multifacetadas e profundos recursos da língua inglesa para extrair o extremo de situações e personagens. Ou seja, a realidade imediatamente contradiz os ensinamentos recém-ministrados. E há um motivo não circunstancial por que esses sujeitos se tornaram clássicos da escrita nos Estados Unidos. É que, independentemente do fim a que se destina, se conto ou reportagem, se romance ou notícia, existe algo de mais essencial à natureza da escrita, uma característica que perpassa o magérrimo Ernest Hemingway e o nababesco Marcel Proust, um atributo que se encontra também em brasileiros ou neozelandeses que escrevem bem. E que não é dito por Zinsser. O que seria?
Antes de agarrar-se à noção de métrica — cinco ou dez linhas — e à convicção de assiduidade — a palavra é 86% frequente na língua, logo boa, ou apenas 2%, logo ruim —, os autores excepcionais, que ambicionam a comunicação alinhada à distinção estilística, sabem que o mais importante é: entender o ritmo que surge da diferente extensão dos períodos; compreender o mecanismo de encadeamento e correlação internos e externos a um parágrafo; perceber como as quebras de paralelismo fraturam a beleza da ideia; estudar que distribuição de argumentos pode ser mais efetiva à mensagem geral; aprender a enriquecer o vocabulário a fim de utilizá-lo com proficiência; assimilar — para não cometer — as falácias destrutivas e indigentes que são tão comuns; absorver métodos de planejamento que agilizem a transposição dos raciocínios para o papel. Por óbvio, a lista segue. A capacidade de conjugar esses múltiplos elementos por meio de diferentes decisões para atingir uma expressividade específica foi o que tornou eternos, digamos, Jorge Luis Borges e Henry James.
Livro muito instrutivo sobre as engrenagens da linguagem e da língua — língua portuguesa, a única que nos interessa no momento — é a obra publicada em 1967 e ainda hoje incontornável Comunicação em prosa moderna, do professor Othon M. Garcia. Sustenta-se, sem dúvida, como o estudo mais abrangente no tema. Diferentemente de Zinsser, Garcia, cujo estilo, além de tudo, ainda é elegante e expressivo, não aconselha que se prefira voz ativa à voz passiva, também não essencializa o emprego dos verbos, nem proscreve o ponto e vírgula, muito menos pede que se privilegiem apenas os detalhes concretos. Porque ele sabe que a particularidade de cada situação é senhora das escolhas acertadas. O objetivo é mais perceber as potencialidades da frase, do parágrafo e do texto que se encerrar em moldes.
A superioridade das instruções do professor se condensam neste trecho, que cito longamente:
As palavras abstratas apelam menos para os sentidos do que para a inteligência. Por traduzirem ideias ou conceitos dissociados da experiência sensível, seu teor se nos afigura esmaecido ou impreciso, exigindo do espírito maior esforço para lhes apreender a integral significação. […] Isso não significa, entretanto, que a linguagem humana deve prescindir de abstrações para se fazer clara; muitas vezes, mesmo traduzida em termos exclusivamente concretos, ela se torna também obscura. Portanto, o que se aconselha é uma conjunção dos dois processos.
Os exemplos de que Garcia se serve vêm dos melhores prosadores e às vezes dos mais complexos também. Tais escolhas querem dizer que a complexidade não é inimiga da clareza nem irmã siamesa da obscuridade. A língua, também parece afirmar Garcia, nasceu para que se lhe abusem de toda maneira, e da mais despudorada se possível. O pensamento contrário — isto é, o pensamento de Zinsser, que ganhou o debate no jornalismo e até na literatura — torna-se, sem desejar, o principal algoz da língua, aquilo que faz, dia após dia, o leitor ter de deparar-se com uma inundação de textos destituídos de qualquer sabor ou essência, porque pobres em recursos e palavras.
Viagens e memórias
A edição nacional sofreu mutilação desnecessária. Cinco capítulos foram sacados da terceira parte. Só quem lê em inglês terá acesso à visão do autor a respeito da escrita em esportes (“Os melhores escritores do ramo sabem disso. Evitam sinônimos batidos e buscam novidade em todas as frases.”), ciência (“É a ideia de conduzir, passo a passo, leitores totalmente leigos até a compreensão de assuntos para os quais pensavam não ter capacidade.”), artes (“É crítica em seu melhor: estilosa, alusiva, perturbadora. E perturba — como todas as críticas deveriam — porque chacoalha um conjunto de crenças e força a um reexame delas.”) e negócios (“No seu trabalho, seja você mesmo quando escreve. Você se destacará como uma pessoa de verdade no meio de robôs.”), além de um capítulo que mostra o peso que o humor tem para angariar leitores ao trabalho de não ficção.
Os cortes vieram logo onde Zinsser elabora as qualidades fundamentais de diferentes gêneros de texto. Junto com a quarta e última seção da obra, esses capítulos transformavam um livro até então tépido num manual vivo das próprias experiências do autor e válido para jornalistas de múltiplas extrações. Ainda assim, sobraram aos brasileiros anotações sobre técnicas de entrevista, comentários sobre narrativas de viagem que não cometem o olhar óbvio do turista e observações sobre as possibilidades da memória pessoal. Felizmente ficou também Decisões de um escritor, que mostra em pormenores a composição de um texto desde a primeira frase: nesse caso, um relato sobre a ida ao Mali para ver uma caravana de camelos no meio do deserto. É, vale o passeio a Timbuktu.