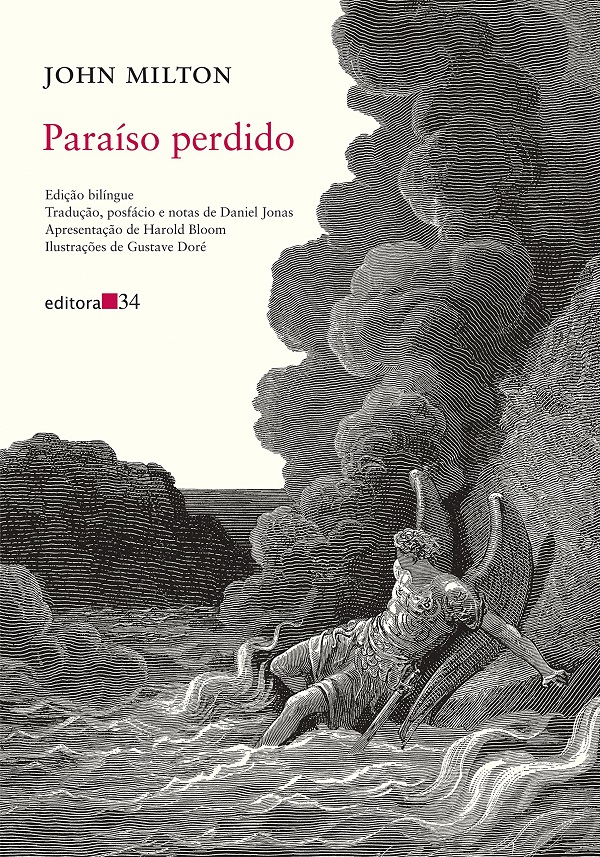Like the coldest winter chill
Heaven beside you… Hell within.
Alice In Chains, Heaven beside you.
1.
Entre setembro de 1941 e fevereiro de 1942, enquanto o mundo chegava ao ápice da Segunda Guerra Mundial, o escritor austríaco Stefan Zweig, exilado no Brasil, se espelhava em Michel de Montaigne para conquistar a sua liberdade interior. No meio da longa e sombria noite da alma que o sufocava, ele se perguntou como poderia se manter livre em um lugar “fora da pátria”, principalmente ao “se recusar a participar do coro dos possessos e criar, para além do tempo, uma pátria própria, um mundo próprio”.
Foi o que John Milton também tentou realizar em 1667, cerca de setenta anos depois de Montaigne, e mais de trezentos e vinte anos antes de Zweig fazer o seu apelo. Porém, neste caso, ao conceber tal empreendimento, ele se espelhou em um modelo ainda mais antigo do que o de Montaigne: ninguém menos que Homero. A referência ao vate grego não era aleatória. Não só porque devido à cegueira de ambos os poetas, mas, sobretudo, porque o inglês tinha plena consciência de que conceberia o poema épico que enfim colocaria o seu nome (e o da Inglaterra, sua amada nação) no pódio da glória literária — nada mais nada menos que Paraíso perdido (Paradise lost), lançado no Brasil pela Editora 34, em uma tradução impecável do poeta português Daniel Jonas.
Havia também outro motivo. Se Homero era o poeta que cantava a desgraça de um povo vitimado pela guerra civil e pela peste causadas unicamente pela arrogância dos seus contemporâneos, Milton desejava fazer o mesmo com o seu poema. Seria algo a mais, é claro, como tudo o que vinha da sua mente. O que hoje conhecemos como Paraíso perdido seria o épico que enfim explicaria à humanidade todas as razões da nossa desgraça, desde o início dos tempos, culminando com o momento histórico vivido pelo próprio Milton, desta vez não só derrotado e exilado dentro de sua tão amada Inglaterra, mas também fugitivo, já que, por volta do verão de 1665, Londres foi vítima da chamada Grande Peste, uma ameaça muito pior do que qualquer perseguição política. Um quinto da população foi dizimado, seja no centro da cidade, seja nos arredores; os laços sociais e os deveres pessoais entraram em colapso; os cemitérios estavam abarrotados de cadáveres que empesteavam ainda mais o ar, misturado com o grito das mulheres e das crianças, que não parava, devido à dor intolerável causada por inchaços monstruosos e repletos de um pus negro.
Milton também teve de se mudar para não ser mais uma vítima: foi para a vila de Chalfont St. Giles, bem distante de Londres, onde continuou a ditar, para os amanuenses que iam visitá-lo, os versos do seu grande épico. Sabia como poucos que o “paraíso perdido” era a raiz de todas as pestes que sua commonwealth tão vilipendiada então sofria, pestes políticas que também afligiam o seu corpo e a sua alma. Para ele, o seu dever era fazer o povo compreender que o “coro dos possessos” tinha um único intento: destruir a liberdade do gênero humano a qualquer custo.
2.
Assim como a Ilíada e a Odisseia — e depois a Eneida, de Virgílio, Jerusalém libertada, de Torquato Tasso, e Os lusíadas, de Camões —, Milton inicia Paraíso perdido com aquilo que os latinos chamavam de in media res: o leitor é lançado no meio do drama, quando os principais fatos já aconteceram e é obrigado a montar as peças necessárias para que a narrativa enfim adquira sentido. No caso, a história é a que sabemos desde o Gênesis da Bíblia — como se deu a desgraça da humanidade com a queda de Adão e Eva, tentados pelo discurso da serpente. Mas agora temos uma diferença. Antes dessa queda, houve outra: a de Lucífer, o anjo favorito de Deus, que, ao se revoltar contra o seu Criador, transformou-se em Satã. É ele que aparentemente encontramos em primeiro lugar, exilado, decaído, aprisionado, amargurado devido a uma derrota impossível de ter acontecido, pois a sua causa lhe parecia justa. Contudo, há outro personagem que nos é introduzido, alguns versos antes do surgimento de Satã. Trata-se do próprio Milton que, ao contrário das normas dos épicos anteriores, narrados com pretensões de objetividade, agora elimina qualquer traço de distanciamento neste ponto e assim assume plenamente a fusão entre o bardo e o eu-lírico.
Como bem observa Louis L. Martz em Milton: Poet of exile, Paraíso perdido é uma obra que encontra a sua ousadia estrutural graças à liberdade proporcionada ao duplo exílio vivido por Milton. Além da perda da visão, havia o isolamento político que o permitiu encontrar forças para escrever o último grande poema da Renascença europeia, o poema que sintetiza a frieza narrativa de Homero, a sensibilidade delicada de Virgílio e a forte presença pessoal de Ovídio. E apesar de olhar constantemente para as formas do passado, Milton não deixava de vislumbrar técnicas que depois seriam comuns ao futuro da literatura, já que é a sua própria persona como poeta que articula completamente as outras personas de profeta e educador, e que também dá o impulso à narrativa do épico longo, algo que depois seria feito na modernidade em O prelúdio, de William Wordsworth, Canção do eu, de Walt Whitman, Os cantos, de Ezra Pound, Finnegans Wake, de James Joyce, e A morte de Virgílio, de Hermann Broch.
Entretanto, a persona do poeta faz mais: dentro da lógica de temas e de imagens do Paraíso perdido, ela torna-se a representante da “consciência individual do ser humano”. Isso é fundamental para a compreensão do poema como um todo orgânico. O poeta é o único centro organizacional da narrativa e nada escapa ao seu olhar — nem mesmo os possíveis decretos emitidos por Deus enquanto este reina absoluto no Céu. A sua onipotência e sua onipresença têm uma razão específica: a própria criação do poema é, por sua vez, a forma como John Milton encontrou para a libertação de todas as ilusões que tivera sobre a natureza humana. O poema transforma-se, assim, no elemento principal para a salvação da alma do poeta que ainda vive, no seu íntimo, “a experiência da derrota” do governo puritano de Oliver Cromwell.
Dividido em doze livros na edição definitiva de 1674, o edifício, por assim dizer, é sustentado pelos seguintes pilares: as quatro invocações (ocorridas nos livros I, III, VII, IX) que Milton faz não à Musa dos antigos épicos, mas sim nada mais nada menos ao Espírito Santo que o ajudará a narrar os fatos que ultrapassam a própria cronologia da Bíblia — entre eles, a queda de Satã. Essas invocações são paralelas aos três monólogos ditos por Satanás (livros I, IV e IX) que mostram, por sua vez, um conhecimento profundo de como pensa uma consciência deformada. Entre esses dois blocos de invocação e monólogos, há o que chamamos de sete discursos de persuasão — um termo muito importante para Milton. Eles estão na seguinte ordem: a confabulação de Satã com seus asseclas no Pandemônio, o Parlamento do Inferno (Livro II); o convencimento do Filho de Deus a seu Pai de que será ele quem se oferecerá como sacrifício para redimir a humanidade já determinada a pecar com os atos de Adão e Eva (Livro III); o discurso de revolta de Satã a Deus (e, de certa forma, que se estende ao anjo Abdiel) expondo os motivos de sua rebelião (Livro IV); a declamação de Adão a Deus pedindo-o que ele crie uma companheira — Eva — para mitigar a sua solidão no Paraíso (Livro VI); a discussão de Adão a Eva para convencê-la que não o abandone e fique sozinha, à mercê das tentações diabólicas das quais já foram avisados pelo anjo Rafael (Livro VII); e os dois discursos complementares de tentação: o de Satã com Eva, o que a faz enfim comer o fruto proibido do conhecimento (Livro IX), e o de Eva com Adão, convencendo-o a acompanhá-la na desobediência final (Livro X).
Emoldurando esses fatos dramáticos, há os dois longos discursos. O primeiro é a própria narração do Gênesis, dita pelo anjo Rafael a Adão, explicando o que foi a criação do mundo dentro da linguagem sublime e latinizada de Milton (Livro IX); e o segundo é o “centro secreto” do poema, em que Milton explicita as suas intenções políticas e pedagógicas ao realizar dessa forma o épico da sua vida, quando o anjo Miguel conta a Adão como será a história da humanidade, repleta de destruição, guerra e desgraça, até o momento em que enfim a redenção do homem se dará pela vida e paixão de Jesus Cristo (Livros XI e XII). No topo e na base dessa construção, temos dois cânticos, que refletem diretamente o ambíguo relacionamento do homem com Deus — um de louvor, no qual Adão e Eva cantam um salmo que glorifica a beleza e a harmonia do Paraíso (Livro IV), e o outro de arrependimento e contrição, dito logo depois que Adão se conscientiza do erro que foi ter caído na tentação junto com Eva, e tenta se reparar diante de Deus (Livro X); e, por fim, a parte final, curta, porém repleta de significado emocional para o poeta (e, para o leitor, é claro, já que também lida com o destino dele como participante da corrente humana), que trata da expulsão de Adão e Eva do Paraíso e da consciência trágica que nasce com essa decisão divina (Livro XII) — e que só será remediada porque ambos terão a chance de sobreviver na loucura do mundo graças ao surpreendente Paradise within que a queda lhes proporcionou.
3.
Paraíso perdido mostra a difícil ascese interior do poeta e, paralelamente a ela, temos os três monólogos de Satã, que exibem o contrário: se Milton sobe rumo ao topo da excelência espiritual, o seu personagem diabólico é o exato oposto de uma descida infinita ao descontrole das paixões. Muitos estudiosos de renome afirmam categoricamente que Satanás seria uma espécie de herói trágico, uma vez que a intenção de Milton era realizar um épico digno dos bardos antigos. De fato, Satã tem algo de Ulisses ou até mesmo de Enéas, os respectivos protagonistas da Odisseia e da Eneida — um detalhe que deve ser visto com cautela, pois, de acordo com os humanistas cristãos (grupo no qual o inglês era um dos últimos representantes), esses heróis eram emblemas de uma ousadia que podia ser confundida com coragem e, por isso mesmo, contaminada pela arrogância de querer expandir os limites da realidade.
Contudo, esses mesmos estudiosos se esquecem do caráter piedoso das intenções de Milton. Por mais que o inglês tivesse o talento de um verdadeiro dramaturgo, sendo capaz de dar vida a uma abstração conceitual por meio de uma linguagem poderosa e sofisticada, ainda assim o impulso profético superava a tudo isso. Para ele, Satanás nunca poderia ser um exemplo heroico positivo — neste ponto, ele faz questão de que isso seja contraposto pelo Filho de Deus — e sim negativo, como o exemplo maior de uma atitude reconhecida por quem fosse seu leitor específico: o da revolta perante o cosmos divino.
Os monólogos satânicos são a descrição extrema do que ocorre quando o “coro dos possessos” atinge o grau máximo de desordem — e como isso se reflete externamente no lugar que chamamos de “Inferno”, que, para Milton, não é apenas um local e sim um estado psíquico e pneumático. Logo na abertura da sua primeira fala, a voz de Satã nos remete para uma semelhança estilística com o Macbeth, de Shakespeare. Satanás acabou de sofrer a derrota depois da guerra que ocorreu entre o Céu e o Inferno; está caído no chão, junto com seus asseclas. Levanta-se calmamente e decide que seu gesto de ódio contra Deus não terminará tão cedo.
Para destruir por completo a “tirania do Céu”, Satã só terá um único caminho possível junto com seus pares: escolher voluntariamente que o bem “jamais será nossa tarefa” e que o mal sempre será “o nosso único prazer”. A sua única resolução é manter-se firme na recém-descoberta força do desespero. Já que Deus decidiu ser o soberano de tudo, está na hora de se despedir daquilo tudo que se harmonizava com a razão que o fazia compreender a melhor parte do que se apresentava aos seus olhos. Pouco importa onde Satã se encontre, ele terá a liberdade que só a revolta pode lhe dar. Sua intenção é claríssima: a sua liberdade depende da servidão dos outros. O problema não é reinar, como ele quer que os outros acreditem quando afirma que se revoltou contra a tirania celestial. O que não se pode fazer de forma alguma é servir a uma determinada ordem onde Satã não pode mais ser o comandante. Assim, ele não hesita em criar uma nova tirania, a do Inferno.
No seu segundo monólogo, ocorrido no Livro IV, quando também somos apresentados pela primeira vez a Adão e Eva, Satã observa os dois e sente uma súbita e inexplicável inveja deles por viverem em algo tão harmonioso e belo como o Éden. Um tirano como Deus pode dar essas coisas para alguém que nunca as mereceu? Repleto de fúria e ressentimento, os mais perigosos dos sentimentos, ele voa com suas antigas asas de anjo para o topo de uma torre, suspira em uma profunda ponderação e diz como se dirigisse diretamente a um Deus que sabe muito bem que não o escuta mais suas reclamações.
Milton retrata o Inferno como a decisão consciente de uma perda completa da liberdade interior que o poeta sempre defendeu como a base de qualquer ordem civil ou religiosa — e, em especial, a individual. É claro que Satã não percebe a sua autodestruição. Ele está tão enamorado pelo seu poder de destruir que a única coisa que lhe restou é decidir que sua condição de proscrito do Céu durará por toda a eternidade — e que o mesmo se aplicará ao recente mimo de Deus, justamente nós, o gênero humano.
Este episódio enfim equipara Milton a Shakespeare, e incorpora um detalhe a mais ao seu Satã macbethiano: ao mesmo tempo em que ele tem o poder de destruir o que a sua inveja quer eliminar para que não haja nenhum resquício de bondade na criação divina, também anseia secretamente que o seu primeiro Senhor o abrigue de novo em seu reino. Por isso, ele é obrigado a preservar um pouco daquele “leite da bondade humana”, um pouco de liberdade interior, para que a sua ação tenha alguma espécie de sentido, alguma espécie de meta. Ou seja, ainda assim Satã terá de aceitar alguma ordem para que a sua tirania tenha a chance de ter algum governo, repetindo ironicamente o famoso dito de Albert Camus em O homem revoltado: “Não se pode ser niilista meio-expediente”.
4.
Escutamos essa “melodia macbethiana” do Satã de Milton nos dias atuais quando sabemos que Saul Alinsky, o ativista que mais influenciou a senadora democrata Hillary Clinton, dedicou o seu livro, Rules for radicals (“Regras para os radicais”, de 1971), a ninguém menos que “o primeiro dos revolucionários que se rebelou contra o establishment e, com isso, teve o seu primeiro reino — Lúcifer”. Mas ela também está presente no lado oposto, como nos ditos polêmicos de Steve Bannon, o estrategista-chefe da Casa Branca comandada agora pelo empresário republicano Donald J. Trump, e que não teve pudores de afirmar à imprensa que “a escuridão é uma coisa boa e o verdadeiro poder está com Satã”.
Independentemente das suas verdadeiras intenções na época em que foi escrito, o que John Milton fez com Paraíso perdido foi prever, como todos os grandes poemas do passado, que o mundo hoje se tornou um gigantesco “coro dos possessos”, comandado por uma elite que se revoltou contra o homem comum, o mesmo que foi expulso do seu paraíso particular devido a sua ignorância e a sua desobediência. Como bem descreveu Christopher Lasch em A revolta das elites e a traição da democracia, “o que faz o temperamento moderno ser moderno, portanto, não é que tenhamos perdido o nosso senso infantil de dependência [por exemplo, em relação a uma verdadeira vida religiosa], mas que a rebelião normal contra a dependência está mais difundida do que costumava ser”.
Milton captou com precisão este comportamento, principalmente no modo como vivemos a política dos nossos tempos. O antídoto para a tentação do poder que contamina Satã, Alinsky e Bannon também se encontra nos versos do poeta inglês. Trata-se daquilo que Stefan Zweig percebeu igualmente em Michel de Montaigne quando era um desterrado no Brasil — o de que “o coro dos possessos” não pode durar para sempre, pelo simples motivo de que é a função do Verbo nos ajudar quando mais precisamos dele, principalmente quando tudo está em risco e temos a certeza de que “a arte mais elevada da vida” é “rester soi-même”, seguirmos sendo fiéis a nós mesmos enquanto atravessamos essa longa e sombria noite da alma.