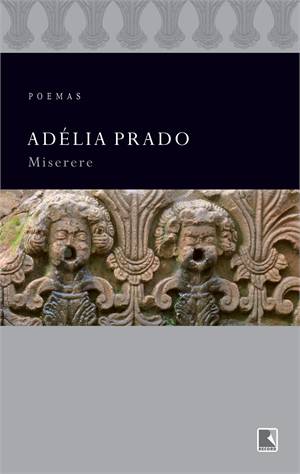Em seu mais recente livro, Miserere, Adélia Prado reúne 38 poemas em quatro segmentos, apresentando já no pórtico a clave religiosa sob a qual sua poesia pulsa (o título, palavra de misericórdia que o Salmo 51 acolhe, sugere esse espírito clemente e rogativo). Dois aspectos — um renovador e outro iterativo — não escaparão a quem acompanha sua escrita: primeiro, a conhecida vertente metalinguística não estanca (Pontuação bem o ratifica), mas seguramente flui em filete, amortecida. Depois, com presença maciça da primeira pessoa em seus versos, Adélia continua divergindo da considerável rarefação do sujeito, flagrante em boa fatia da poesia contemporânea. Paralelamente a isso tudo, uma informação discreta e essencial: a capa elaborada por Diana Cordeiro traz o batismo da obra subordinado, em visibilidade, ao nome da autora. A disposição espacial revela a cristalização canônica da escritora, já que sua reputação importa mais, como estratégia conativa, do que o próprio título que por ora se publica.
A busca ascética da pureza é novamente motivo caro à poetisa, e não surpreende, portanto, seu leitor assíduo. E mais uma vez a plenitude não se traduz em privar a carne, sagrada, da libido que a distingue — o que já assinalava o poema Entrevista, de O coração disparado. Como se sabe, a autora solicita recursivamente a urgência do desejo, mesmo que seja a orgia de ouro e açúcar, de Distrações no velório. E isto, é imperioso lembrar, não supõe exclusão de santidade, o que Octavio Paz bem esclarece (A dupla chama: amor e erotismo): se a árvore quer alcançar o céu, é na terra todavia que suga o alimento. A cerrada dialética pode ser captada, ainda, pela dicção de Hilda Hilst: “Nem é justo, Dionísio, pedires ao poeta// Que seja sempre terra o que é celeste/ E que terrestre não seja o que é só terra” (Ode descontínua e remota para flauta e oboé. De Ariana para Dionísio). O credo da contemplação imaterial se dissolve desde o início de Miserere, em condensada urdidura literária. Se no referido Salmo 51 o cristão promete purificar-se num branco mais limpo que a neve, o primeiro poema da obra recupera o logos num claro dueto com os irmãos Grimm. Aqui, ao pedir que o desejo cante (“O corpo quer existir,/ dá alarmes constrangedores”), Adélia parece dar uma piscadela maliciosa: frente à beleza que agora guardam em casa, “é evangélico que trabalhem cantando/ os anõezinhos da história” (Branca de neve). De fato, apenas certa sublimação santíssima impediria os homenzinhos de “conhecer biblicamente” a hóspede deslumbrante.
Extensão dessa volta sem remorso à matéria, a poetisa mineira reedita a visão de mundo de Alberto Caeiro, para quem a sensibilidade imediata e rústica deve suplantar todo requinte sem temperatura: “e mais vale para mim vê-lo cuspir no rio/ que esse seu verso doente” (A paciência e seus limites). Lidos em chave alegórica, os textos de Adélia Prado, longe de confirmar a assepsia religiosa, se entrelaçam para elaborar, de certo modo, uma paródia bíblica: Sacramental ensina o quanto a recusa da vida, o seu desperdício nAquele que a entregou para largo usufruto, constitui objeto de perdão e “miserere”: “Ó Deus, perdoai-me o equivocado zelo em Vos servir,/ o não tomar cerveja por orgulho/ de ser a mãe perfeita dos viventes”. Ou, como vemos em Inconcluso, Adélia implode a polaridade entre carne e espírito e audaciosamente aspira às frutas. Aqui, a Escritura se inverte: quando aqueles que as experimentam ganham admiração divina, já não terão perdido o Paraíso: “Desde agora, pensei, basta dizer/ ‘os açúcares das frutas’/ e o jardim se abrirá/ sob o mesmo poder da antífona sagrada” (Pomar). Em certos instantes, o abandono caeiriano da especulação, sempre a favor do sensorial (louvado em texto homônimo de Bagagem), serve positivamente para equalizar o pendor filosófico da obra, conforme vislumbramos em Quarto de costura: “Enfadei-me, saudosa de carne e ossos,/ acidez de sangue e suor./ O que deveras existe nos poupa perturbações”. Por outro lado, em casos como esse, o poema se justifica pouco na esfera meditativa, já que elide a potencial complexidade interrogante (afinal, o que deveras existe? Eis a razão primária de um desespero ontológico). E vale lembrar ainda: foi sob um tal diapasão que Adélia outrora reduziu (Com licença poética), através de certo revanchismo ideológico, o alcance reflexivo de Drummond. Se, em Poema de sete faces, ele atribui ao homem enquanto metonímia da espécie os desacertos com o mundo, ela converte a perplexidade gauche da humanidade num inverossímil mal de gênero.
A divina commedia de Adélia
Ao contrário de certa lamentação renitente, sente-se em Adélia Prado uma alegria madura, de quem sabe que a vida não cessa de ser um risco e uma incógnita, e que mesmo a memória recupera o vivido pelo ângulo afetivo da recordação e da singularidade — o que, necessariamente, resulta em ação inaugural. Em outros termos: nenhuma experiência suprime, como rede de segurança, o sofrimento previsto, e na escrita toda lembrança é revivida como epifania: “Aproveito e para meu descanso/ armo com elas [crianças] um pequeno circo./ Não temos proteção para o que foi vivido,/[…] Não perturbes inocentes, pois não há perdas/ e, tal qual o novo,/ o velho também é mistério”. Adélia Prado também entende que a iluminação divina, em sua plena força, é interdita à frágil matéria de que somos feitos e só serviria para desintegrá-la, em inevitável resgate do espírito. Pássaros e flores, poderosos fractais da beleza de Deus, já seriam, portanto, um júbilo e um sismo. Por isso, “de tempestades, [Deus] só mostra o começo e o fim” (O Pai).
Apesar de seu valor intrínseco preclaro, o livro não deixa de emitir, circularmente, um efeito de déjà vu, em relação à obra poética da autora. Em contrapartida, se os temas vez por outra se anquilosam, imagens e processos pretendem renová-los — travessia. É nessa corda tensa entre a clausura e o movimento que Miserere tenta se equilibrar. Querendo esquivar-se, por exemplo, à banalidade de rememorar o passado, Adélia perfila o homem segundo o olhar prospectivo do infante. É quando a criança impõe à fragilidade do adulto a sua implacável inquisição, a filogenética censura filial (Uma pergunta). Ou, ingênua, vê lúdico o que, rigorosamente, é melancólico. Com desoladora imagem inicial, o poema Avós resulta, disso, uma fina ilustração: “Minha mão tem manchas,/ pintas marrons como ovinhos de codorna./ Crianças acham engraçado/ e exibem as suas com alegria,/ na certeza — que também já tive —/ de que seguirão imunes”.
No fim das contas, é preciso perceber que esse erotismo religioso e salvífico de Adélia Prado só se realiza plenamente quando a carne se faz verbo — o que os textos sagrados, de elevado teor literário, sempre nos ensinaram: o deleite do significante constitui a porta principal do templo em que repousa e luz a poesia. Em A falta que ama, de O coração disparado, Adélia já mostrava ser assim a relação de sensibilidade com a língua: “Nunca fui em Belo Vale,/ mas amo esta cidade/ porque meu pai passou nela, em romaria,/ e voltou falando ‘Belo Vale, porque Belo Vale’,/ este som de leite e veludo”. Importa menos a cidade enunciada pelo pai do que o próprio ato enunciativo, seus fonemas líquidos afogando, extática, a ouvinte. Mas foi no desconhecimento dessa hierarquia que muito já se discorreu sobre o erotismo sacralizado — em boa medida evidente — da poesia de Adélia. No entanto, é exatamente pelo investimento formal, no desfrute do corpo linguístico ou da cópula verbal, que o assunto da libido ganha vida e transparência. Por isso a poetisa inveja “os gênios, sim, os que dizem: eis a forma nova, fartai-vos./[…] Se pudesse entender: o Filho de Deus é homem./ Mais ainda: o Filho de Deus é verbo […]”. A escrita de Adélia Prado não pode, ingenuamente, ser absorvida como uma mera confissão daquilo a que o coro social a obriga, enquanto mulher, a silenciar. Diríamos que, antes de tudo, a literatura se caracteriza por uma efusão vigilante, para a qual o investimento na linguagem assoma como instrumento indispensável. E a atenção formal, em Miserere, é o que ainda onera e valoriza individualmente a obra (em larga escala redundante no respeitável conjunto da autora).
Dado sem dúvida notável: sob esse rigor estrutural, as seções do livro, em nada aleatórias, parecem constituir uma commedia, um percurso de redenção pela palavra, que as epígrafes ajudam a mapear. Sarau expõe, em sua atmosfera noturna, uma modulação hedonística inicial, incólume às angústias do espírito: “Ó meu corpo, protege-me da alma o mais que puderes” (epígrafe das Notas íntimas de Marie Noël). Em seguida, vislumbram-se a contrição e a relação barroca da consciência — partilhada por alegria e querência de salvação: “Nossos pais esperaram em vós e os livrastes. A vós clamaram e foram salvos” (trecho recuperado do Salmo 21). Por fim, percebe-se um regozijo leve e sublimado, que limpa as tribulações na coragem meditativa: “A figueira já começa a dar os seus figos e a vinha em flor exala os seus perfumes” (Cântico dos cânticos). Rigorosamente, a trilha é cristã: após o júbilo sem peso, um mergulho catagógico no mistério metafísico, ao qual se sucede a retomada anagógica de quem soube das culpas arredar-se, depositando-as no Aluvião. Há, desse modo, uma espécie de travessia rosiana para uma leitura fenomenológica da vida: “Mudam de galho as três [aves],/ uma licença pra eu também me mover/ e escapar como as rolas/ da perfeição de ser” (Do verbo divino).
Em outros termos: o viver acontece no movimento, no saber-se imperfeito e cambiável; mas também no gregarismo, no religare que combate o que o diabollum separa (O que pode ser dito). A existência, miséria enriquecida pelo sonho, é incompatível com a hipostasia mortificante ou com a solidão altiva dos seres completos. Mas todo poeta deve dizê-lo em linguagem cinética e lustral, guia e antídoto contra a paralisia circular de seus infernos.