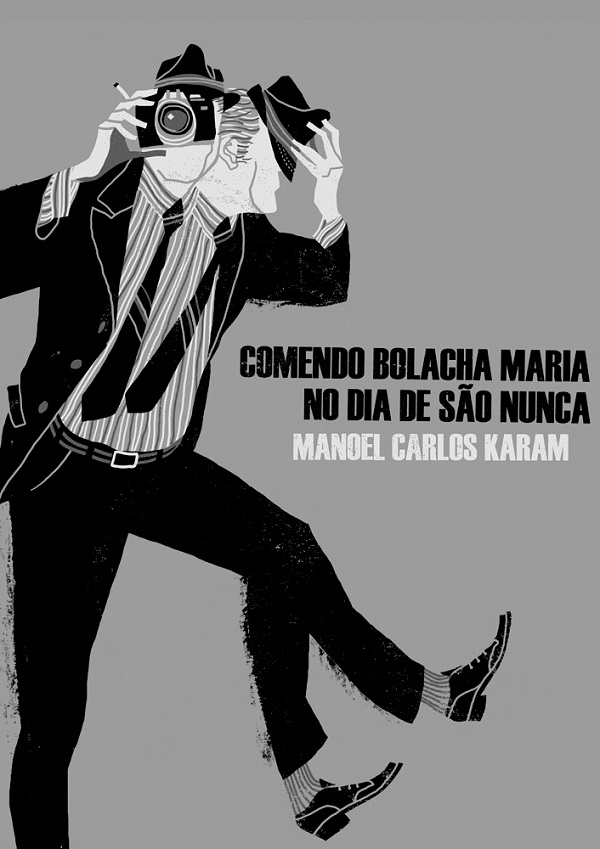Uma obra que investiga as fraturas afetivas e sociais de personagens diante da consciência da morte e do enfrentamento com a solidão, numa reflexão sobre a passagem do tempo. Trata-se de uma profunda investigação da condição humana que expõe com sensibilidade e humor as contradições do nosso tempo e reafirmam o autor como uma voz consolidada da nossa literatura e um crítico aguçado do mundo contemporâneo.
O parágrafo acima, embora caiba na contracapa ou na orelha de uma boa quantidade de livros, felizmente não é um trecho de algum comentário à obra do Manoel Carlos Karam. Claro que esse tipo de construção pode ser resultado de preguiça ou falta de inspiração do resenhista, que pega um atalho quase universal para escrever em cinco minutos sobre um romance. Mas, vamos combinar, esse atalho só existe porque a gente sabe que tem muito livro que se encaixa aí. Talvez isso seja força do tal espírito do tempo. Difícil escapar do mundo que nos cerca, do mundo onde cercamos os outros. Estamos todos juntos reunidos nessa barca no fim das contas. O famoso espírito do tempo é inescapável. Mas também existe — e que bom que existe — o espírito de porco do tempo. E isso é um elogio. E agora começamos a falar de Manoel Carlos Karam.
Começar a falar de Karam impõe um problema para mim. Não faz muito tempo que tive meu primeiro contato com este autor de dupla nacionalidade, como ele gostava de dizer, nascido em Rio do Sul (SC), amadurecido em Curitiba (PR). Aconteceu graças a outro bravo jornal paranaense, o Cândido, que resolveu, em 2012, fazer um coxudo dossiê sobre Manoel Carlos Quem?, perguntei eu naquele dia. E depois li o conto Ilha de Nossa Senhora Fulana de Tal e outros nomes e passei a achar que, mais do que ficar em dúvida sobre quem era Karam, eu precisava saber quem era Karam. O conto tinha uma síntese de boa parte do que vim a descobrir mais tarde na obra do autor. Mas o problema de falar sobre Karam: quase dois anos depois de descobri-lo, ler seus livros, ler sobre ele, começo a formar uma impressão sobre a recepção do catarinoparanaense. É polarizada. De um lado, um polinho, pequeno, mas vigoroso, das pessoas que já leram Karam. E estamos falando de Nelson de Oliveira, Marçal Aquino, Joca Terron, Carlos Henrique Schroeder, Luiz Felipe Leprevost, a turma da Arte e Letra e da Edições Kafka, entre outros qualificadíssimos leitores. E todos que estão nesse polinho, parecem conhecer o Karam a fundo, leram todos os livros, leram inéditos, visitaram o homem, tomaram cerveja com ele, editaram e prefaciaram os seus livros. E, do outro lado, um polo imenso formado por todos (incluindo aí leitores inveterados) que, assim como eu um tempo atrás, jamais ouviram falar em Manoel Carlos Karam e são capazes de perguntar se esse é aquele cara que escreve as novelas. Comprovo isso empiricamente. Escrevi em agosto de 2013, para o Suplemento Pernambuco, sobre Comendo bolacha Maria no dia de São Nunca, e, quando contava para amigos escritores, para colegas de mestrado, para pessoas que gostam de ler e descobrir livros, ninguém fazia ideia de quem se tratava. Portanto, chutisticamente, estabeleço: ou se é especialista em Karam, ou não se conhece Karam. E eis meu problema. Estou no meio do caminho, não sou especialista e não desconheço. E vou falar sobre ele. A questão inicial que me surge é como fazer um ensaio sobre Karam, Manoel Carlos Karam, sem que ele seja apenas para iniciados — até porque os iniciados parecem ser aprofundados? Escrever para aqueles que não conhecem Karam, o outro polo? Explicar Karam? Qualquer idéia de explicação, creio, não combina com ele. Não seria justo.
Talvez o caminho seja apenas Por que ler Karam? É uma responsabilidade, nessa enxurrada diária de livros em que vivemos, dizer para alguém: ei, pega esse livro aqui, não aquele. Só que é possível que, em alguma medida, eu acabe assim me aproximando de explicações, já disse, algo nada karaniano. Mas fazer o quê, se eu fosse respeitar o autor e suas formas, é provável que este texto começasse com uma peça de teatro (em ¼ de ato), mesclasse com três fragmentos (que alguns chamariam de minicontos, outros diriam aforismos, outros não entenderiam), emendasse com uma reflexão sobre um conto de Borges e terminasse com uma série de quatro ou cinco perguntas — todas elas muito pertinentes e instigantes — sendo uma sobre o cultivo de batatas em Pamonhinhas do Leste. Então, algumas questões minhas sobre o que leio em Karam.
1. O espírito de porco do nosso tempo
No comecinho da orelha da reedição de Fontes murmurantes, primeiro livro de Karam, Marçal Aquino diz “Bem na hora em que, arejada pelos tempos de redemocratização do país, a literatura brasileira embarcava num frenético ajuste de contas com a realidade, ele entrou em cena com este espantoso Fontes murmurantes”. Acho que passa por aí a sensação do espírito de porco do nosso tempo. Penso que, se há um espírito do tempo movendo o grosso da literatura de cada época, há também aqueles autores que encarnam o espírito de porco, graças a deus, amém. Quase sempre, lógico, ficam na margem. Campos de Carvalho, por exemplo. São esses caras que, acredito, se escrevessem exatamente o que escreveram em, digamos, espanhol, sentados num café de Buenos de Aires, seriam muy cults, si señor. Mas resolveram fazer em portuguesinho e não falam da condição humana do jeito que a condição humana espera que se fale dela e, portanto. Porque o Karam não fez apenas um livro que desviou da régua da literatura nacional. Aliás, o Fontes murmurantes talvez seja o mais certinho da sua bibliografia, pelo menos da que eu conheço. Eu, que comecei a lê-lo via Comendo bolacha Maria no dia de São Nunca e Pescoço ladeado por parafusos, livros absolutamente fragmentários, rebeldes com qualquer idéia de gênero, ao começar o Fontes, nas primeiras 30 páginas, razoavelmente acompanhando a narrativa sobre o personagem Campos, mesmo que um personagem em quem não cresce barba e os cabelos se desenvolvam assimetricamente (pra dizer o mínimo de estranheza do universo proposto), ainda assim, dado o contraste com os outros livros já lidos, pensava, Ah, então o Karam antes contava histórias, narrava linearmente. Então veio o narrador e disse “mas os acontecimentos da cela seriam mais bem contados se o próprio Campos fizesse a narração. Sendo assim, coloca-se de lado a terceira pessoa e assume a primeira pessoa do singular de Campos”, e eu Opa. Mas ainda era Campos, ainda era o protagonista. Porém, logo, num impressionante, rápido e leve (como mandaria Calvino) jogo de mudanças de perspectiva, a história sai de Campos e é sugada por um capítulo muito apropriadamente chamado de redemoinho, no qual somos envolvidos por outras narrativas, outras formas, outros personagens, por Karam, enfim. E, depois de escrever Fontes murmurantes, a coisa seguiu nessa toada e se reforçou nos livros seguintes do autor, lançados bem depois da estréia. Se a questão não era mais a democratização do país, mas a solidão do homem urbano brasileiro, ou a fragmentação da nossa identidade, ou a violência das cidades, ou qualquer dos discursos que envelopam 93,4% da literatura nacional, Karam sempre destoou, sempre falou em outro tom, arredio à média, arredio à forma, arredio a modas. Galhofando de tudo e de todos, aparentemente descompromissado, mas, no fundo, profundamente compromissado com os leitores. E acho que consigo dizer por quê.
2. O Teatro como utopia para a literatura
Primeiro, uma tese rápida e talvez rasteira: Karam antes de escrever livros, teve uma ligação figadal com o teatro. Escreveu, dirigiu, produziu muito nos anos 70 em Curitiba. É óbvia a sua relação com o teatro. Mas acho que podemos ir um pouquinho além do óbvio.
Para começar, a influência do teatro na literatura karaniana, é o que quero arriscar aqui, vai muito adiante da questão formal, da citação a autores, do uso de recursos de roteiro dramático em seus textos. Isso é evidente, basta ler Cebola, em que há esboços de peça, personagens atores, referências a Ionesco e outros dramaturgos. Ou verificar que a cena do personagem do jovem Campos jogando palito sozinho enquanto vigia o prisioneiro Três-nove-meia-dois é uma reescrita da peça Doce primavera, do próprio Karam. Ou ainda, basta ler o sensacional monólogo Um calcanhar avariado e outras histórias presente em Comendo Bolacha Maria no dia de São Nunca e, com qualquer desses exemplos, ou muitos outros, fica escarrada a presença do teatro nos livros de Manoel Carlos Karam. Mas me agrada pensar em algo menos visível, no teatro como utopia conceitual, de gesto, para a literatura de Karam. A idéia de que o cinema está para o realismo assim como o teatro está para Karam. Eu chego lá: o cinema, em geral (claro que há exercícios de abstração) não exige muito, ou não exige nada da nossa imaginação. Não há sugestão, apenas há. O que é para ser visto, vemos. O que é para ser ouvido, ouvimos. A tia do teu lado no cinema, embora não pare de falar com o maridão, está vendo o mesmo personagem que tu, compenetrado cinéfilo. E levanto a hipótese de que, dentro da literatura, as idéias de realismo cumprem a mesma função, especialmente se postas lado a lado com obras como a de Karam, ou ditos escritores de invenção ou experimentais. Nesse cenário, a literatura que prima pelo exercício de tentar retratar o real pede menos da nossa imaginação porque pretende falar das coisas como elas são. O carro terá quatro rodas e vai andar, não voar, sabemos disso, temos a fotografia mental de um carro; as casas têm portas e janelas; os meses têm 31, 30 e 28 dias, as semanas, 7 e por aí adiante. Agora, do outro lado, quero crer que estão o teatro e Karam. O teatro é uma narrativa extremamente exigente e cúmplice com o espectador. Dizem que para contar qualquer história num palco, basta um ator e um texto. Um ator e um texto criam o mundo, o universo, pessoas ao seu redor, podem tudo desde que o espectador esteja aberto e disposto a imaginar. A ver o filme na sua cabeça. Ou seja, desde que o espectador não queira imagens prontas e apenas digerir, desde que ele queira aprender a ver o que se propõe no palco. Literaturas como a de Manoel Carlos Karam também têm esse quê de desafio, cumplicidade e convite para o leitor. É não recomendável para preguiçosos. Ah, quero ler uma boa história para descansar, que eu tive um dia pesado. Ih, desculpe aí, amigo, infelizmente (infelizmente mesmo, porque você vai perder), não posso te indicar o Karam. Seus livros estão permanentemente querendo testar a lógica. Invertendo raciocínios, te perguntando “quem é o culpado pelo calo, o sapato ou pé?”. Há 15 personagens vivendo em uma casa sem janelas ou portas para fora. Há uma guerra contra os taedos, que escrevem o nove assim: 7. Há uma cidade chamada Alhures do Sul. Há que abrir a cabeça e botar para pensar. E é nesse sentido que eu disse lá o final do bloco anterior que Karam, na sua literatura em registro cômico, possui um profundo compromisso com leitor, porque ela dá uma sacudida na tua pasmaceira. Te tira da acomodação com formas prontas, do pensamento fácil para ninguém ficar “acreditando que todo mundo no mundo continua normal, naturalista, realista, que a audiência pode continuar respirando alegremente que o ar não está no fim”, como diz a certa altura em Comendo bolacha Maria. Aliás, esse é um ponto que julgo muito importante em Karam:
3. O nonsense que faz todo sentido
Karam é irmão de Kafka, do Monty Python, de Vonnegut, de Gonçalo M. Tavares, de Beckett, de Cortázar, de Borges, Campos de Carvalho e quem me dera ser seu irmão também. E me perdoem os puristas, mas coloco todos esses e outros na mesma prateleira. Se não for por motivos estritamente afetivos, que seja, e será, pela forma absolutamente natural com que o absurdo aparece em seus trabalhos. E como, acredito, isso faz um bem danado para as idéias.
Ao ler Karam, não é permitido acostumar-se com a forma do texto que está sendo lido. Começa como uma narrativa literária e vira em seguida algo teatral, que pode se converter em pequenos contos de menos de meia página e retomar a narrativa inicial (num registro um pouco diferente) e por aí adiante. Isso se dá na forma. E nas histórias não é diferente. Tramas abrem e não se fecham. Momentos como “A peça foi interrompida no meio do 1º ato para que os atores apresentassem o boletim do tempo expedido pelo serviço de meteorologia. Havia uma informação importante: a chuva prevista para o dia seguinte já havia começado” se acumulam. Há esse povo, os taedos, em geral inimigos do narrador, que “festejam o dia da santa padroeira número 2” (aliás, santas e padroeiras alternativas são um motivo que se repete livro após livro). Tem o animal fantástico de nome Batatinha (mas que um dos personagens de Cebola chama carinhosamente de Merdinha), que possui bico, penas e pêlos, duas patas traseiras esquerdas, mia, chilreia, uiva, tem chifres e nos dá acesso aos seus pensamentos. Aliás, Batatinha e outros personagens estão em uma casa onde não existem portas e janelas para o lado de fora e não sabem como foram parar lá e vivem incêndios anunciados por caixas de som. Alguém transformado em inseto, animais chamados cronópios, Tlön, Uqbar, Orbis, Tertius, The Ministry of Silly Walks, O Bairro, me parece, caberiam perfeitamente nesse universo que, em tese, não tem nada a ver com a nossa realidade.
Mas duas coisas acontecem: uma é que a escrita de Karam, apesar de não ser de conteúdo realista, de aceitar a etiqueta de nonsense muitas vezes, não poderá jamais ser considerada hermética. Existem obras realistas, porém intimistas, muito mais herméticas do que o que faz Karam. Sua escrita (ele desejava ter um estilo sem estilo) nos faz facilmente ver suas figuras, personagens e cenas. Ele não está dando show, ou avisando que vai nos espantar. Ele conta com a maior naturalidade que “Ao lado da minha mesa no escritório eu mantinha um cesto de lixo com areia movediça até a boca. Só comecei a despertar suspeitas após o desaparecimento do sétimo chefe”. Me ocorre uma imagem: com Karam, estamos com Quixote sem Sancho. Não há ninguém para nos alertar que os gigantes não estão lá. O estranho é real, partimos para cima dele. E parece que isso traz muito mais força ao estranho. Ao não alertar para ele, nos faz perceber e sentir de fato. Dá mais condições de pensar no absurdo das lógicas e mundos que estão nos livros de Manoel Carlos Karam. E aí posso falar da segunda coisa que acontece, essa fundamental, a partir do absurdo naturalmente abordado por Karam.
Cesar Aira, numa grande ensaio, A utilidade da arte, fala da falência do homem antigo, que desmontava e montava equipamentos como rádios, ferros, etc. Que consertava sozinho a geladeira, o próprio carro. Era tudo mecânico, lógico, palpável, bastava observar a regra de funcionamento das coisas e aplicá-la. O homem dominava o mundo. Porém, diz Aira, “desde que os carros vêm com circuitos eletrônicos, o famoso [desmontar e montar] ‘até o último parafuso’ perdeu vigência”. E segue, “Houve um momento, neste último meio século, em que a humanidade deixou de saber como funcionavam as máquinas que utiliza. De forma parcial e fragmentária, sabem apenas alguns engenheiros dos laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento de algumas empresas, mas o cidadão comum, por mais hábil e entendido que seja, perdeu a pista há muito”. Quer dizer, estamos envolvidos por mistério e magia, cercados por deuses-botões que fazem o mundo acontecer, obedecemos a gravações ao telefone para movimentar nosso dinheiro que não tocamos. Nesse mesmo mundo, em que, sem conversar com ninguém, reservo em minutos um albergue na Mongólia, nesse mesmo mundo, penso que uma bomba explode no Iraque e isso não mais nos assusta, afinal no Iraque bombas explodem. Fui assaltado um dias desses e ninguém achou estranho, ora bolas, estava andando sozinho, à noite, perto de um parque. E isso, lógico, não se faz no Brasil. Penso que, coletiva ou individualmente, também estabelecemos lógicas absurdas. Criamos e vivemos num mundo absurdíssimo, com leis que não são mesmo tão diferentes da do soldado que conta que pegou o trem para a guerra e “minha noiva estava na plataforma me dando adeus. Eu não tinha noiva, mas uma lei exigia que todo soldado tivesse uma noiva dando adeus na plataforma”.
Uma série de convenções que observamos hoje são noivas dando adeus na plataforma. Mas, por algum motivo (sobrevivência, não dá para querer saber tudo), deixamos de reparar essas questões. Anestesiamos nosso espanto. E aí retomo Karam e toda sua nobre linhagem de irmãos-autores. Quem sabe outros absurdos, zero quilômetro, menos rotineiros, não possam servir como um peteleco nas idéias, elemento desautomatizador de sentidos. Reavivar o espanto. Ao dar com o estranho de Karam, talvez possamos despertar para o nosso estranho, acordar para as formas ao nosso redor. Lembro de um curso que fiz com o professor Charles Watson, em que ele falava sobre nossa necessidade de dar nome às coisas. É imperioso saber logo o nome da coisa para não ter que pensar, inaugurar o que ela é. É confortável saber o nome das coisas, pois elas não são mais estranhas. E isso vale para a cadeira, para o computador que liga, para o amigo. Porém Karam taí para nos trazer esse problema, esse desconforto. Ler Karam é adentrar num espaço muito parecido com o que conhecemos, mas nunca antes pisado pela humanidade. Com objetos que sequer desconfiamos para que servem, se é que servem. Tudo precisa ter utilidade? Nada tem nome ou manual de instruções, é preciso tatear, observar, cheirar, testar o sentido de cada coisa. E quem sabe um dia nomear. Karam faz isso em todas as camadas, com a inclassificabilidade dos seus textos, com a não linearidade do que narra, com a falta de uma narrativa evidente, com um jogo de novas lógicas e sentidos virgens, em que “tudo é o avesso de alguma coisa, tudo é vice-versa, tudo cabe no etc.”. E isso, como espero que já se tenha notado, com muito bom humor.
4. Humor doa a quem rir
Duas coisas: Modesto Carone, escritor e tradutor de Kafka, já contou em entrevista que “Kafka é pesado, mas tem muito humor. O próprio Kafka ria muito quando lia os originais de A metamorfose para os amigos mais chegados, ele chegava a chorar de rir”. E lembro de um conselho de uma amigo escritor, há quase dez anos. Dizia, se tu quiser ir pelo humor, vai ter que escrever e provar em dobro. E eu sei que tem gente que não concebe muito bem arte e humor passeando por aí de mãos dadas. Mas eu pergunto: Karam não desestabiliza, não exibe a terceira face da moeda, não apresenta ângulos do mundo que ainda não tínhamos visto? E não faz isso com forma própria, com seu estilo sem estilo, em diálogo, ou melhor, em discussão com a literatura? Sei que definir arte é um terreno perigoso, mas me parece evidente que há um fazer artístico em Karam. Só que o sujeito faz isso com trechos como “A guerra contra os taedos já durava três anos quando chegou o emissário do papa para nos informar que era pecado entrar em guerra contra os taedos. Como não fomos nós que entramos em guerra contra os taedos mas os taedos que declararam guerra contra nós, matamos o emissário do papa. Ele não deu a outra face porque estava morto”; ou a cena em que “Subitamente a escada rolante enguiçou e parou. Muitos entraram em pânico, alguns gritaram de medo, estavam presos na escada rolante”; Ou ainda o incêndio dentro da casa sem portas e janelas, em que alguém passa a dizer no meio da algazarra “por que pedir socorro?, quem ouve aqui um pedido de socorro também está pedindo socorro, quem pede socorro, acaba não sendo ouvido porque os outros ouvidos estão ouvindo apenas os próprios gritos de socorro, entrar em pânico”. E me divirto com o jogo de lógicas novas e lá pelas tantas vejo que também andamos presos em escadas rolantes, de que estamos pedindo socorro por aí e tentando gritar mais alto do que os outros, presos nas nossas casas sem portas e janelas. E penso sobre o porquê de estar rindo. E refletindo. Uma poética do humor e do estranho. Um humor doa a quem rir.
Em Pescoço ladeado por parafusos, tem a pergunta “O que é fugir com o circo?” Se eu tivesse o prazer de um dia ter encontrado o Karam, gostaria de responder que é escrever como ele. Ou ler seus livros. É fugir dessa realidade morta, do “mundo que me seduziu e depois me abandonou” para vê-lo melhor. É esse prazer e desafio de experimentar outras lógicas e depois observar as nossas de um jeito novo. Enfrentar o bruto se jogando na fantasia. É fugir para encarar. É usar da imaginação para entender o real. É fugir com o circo porque “O circo está armado. Até os dentes”.
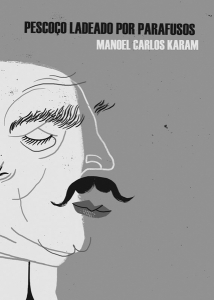
Pescoço ladeado por parafusos
Manoel Carlos Karam
Arte & Letra
191 págs.