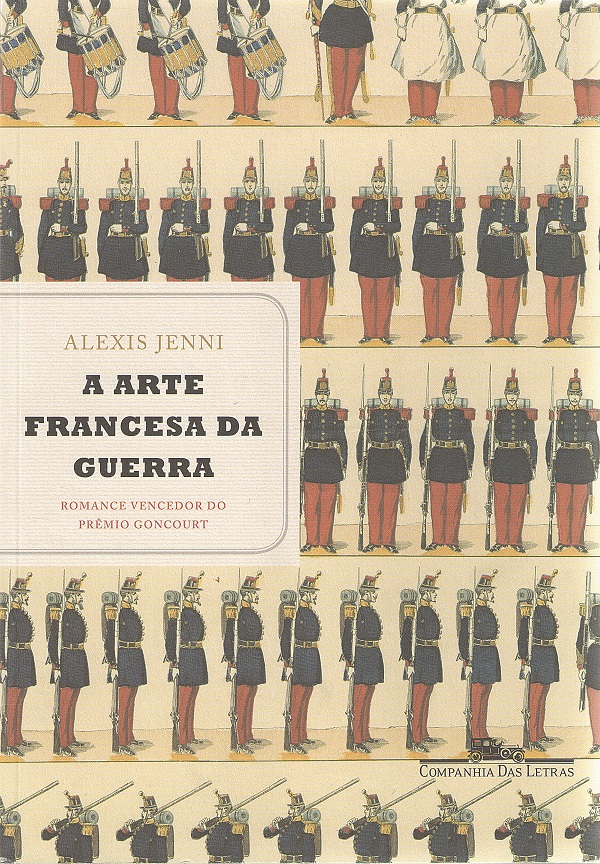A arte francesa da guerra, título do romance de estreia de Alexis Jenni, traz consigo o teor da obra, a ambiguidade. Com uma generosa dose de condescendência deste aprendiz.
Tudo começa com uma citação de Pascal Quignard: “O que é um herói? Nem um vivo nem um morto, um […] que adentra o outro mundo e volta”.
E se a citação deflagra a narrativa, é por meio dela que investigaremos a personalidade do capitão Victorien Salagnon. E ambiguidade é o que não lhe falta. Ex-paraquedista durante a “guerra de vinte anos”, desenvolve um diálogo com um desocupado que vive recluso num subúrbio de Lyon. Por vezes distribui panfletos publicitários, o que lhe permite uma vida de duras limitações. Gasta seu tempo bebendo, fazendo sexo e assistindo a filmes de guerra.
A arte francesa da guerra é a história do encontro desses dois homens. O ex-paraquedista ensinará o “entregador de panfletos publicitários” a pintar, e este escreverá sua história.
O ex-combatente tem nome, seu aluno será simplesmente “o narrador”. Ele revelará os pensamentos de Salagnon, os horrores vividos na guerra, as atrocidades cometidas. Ao leitor a permanente dúvida, até que ponto o narrador concorda, tem prazer com o que ouve de seu mestre.
A história percorrerá quase três décadas de colonização francesa, Indochina, Vietnã, Argélia. Jenni não faz apologia do heroísmo. A seu ver, as guerras de colonização são guerras sujas.
E por falar em Argélia, é exatamente esse país que leva a comparar Jenni com Camus, pois o autor de A peste não pensava a Argélia não francesa.
Muito foi escrito, pelo menos na França, sobre as guerras de colonização. Várias histórias foram contadas e muito sangue foi derramado.
Se anteriormente Salagnon manchou a história, o chão, a vida, com sangue; no presente, pinta telas com tintas inocentes. Tanto sangue, tanta tinta, seja no papel, seja na tela, que acaba espirrando no general De Gaulle, também conhecido como “o romancista”, pois mentia com a maestria dos romancistas.
De Gaulle mentiroso? De onde isso? Antes de maio de 1968, o general afirmou que pensar uma Argélia francesa não passava de utopia, mas Argel fervia e logo se percebeu a possibilidade de uma amizade franco-muçulmana. Admitiu, então, que estava diante de algo bastante possível.
Mas voltemos a Victorien Salagnon, o professor de pintura, e ao narrador, seu aluno.
Eles representam a selvageria colonizadora, as diferenças, o nacionalismo, a raça, o fanatismo. Com o inimigo a gente não fala. A gente o combate; a gente o mata, ele nos mata. Não queremos conversa, queremos briga. No país da doçura de viver e da conversa como uma das belas-artes, não queremos mais viver juntos.
Como amenizar isso tudo? Amor, arte, luxúria são algumas possibilidades capazes de desarmar o ódio.
A arte francesa da guerra é um livro extraordinário. Colocá-lo ao lado de Os moedeiros falsos, de Gide, e de Desonra, de Coetzee, é o mínimo que este aprendiz pode fazer. Calma, calma, as histórias têm algumas coisas em comum, eu escrevi al-gu-mas. O livro dentro do livro, Gide, colonizador/colonizado, Coetzee. Sigamos, pois. Ocorre que a obra de Jenni, mais volumosa, mais repleta de aventuras, tem também mais tempo para abordar exatamente o tempo. O tempo das várias histórias e as transformações daí advindas.
Em Discurso da narrativa, Gérard Genette afirma que a narrativa é uma sequência duas vezes temporal, onde se percebe o tempo da coisa contada e o tempo da narrativa, desse modo faz a distinção entre o tempo do significado e o tempo do significante.
Diz Genette que uma das funções do discurso narrativo é inverter esses dois tempos, imbricando-os.
O teórico mostra, entre as consequências dessas diferenças temporais, a exigência de leitura diacrônica, uma leitura onde se perceba “pelo menos um olhar cujo percurso não é já comandado pela sucessão de imagens”.
Vale lembrar que o tempo utilizado para narrar uma história é diferente do tempo do acontecido.
Desse modo, algo que durou muito tempo pode ser narrado em uma, duas linhas, por outro lado um acontecimento aparentemente insignificante pode consumir páginas e páginas da narrativa. Podemos dizer que se trata de uma estratégia do autor no sentido de chamar a atenção do leitor, dar ênfase a determinados pontos da narrativa.
Mas tudo é guerra, mesmo em tempos de paz. Nos bares, nas filas.
A violência ao alcance de todos, a tortura; “o francês é a língua internacional do interrogatório”.
A violência perpassa a narrativa de Alexis Jenni. O narrador pergunta ao ex-combatente se ele torturara alguém, e seu mestre confessa ter feito pior, esquecera a humanidade.
Mas atenção, sensível leitor, embora o título, este não é mais um livro a relatar apenas as atrocidades da guerra. A arte francesa da guerra também aponta o dedo para a xenofobia francesa, para a rota de fuga assinalada pela arte, seja a pintura, seja a literatura. O que for… Se depender do homem, estará sujeito à manipulação, ao cinismo, a toda ordem de deturpações. Nada a fazer… É a nossa natureza.