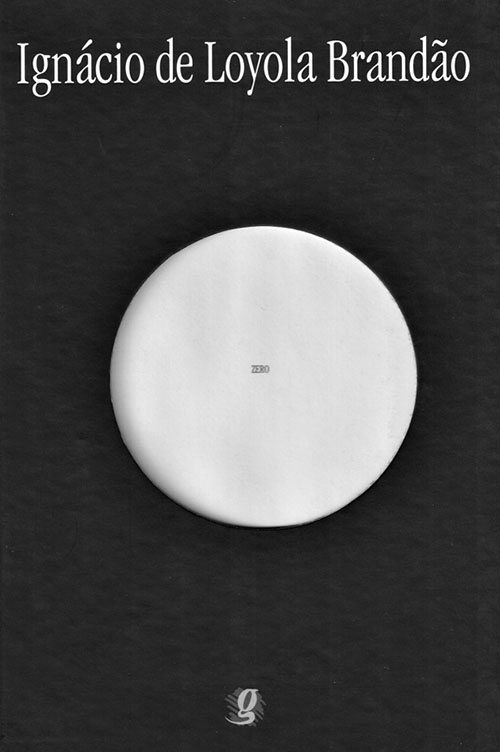Com quantos prêmios se faz um escritor? Reformulando a questão: quais são as credenciais para qualificar a validade de uma obra-prima? Às indagações que abrem este ensaio, mesmo que indiretamente, houve quem tentasse apresentar respostas definitivas. Exemplo disso foi a recente celeuma em torno do Jabuti. Enquanto autores tentam superar a desconfiança de sua fama e celebridade, outros preferem permanecer à margem desse universo, e não apenas no plano do discurso. Dito de outra forma, enquanto alguns nomes pretendem estar escritores, à moda de um Medalhão, existem escritores que efetivamente preferem depurar seu trabalho, consolidar seu projeto literário e, nesse sentido, dar continuidade a uma coerência que pode não ser atraente ou elementar para as primeiras páginas dos cadernos de cultura, mas que é necessária e óbvia para quem busca um sentido mais sofisticado da produção literária no Brasil. É esse último sentido, aliás, que faz com que a obra de Ignácio de Loyola Brandão mereça reflexão mais aprofundada, tomando como gancho o lançamento de Zero pela Global, em comemoração aos 35 anos da primeira edição do livro.
Publicado originalmente em 1975, Zero não é um romance fora da curva na produção literária de Ignácio de Loyola Brandão. Pelo contrário. Nos mais de 20 livros publicados, entre romances, crônicas e contos, notam-se algumas características em comum, a ponto de ser possível entender como tema central da narrativa do autor a idéia do absurdo. Ou, para ser mais preciso, a maneira como o escritor extrai de seus personagens, aparentemente ordinários e comuns, histórias efetivamente extraordinárias e fora do comum. Seja na linguagem experimental do já citado Zero, seja na crítica contemporânea à presença maciça da celebridade na chamada esfera pública, Loyola parece possuir claro, em seu estilo, um objetivo, uma meta, um gol: fazer com que o leitor supere as aparências e perceba o absurdo da realidade cotidiana, capaz de fazer com que meros gestos assumam conseqüências definitivas, do mesmo modo como o comportamento bestializado do homem, quase autômato, faz com que se veja o quanto se suporta sem sequer reparar.
O livro que ora é alvo de comemoração em virtude de seu aniversário de lançamento é um caso exemplar a esse respeito. Isso porque, mérito da obra, Zero ainda detém na sua estrutura aquele mesmo punch de mais de três décadas. Dito de outro modo, poder-se-ia afirmar aqui, deixando de lado (ao menos por enquanto) os preciosos ensaios de apresentação do livro, a obra justifica sua permanência não apenas pelo tema — posto que foi uma das obras que ousou enfrentar o estado das coisas em plena ditadura militar — mas, sobretudo, pela forma escolhida para produzir esse impacto. Como tantos outros, Loyola poderia mesmo ter optado por narrar um caso-denúncia, floreado a discussão com informações e dados históricos, assumido o discurso de vítima e, voilà, estaria composto um belo espécime desse subgênero que é a literatura engajada. É evidente que a obra foi interpretada e lida, até hoje é assim, como uma peça de vanguarda e resistência literária. No entanto, para além do fenômeno histórico e por seu valor político, trata-se de um texto que se cristaliza como peça singular da literatura brasileira por inovar na maneira como se contavam as histórias de ficção no Brasil. A alegoria dá lugar à imaginação, outro desses elementos constitutivos do edifício literário de Ignácio de Loyola Brandão.
É a propósito disso, diga-se enquanto é tempo, que as palavras elogiosas à obra de Ignácio de Loyola Brandão aparecem de todos os lados. Na reconstituição documental preparada pela editora em comemoração ao aniversário da publicação, lêem-se as palavras de Walnice Nogueira Galvão (“não há obra em nossa literatura que melhor transpire essa metafísica do desespero, quando uma geração inteira foi esmagada em suas aspirações”) e de Antonio Candido (“penso em Zero sobretudo como símbolo vivo da liberdade de espírito e dos direitos da inteligência”), para não comentar das alusões de nomes como Marshall Berman, assim como toda uma geração que se viu influenciada por esse romance experimental, caótico e, talvez por isso, tão singular na literatura nacional.
A proposta de impactar o leitor de forma permanente é levada a sério logo no primeiro período do romance, que facilmente figuraria na lista de aberturas inesquecíveis da literatura brasileira, quando o narrador assevera:
José mata ratos num cinema poeira. É um homem comum, 28 anos, que come, dorme, mija, anda, corre, ri, chora, se diverte, se entristece, trepa, enxerga bem dos dois olhos, mas toma Melhoral, lê regularmente livros e jornais, vai ao cinema sempre, não usa relógio nem sapato de amarrar, é solteiro e manca um pouco, quando tem emoção forte, boa ou ruim.
O texto segue, num contínuo de descrição detalhista, que, para além de apresentar o leitor ao cotidiano extraordinariamente comum do protagonista (um José, afinal), exacerba a expressão da condição humana de um autômato, personagem que facilmente figuraria na galeria de personagens de uma distopia de ficção científica.
Ainda assim, não é de ficção científica que se trata. É, isto sim, uma literatura que assume a vanguarda como bandeira, tendo em perspectiva os desdobramentos do cotidiano de José narrados com a pena experimental de Ignácio de Loyola Brandão. De fato, chamam a atenção os inúmeros recursos verbais e não-verbais, as referências a uma espécie de escrita automática e as digressões que fazem com que o leitor imagine um narrador com a cabeça a mil, como sugere o trecho a seguir: “Jag, jag, jii, loooco, rorrocola, baby, baby, Love me tender, talk, tag, tak, buzina, buzina, meu amor, eu te amo, eu sou um negro gato (….) bum, bum, I wanna hold your hand, Beatles, porra, esqueci de falar com Átila sobre as ciganas”. É de se especular o impacto de um romance desse tipo teria caso fosse publicado hoje no Brasil. Talvez, com efeito, a comoção fosse menor, uma vez que a influência do audiovisual diluiu o impacto das narrativas literárias junto ao grande público. Por outro lado, é correto afirmar que a inovação de Zero possui ressonância permanente, como fica provado nesse relançamento. E, em certa medida, a estética do absurdo gerado pela força narrativa do autor foi continuada em outras obras de Loyola Brandão.
Crítica social
Um lugar-comum de certa intelligentsia é a idéia fixa de que os artistas necessitam se engajar em determinada causa: seja contra o shopping center, seja contra o aquecimento global, é fundamental que os autores, porque formam opinião, tenham algo contra o que lutar. Nesse sentido, nota-se a quantidade de cronistas de jornal que se aventuram por temas distantes de sua área de atuação. E assim, por exemplo, lemos o articulista local desejar formar opinião sobre a política dos Estados Unidos no Oriente Médio sem qualquer vivência ou leitura a esse respeito. Do mesmo modo, músicos-escritores arriscam tratar da inserção internacional do Brasil no mundo. O problema não é emitir opinião ou juízo, mas, sim, conceder a essas pensatas um status de posição definitiva, como se essa crítica política ou social fosse a última palavra. Dito de outra forma, é como se esse argumento de autoridade tivesse mesmo substância, o que muitas vezes não é o caso. Em verdade, esse engajamento pueril tão somente faz com que a idéia de opinião pública seja vilipendiada, posto que é tomada como argumento sério quando, de fato, é tão raso quanto um pires sem leite derramado. De sua parte, Ignácio de Loyola Brandão pode não ser um poeta da música popular, mas, quando se trata de crítica social, a proposta do autor é muito mais sofisticada, sem precisar de alguma chancela teórica para isso.
Em O anônimo célebre, por exemplo, lê-se um retrato risível e satírico desses tempos interessantes em que vivemos. Quando o livro foi originalmente publicado, em 2002, os reality shows eram uma realidade, com o perdão do trocadilho, recente. Ou seja, a televisão ainda testava formatos e ninguém imaginava que esse espetáculo da vida como performance fosse perdurar por tanto tempo. Ainda assim, Loyola Brandão escreveu um romance que satiriza essa ânsia voraz pelo sucesso a qualquer custo. O alpinista social, que outrora desejava mudar de vida a qualquer custo, agora, tinha como principal objetivo aparecer a qualquer custo. É o triunfo da boutade, já reificada naquele momento, dos 15 minutos de fama. A propósito disso, o fragmento que se lê na abertura do livro é lapidar: “A última chance que tenho na vida é a de me transformar em mito. Sem isso, vou sofrer a permanente angústia dos anônimos”, escreve Loyola.
Do jeito que está sugerido no parágrafo anterior, parece que Loyola tece uma abordagem amarga da questão, com direito a laivos de arrogância e didatismo. Ledo engano. Em O anônimo célebre, o escritor prefere uma narrativa na linha fina entre a ironia e a sátira, com espaço — é evidente para o leitor que já chegou até essa altura do texto — à imaginação e à epifania. Um riso fácil, sem apelar ao pastelão. Nesse sentido, existem trechos em que o autor ecoa Machado de Assis em sua Teoria do medalhão: “Uma pessoa realmente famosa tem de tomar cuidado para não se misturar, não se confundir. Deve aceitar os bobos da corte, mas se puder evitar a convivência, melhor. Eles dirão que são seus amigos”. De forma semelhante, há momentos mesmo em que o texto assume um tom de auto-ajuda cínica:
A música. O CD mais ouvido. O CD pouco ouvido que só eu tenho. Descolar um completamente desconhecido, iraniano, ou de um cantor regional da Nova Inglaterra. Um irlandês ou norueguês. Na Noruega não existe somente bacalhau, estão fazendo também ótimo cinema. Comprar — por sinal — o livro “Os Cem Melhores Filmes de Todos os Tempos”. A palavra descolar é gíria atualizada.
A diferença desse tipo de crítica social para aquela praticada pelos revoltados a favor da intelligentsia dos salões midiáticos é que, de forma cáustica, Loyola demole em seu livro esse grupo, demonstrando sua cultura de almanaque, seus laivos de arrogância, sua pretensão megalômana, seu desejo voraz pela adoração. Tal como escreveu George Orwell, esse grupo midiático quer ser adorado e amado, não apenas obedecido e seguido na audiência. Ao indicar, numa espécie de cartilha irônica, os caminhos para esse zênite, Ignácio de Loyola Brandão desnuda a aparente profundidade de quem se imagina um compositor de sonatas, mas que não passa de um autor de polcas.

Imaginação
Em O homem que odiava a segunda-feira, o escritor investe, mais uma vez, nesse comentário aleatório do cotidiano, à maneira de um cronista sem assunto, só que a escritura do autor promove esses comentários. Então, em vez das crônicas, temos contos, no melhor estilo das short stories da literatura. Tudo isso porque Loyola parte de um tema simplório, o impasse gerado pela segunda-feira, para criar narrativas breves que não apenas se encadeiam, mas que possuem algo em comum, que é o apelo ao fantástico. Tanto esse encadeamento quanto o elemento em comum torna a leitura dos textos um prazer desmedido, de modo que o leitor sequer percebe que os contos travam um diálogo eminente com a chamada literatura fantástica. Essa possibilidade já está presente na capa do livro, que traz uma reprodução de um dos quadros do pintor surrealista belga Renée Magritte. Coincidência ou não, ali já se vê a mão, solta dos braços, numa espécie de caixote. O segundo conto do livro tem como título A mão perdida na caixa do correio, história em que o protagonista, numa segunda-feira, decide colocar uma carta no correio, mas que, ao chegar lá, tem sua mão desprendida do seu corpo. Todo o texto é a luta desse homem para reaver sua mão. O absurdo da situação não termina aí. Sua busca chega até a loja central dos Correios, onde o desfecho se dará, de uma só vez, de maneira inesperada e trágica.
Nesse conto, os elementos do fantástico estão disponíveis em diversos fragmentos. De forma bastante articulada, o autor cria passagens em que os personagens são levados a situações extremas, na linha tênue entre o verossímil e o absurdo, como sugere o trecho a seguir:
O homem-sem-cabeça teria outro tipo de problema. Não enxergaria. Teria de admitir um ajudante, um cachorro-guia ou aprenderia a se orientar com a bengala branca dos cegos. Para isso, precisaria fazer curso especializado, treinar muito. Também não pensaria. Muita gente não usa a cabeça para pensar, mas é outra questão. Pensar é bom. Ele gostava. Passava horas abstraído. Pensava tanto que a cabeça doía. (…) De que adianta viver sem pensamento? Sem raciocínio?
Assim como nesse fragmento, ao longo de todo o conto o personagem desfila hipóteses inviáveis de maneira efetivamente verossímil.
Estratégia semelhante a do conto acima é apresentada na primeira narrativa do livro, O mistério da formiga matutina. Aqui, o protagonista passa de fato a considerar viável o diálogo com os insetos. Certamente, não é a primeira vez na literatura que um escritor estabelece essa relação de sentido. Todavia, o que torna o conto interessante a ponto de ser analisado é o tipo de diálogo que acontece entre os dois. De maneira ímpar, o narrador reproduz a conversa do homem com a formiga levando em consideração a suposta anuência e negativas do inseto em direção às perguntas feitas pelo protagonista. O resultado, para além de hilário, é curioso porque mostra o quanto o entendimento do mundo ao derredor depende de certa predisposição a ouvir o que o outro quer dizer. Isto é, às vezes, mesmo quando o outro não diz nada, conclui-se, a partir de certa expectativa, que ele tenha dito tudo. Além disso, o texto do conto é rico em digressões dignas de uma narrativa existencial:
Naquela segunda-feira, como fazia todas as manhãs, a formiga esperava, perto da jarra. Devia gostar de suco de laranja. Parecia abatida. Foi então que ocorreu a ele que bichinhos assim — formiga é bicho? Inseto? Mamífero? Invertebrado? Molusco? — têm vida curta. Quanto tempo restaria a ela? Se pudesse dizer quanto já viveu.
Já no conto que dá título ao livro, O homem que odiava a segunda-feira, é a hora e vez de um personagem obcecado com uma idéia fixa, a de acabar com a segunda-feira. Isso porque, conforme a percepção do protagonista, “as segundas-feiras existiam a atemorizá-lo, deixando-o tenso, com suores e calafrios, dores nos músculos, visão embaçada e uma nevralgia que paralisava o lado direito do rosto”. Para tanto, tal como um Quixote contemporâneo, o personagem decidiu arregaçar as mangas e extirpar a segunda-feira do calendário. Novamente, o conto se baseia em um tema banal, a ponto de muitas vezes ser vocalizado pelo senso comum nas conversas despretensiosas. O destaque da narrativa de Loyola reside, de um lado, na suposta seriedade com que o protagonista investe na causa, mobilizando pessoas, conclamando a participação popular e, mesmo que sub-repticiamente, apontando a frivolidade da banalidade da discussão pública. Por outro lado, é notável o modo como o autor compõe esse texto, articulando-o às outras histórias do livro, num verdadeiro crossover no tocante aos demais contos. Em outras palavras, o conto chama a atenção por sua banalidade, por seu aspecto ligeiro, mas se impõe, como peça literária, exatamente porque o autor amarra as narrativas em um engenho literário bastante criterioso.
Se no livro Não verás país nenhum, Ignácio de Loyola Brandão aponta o caminho para um futuro sombrio, numa distopia que, como se viu nessa década de mudanças climáticas, pode efetivamente ser tenebroso, é certo afirmar que sua literatura não passa pelo engajamento politicamente correto. Aqui, talvez, está a grande virtude desse romance publicado originalmente em 1981. Muito antes da chamada opinião pública tratar das questões climáticas em filmes, documentários, ensaios, reportagens e até na ficção, Loyola faz uma crítica a esse progresso com fim em si mesmo, resultando numa cidade de valores direcionados apenas ao bem-estar do indivíduo a qualquer custo. Assim, se for necessário que o centro da cidade, em outro tempo tradicional, esteja conforme a nova ordem institucional, que não haja empecilhos para tanto:
A comissão conseguiu preservar a região exatamente como ela foi entre as décadas de quarenta e setenta. Conjunto de ruas, praças e prédios em decadência, último produto da centralização excessiva, que se esboroou a seguir, quando implantou a Divisão em Bairros a Partir de Classes, Categorias Sociais, Profissões e Hierarquias no Esquema.
Diante dessa passagem acima, impossível não pensar no avanço da separação que acontece em grandes cidades, como São Paulo. A crítica aqui vai além da percepção de que os shoppings representam o mal da vida moderna. A leitura possível atenta para a crise permanente no entendimento do real significado da vida em sociedade. E tudo isso está presente em texto de ficção que apareceu muito antes de a idéia de condomínio fechado alcançar o status de solução final para a vida nas grandes metrópoles. Como escreve o jornalista Washington Novaes na apresentação do romance, “neste livro, daquele ano, volta e meia o leitor tem de dizer a si mesmo ‘é ficção’, para não ser engolido e sufocado pelas realidades de hoje e pelas alegorias que povoam as páginas”.
Borges, ainda
Em 2005, Ignácio de Loyola Brandão publicou A última viagem de Borges, espécie de elegia à trajetória desse escritor argentino que ficou imortalizado pela devoção à leitura. Seria possível comentar e analisar a obra sob diversas perspectivas, sobretudo porque se trata de um texto para teatro. No entanto, chama a atenção o fato de que se trata de autor que exacerba esse apelo ao fantástico em outra dimensão, algo que Loyola Brandão também faz em seus contos, romances e crônicas. Nesse aspecto, nada mais natural do que o fato de o texto se esmerar em reproduzir, nos diálogos, toda uma conversa com a ficção de Borges, do bibliotecário imperfeito até Gulliver, passando por Sherazade e Richard Burton. Os viajantes não são apenas aqueles que se deslocam fisicamente, mas, em especial, os que conseguem extravasar sua realidade a partir da mágica do texto, que é, nesse caso, a mágica do absurdo.
É comum nas narrativas contemporâneas esse apelo fundamental à intertextualidade, essa citação corrente de textos e personagens que se atravessam. Atualmente, quem faz uso de tal recurso logo é tido como autor intelectualizado, tendo tido experiência com as vanguardas teóricas do estruturalismo, para citar um exemplo. Na contramão da teoria, mas na precisão do uso, estão Loyola Brandão e Borges. Isso porque o romancista brasileiro, autor de teatro nesse livro, discorre com fluência pelas passagens da vida de Jorge Luis Borges, sem, no entanto, escorregar para o falso debate teórico, algo muito comum em alguns círculos de iniciados. Nesse ponto, depreende-se a intenção de Loyola: fazer de Borges um personagem no meio do labirinto de sua própria literatura. Essa proposta certamente atrairia o escritor argentino, porque a metáfora do labirinto foi utilizada em seus textos, assim como pelo fato de o autor de O aleph, que foi bibliotecário, ter se considerado muito mais um leitor do que um escritor.
Desse modo, em resposta às questões que abrem esse ensaio, talvez seja pertinente afirmar que não são os prêmios ou a glória efêmera que fazem um escritor, um gênio da raça ou um talento incontestável. Mais importante do que isso, como atesta a obra de Ignácio de Loyola Brandão, a literatura é efetivamente importante porque proporciona um prazer que talvez só possa ser identificado na estética do absurdo, numa espécie de sentido da vida às avessas.