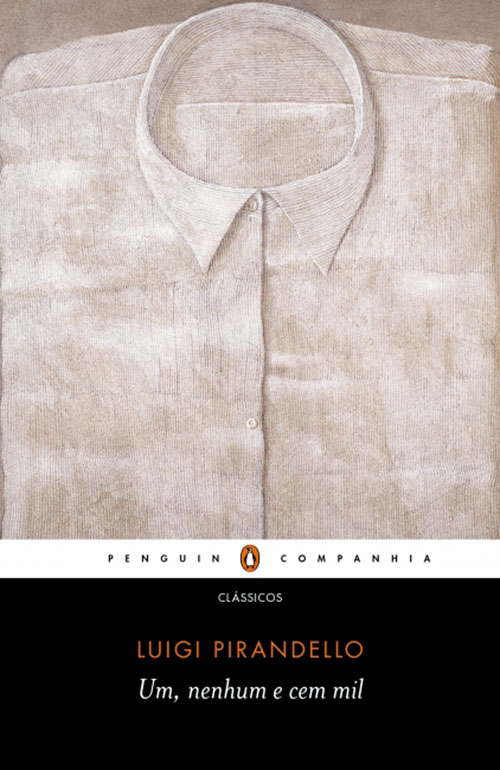Lê-se com grande interesse, que não esmorece, antes se acentua no decorrer das páginas, Um, nenhum e cem mil, derradeiro romance do italiano Luigi Pirandello, que a Penguin traz à lume em seu já tradicional formato editorial, na tradução de Maurício Santana Dias, e enriquecido com textos de Alfredo Bosi e Sérgio Buarque de Holanda. Explica-se esse interesse: não é difícil se enlear na prosa e, principalmente, nas ideias deste que admitira certa vez ter a infelicidade de ser um “escritor-filósofo”. O material de que trata esse artista é tão essencialmente cosmopolita que se pode afirmar, sem receio de errar, que qualquer leitor, de qualquer tempo e lugar, poderá facilmente não apenas compreender suas ideias, mas por meio delas descobrir uma nova dimensão de existir, o que não implica necessariamente num endosso sem reservas a elas.
A premissa da obra é relativamente simples, mesmo banal: Vitangelo Moscarda, um ocioso filho de um já falecido banqueiro renomado, certa feita é surpreendido pela observação de sua esposa a respeito de seu nariz que “cai para a direita”; observação aleatória feita quando Moscarda está a se olhar no espelho. O fato de nunca haver reparado nisso leva Moscarda a um insight a respeito da percepção que todo ser humano tem sobre si em contraponto à construção social da personalidade que este tem para os outros a seu redor.
O episódio acima descrito pode soar ao leitor mais experiente como um típico tema da literatura intimista, e embora estejamos de fato numa ficção que se centra mais em Moscarda e suas considerações interiores, o leitor aqui não estará distante da prosa de uma Clarice Lispector ou uma Virginia Woolf. Isso porque a prosa de Pirandello parece se situar em algum lugar entre o universo interior e o cômico absurdo da existência.
A premissa inicial acima descrita e as implicações na existência de Moscarda já contêm algo desse bom humor pirandelliano, um elemento que se encontra preservado na obra desse que asseverava com toda seriedade ser “um escritor de tragédias, não de farsas”. De fato, um bom humor que se mantém não obstante as desditas do autor, que a certa altura lidou com a insanidade da esposa e seu ciúme tresloucado de sua relação com a própria filha. Talvez venha desses e de outros elementos da vida do autor de Seis personagens à procura de um autor o gosto em tratar do tema do absurdo da existência e da loucura humana.
Máscaras
São dois elementos encontráveis no romance em questão, embora sob uma certa perspectiva que não é nem pode ser taxativa ou categórica: a percepção de Moscarda de que sua figura representa para cada pessoa que o conhece uma persona diferente, em tudo distinta de seu eu interior, e a decisão quase natural de enfrentar tais noções paralelas de si que os outros têm não podem ser consideradas como loucura de sua parte (embora o próprio personagem flerte mais de uma vez com a ideia); nem a reação das demais pessoas frente às consequências de tais ações pode de algum modo se configurar como a insurgência do absurdo da existência normatizado nas relações sociais, de tal forma que se desvanece ante os olhos da sociedade. A verdade é que alguma ordem que estruture a existência em comunidade deve imperar, como forma de coordenar as relações humanas, evitando que tudo desague num caos. Talvez a noção de leis que legalizem certas ações, e cerceiem outras (e por leis entenda-se tanto as que advêm de um dos poderes do Estado quanto as leis invisíveis que determinam o que é de bom-tom e o que não é), talvez tais leis sejam as geradoras de “máscaras” que se impõem às faces dos seres, ao Eu profundo. Sob pena de matar esse Eu, ou ao menos escondê-lo dos outros (e principalmente de si próprio), o ser humano enverga uma máscara para assim ser aceito pelos demais. A sociedade é não mais do que um grande desfile de máscaras.
A tragédia farsesca de Pirandello está justamente na tomada de consciência do ser quanto a esse fenômeno. Lembrem-se estes versos de Tabacaria, do Álvaro de Campos, uma “máscara” de Fernando Pessoa:
Conheceram-me logo por quem não era e não desmenti, e perdi-me.
Quando quis tirar a máscara,}
Estava pegada à cara.
Retornando ao romance pirandelliano, o trágico, que anda de mãos dadas ao cômico, está justamente no fato de Moscarda se obstinar em “destruir” todos os seus Eus fabricados pelos demais, empresa virtualmente impossível sem que se tenha a sanidade questionada:
Mas eu não entendia — desgraçado! — que a consequência de um ato como esse não podia ser aquilo que eu supunha. Na minha cabeça, depois desse ato eu me apresentaria a todos e então lhes perguntaria:
— Viram agora, senhores, que não é verdade que eu seja aquele usurário que vocês queriam ver em mim?
E, no entanto, aconteceu que todos exclamaram, espantados:
— Oh, sabem da última? O usurário Moscarda enlouqueceu?
Assim, não é possível para Moscarda obliterar “o tolo Gengê” de sua esposa, ou “o ocioso herdeiro do falecido sócio” de Quantorzo e Firbo (as duas maiores eminências do banco), ou “o usurário infame” do povo que reside em Richieri; não é possível fazer tudo isso sem que se instaure o caos na ordem estabelecida. Mas Moscarda seguirá adiante, o que propiciará a Pirandello uma vez mais exibir a nós, seus leitores, sua arte que coteja, como dito acima, os dois extremos da representação dramática.
Igreja e Justiça
O fim da obra reserva o maior interesse em termos dramáticos, uma vez que grande parte da narrativa foca nas considerações, nas experiências e perplexidades do protagonista. Ao fim veremos que as peripécias promovidas por Moscarda o levam a duas instituições cujas existências não podem ser dissociadas da ideia de verdade (ideia contra a qual o inquieto protagonista vem se debatendo): a Igreja e a Justiça. Com tais instituições ele terá de lidar, por indústria da personagem mais intrigante da obra: Anna Rosa.
As demais personagens não ganham relevo significativo, mas Anna Rosa se destaca nesse particular (embora sua construção pelo autor seja lacunar). Descrita como uma criatura vaidosa, que se regozija em guardar registros fotográficos seus dos mais diversos ângulos, será a ela que o protagonista exporá, por uma série de circunstâncias, sua filosofia, e a reação dela, num misto de fascínio e insanidade, precipitará os acontecimentos vitais ao desfecho da história de Moscarda.
Resta a pergunta: a epifania de Moscarda é uma concepção autêntica da vida?
Uma realidade não foi feita e não é, devemos fazê-la nós mesmos, se quisermos ser; e jamais será una para todos, una para sempre, mas infinita e continuamente mutável. A capacidade de nos iludirmos de que a realidade de hoje é a única verdadeira, se de um lado nos ampara, de outro nos precipita num vazio sem fim, porque a realidade de hoje está fadada a se revelar a ilusão do amanhã.
Ao autor não restam dúvidas de que tais ideias não são “conclusão”, mas sim “uma constatação”. O crítico norte-americano Harold Bloom fala em Pirandello como o “sofista siciliano”, cuja concepção da vida como um teatro em que um único ser desempenha múltiplos papéis nada mais é do que um aprendizado “simplista e reducionista” de Shakespeare. A visão de Bloom pela lente de sua bardolatria estaria correta? Ou de fato somos uma miríade de máscaras como quer Pirandello?
Seja como for, se Um, nenhum e cem mil não viabiliza uma conclusão definitiva sobre tal questão (e nem é sua função, por se tratar de um romance, não de um tratado filosófico), ao menos nos encanta, nos diverte e põe-nos sobretudo a refletir sobre a instabilidade do ser e sobre a demarcação existente (ou não) de sua fronteira com o não ser. Estamos sem dúvida diante de um autor capital nestes “tempos líquidos” de que nos fala Bauman; autor que é pedra de toque à literatura moderna (embora não ombreie com Proust, Joyce e Kafka, como avalia um tanto exageradamente Bosi no posfácio incluso nesse volume).
Seja como for, um perene mestre da arte da prosa.