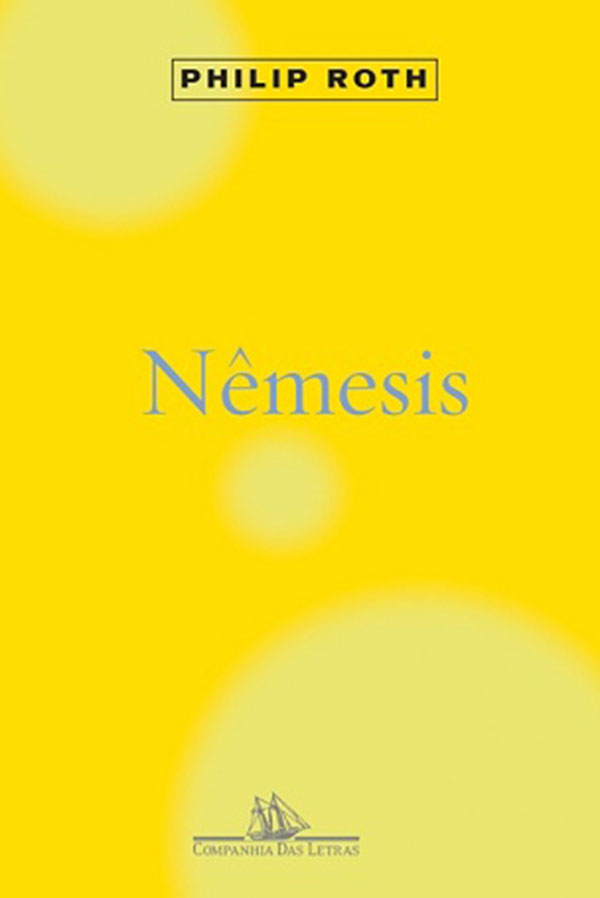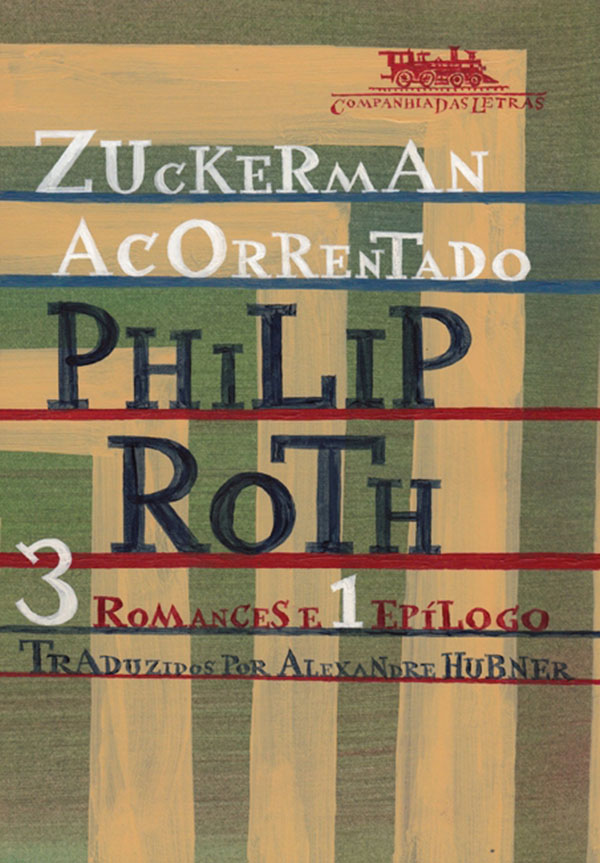Leio Philip Roth desde os anos 1990. À medida que um romance dele era (re)lançado, eu saía à caça dos mais antigos, tanto os inéditos em português quanto os fora de catálogo. Porém, além da obra em si, nada mais a respeito dele me interessava. Nunca me ocupei em tentar saber se era casado, solteiro ou assexuado; se ganhou ou perdeu este ou aquele prêmio literário; se tem sido lembrado ou preterido; se é recluso ou exibicionista; se tende para a direita ou para a esquerda ou se manca; se está mais para afável que para intragável, se é vegetariano ou se alimenta apenas de si mesmo; tampouco importava se ele via o mundo por lentes misantrópicas, contra-religiosas ou ateístas, etc.
Não me preocupava com essas coisas porque nunca pensei em escrever sobre ele ou nunca escrevi sobre ele porque seria impossível fazê-lo sem ponderar o biográfico de sua (auto)biografia? O que sei é que hesitei em propor este texto ao Rascunho. Temia a inevitável imposição de ter de racionalizar o prazer (inadvertido) com que eu interagia com os livros do Roth. Além do quê, os aspectos abordáveis da obra dele, do ponto de vista ensaístico, são tão numerosos que a escolha de apenas um me parecia ridiculamente reducionista. Poderia abordar, por exemplo, a influência dos eventos históricos na vida de seus personagens “comuns”, a relação de Roth com o judaísmo, a recente safra de romances sobre envelhecimento e finitude, entre outras dezenas de leituras possíveis.
Roth sempre foi controverso (minha “alienação” começa agora a ceder espaço ao entendimento, com tudo o que isto implica): seu primeiro livro, Adeus, Columbus (1959), foi recebido com fúria por rabinos, que o acusaram de ser um judeu odioso. O complexo de Portnoy (1969) escandalizou as comunidades puritanas (as religiosas e as literárias) dos Estados Unidos, mas foi o número um da lista de mais vendidos daquele ano. Na verdade, esses dois livros acabaram definindo os rumos de como Roth seria visto nas décadas seguintes — ou mesmo de como ele próprio escreveria sobre si mesmo na pele de Nathan Zuckerman, seu alter ego.
Nos anos 1970, Roth era uma celebridade literária sob ferozes ataques. The breast (1972) foi rotulado de “simplesmente pornográfico”. Grudaram a etiqueta “vulgar” em The great american novel (1973) e Lição de anatomia (1983). My life as a man (1974) e Animal agonizante (2001) seriam “misóginos”. O avesso da vida (1986) e Deception (1990) são “auto-referentes” (no mau sentido). Casei com um comunista (1998) é o “politicamente inexato”. O teatro de Sabbath (1995) e A marca humana (2001), os “politicamente incorretos” (no mau sentido, sempre). E, claro, Adeus, Columbus e O complexo de Portnoy até hoje estão entre as narrativas mais “anti-semitas” (sic) deste autor judeu.
Por outro lado, é difícil encontrar outro escritor americano, com exceção talvez de Henry James, com uma produção tão vasta e bem-sucedida quanto a de Roth. De 1959 até hoje, Roth produziu um livro a cada ano e meio, em média, e cada um deles possui alguma qualidade louvável. O avesso da vida (1986), Patrimônio (1991), Operação Shylock (1993), O teatro de Sabbath (1995), Pastoral americana (1998), Casei com um comunista (1998), A marca humana (2001), Animal agonizante (2001) e Complô contra a América (2004) formam um conjunto invejável de romances.
Em 1986, ao lançar O avesso da vida, seu romance mais complexo, Roth já havia cumprido bem mais do que prometera ao público e aos críticos nos anos 1950. Mas seu futuro não parecia claro. Agora, com o lançamento em português de Nêmesis, o mais recente, e a publicação pela Companhia das Letras do volume Zuckerman acorrentado, demarcam as distinções entre o ímpeto e a sobriedade na carreira deste eficiente escritor nascido em 1934 em Newark, cidade de Nova Jersey bem próxima a Manhattan.
A seqüência
A construção de narrativas seqüenciais (interconectadas) é uma opção geralmente mercadológica. No entanto, certas ações que costumam ser positivas para os negócios não o são no campo da arte. O mais comum é vermos a qualidade cair a cada nova seqüência. A queda ocorre com freqüência em livros e filmes seguidos de algarismos romanos a partir do “II” ou acoplados a subtítulos como “o retorno” ou “a ressurreição”. Não é o caso de Philip Roth, que ao longo de 28 anos (e em quase três mil páginas) produziu uma das séries mais ambiciosas da ficção realista: os romances protagonizados e/ou narrados por Nathan Zuckerman, seu alter ego.
Dos 31 livros de Roth, nove são narrados por Zuckerman. Os quatro primeiros acabam de ser lançados pela Companhia das Letras em um só volume: Zuckerman acorrentado, composto por “uma trilogia e um epílogo”. Pela ordem: O escritor fantasma, Zuckerman libertado, Lição de anatomia e A orgia de Praga. Além destes, Zuckerman tem presença importante nos seguintes livros de Roth: O avesso da vida; na chamada trilogia histórica (Pastoral americana, Casei com um comunista e A marca humana); e em O fantasma sai de cena (2007). Há ainda a troca de cartas entre Roth e Zuckerman no autobiográfico The facts: a novelist’s autobiography (1988).
Uma produção em escala proustiana, pois. De qualquer forma, nem Roth nem Zuckerman são “pessoas” universalmente queridas. Muitos leitores criticam ambos: pela estreiteza, pela misantropia, pelo niilismo. Talvez porque ambos transportem e exponham as dores e as delícias próprias do irrepetível. A jornada zuckermaniana (ou seria zuckermaníaca?) cobre eventos que vão de 1956 à chamada Era Bush e está repleta de flashbacks da infância de Roth em Newark. A inteligência, o humor e a ironia espetaculares de Roth por si só já me captaria a atenção para a série, mas há algo ainda mais encantatório: os temas.
Os temas das narrativas envolvendo Zuckerman são irresistíveis para mim: a ambivalência familiar, as dificuldades com as mulheres, o desafio às tradições, o afã contracultural, os limites e as possibilidades da ficção autobiográfica, etc. A importância desse volume que a Companhia das Letras acaba de lançar é de natureza recursiva, conduzindo-nos, em retrospecto, às origens de cada componente relevante da psique de Nathan Zuckerman.
Este ensaio, então, tende a ser (pelo menos tomei uma decisão) sobre as facetas que constituem Nathan Zuckerman, começando por sua juventude, quando ele era apenas uma promessa como autor (O escritor fantasma); passando pelo seu sucesso com a publicação de ficções atrevidas que o transformam em uma celebridade desconfortada (Zuckerman libertado) e o obrigam a refletir sobre as perdas e ganhos de uma vida que imita a arte e vice-versa (Lição de anatomia e A orgia de Praga); a tentativa de compreender as motivações de seu único irmão, o caçula Henry, após a morte dos pais (O avesso da vida); o auto-exame de sua própria condição por meio da história de personagens que pareciam remotos; o câncer de próstata, o isolamento nas montanhas e a reaparição do “fantasma” em O fantasma sai de cena.
As relações difíceis
Em O escritor fantasma, que abre o volume, o aspirante a autor Nathan visita seu paternal mentor, o contista E. I. Lonoff, e por acaso descobre que Lonoff trai a esposa Hope com a jovem Amy Bellette. Zuckerman, em primeira pessoa, narra:
Meu aturdimento com o que acabara de ouvir, minha vergonha pela indesculpável quebra de confiança que cometera, meu alívio por não ter sido apanhado em flagrante — tudo isso terminou se revelando insignificante perto da frustração que logo comecei a sentir ao me dar conta de como a minha imaginação era rasa e do que isso prometia para o futuro. (…) Ah, como eu gostaria de ter sido capaz de imaginar a cena que acabara de ouvir às escondidas.
Anos mais tarde, a explicação de Zuckerman à mãe sobre seu terceiro divórcio me remeteu a essa experiência anterior dele quando jovem: “Eu simplesmente não tenho aptidão para a fidelidade, mãe”. E imediatamente me lembrei de como ele, aos 23 anos e ainda solteiro, traía a então namorada Betsy. (Na cena, ele tenta despir sua futura segunda “amante”, enquanto ela, “sem resistir energeticamente à investida dele”, falava sobre o quão dissimulado ele era por estar fazendo “aquilo” com a pobre Betsy.) Agora está claro que todo o movimento inicial de Zuckerman foi em direção à auto-referência, a fim de se libertar de tradições, idealizações e ilusões.
Roth nega que a criação do personagem E. I. Lonoff tenha sido baseada na admiração real de Roth pelo escritor Bernard Malamud (1914-1986). O fato é que as figuras paternas se misturam como nunca nas quatro narrativas de Zuckerman acorrentado. Zuckerman vai ao encontro delas às vezes em busca de aprovação, noutras para travar batalhas contra conservadorismos ocultos. O embate com o critico literário Milton Appel em Lição de anatomia é um exemplo disso. Appel primeiro elogiou a coletânea de contos de estréia de Zuckerman para, anos mais tarde, com ensaios ácidos, desancá-lo.
Quando jovem, Zuckerman idolatrava Appel, “o professor universitário de Introdução à Literatura I” (sic), que, já maduro, sofre de “uma dor não diagnosticável”. A pendência entre os dois atinge grau máximo quando Appel, não por acaso, pede a Zuckerman que escreva para o New York Times um artigo lobístico em defesa de Israel durante a “Guerra de 1973” contra o Egito e a Síria. Irado, Zuckerman telefona a Appel e, depois de algumas dissimulações (recíprocas), arrasa o sujeito:
Milton Appel, o Charles Atlas da bondade! Ah, os confortos proporcionados por esse papel tão difícil! E como o senhor é bom nisso! Tem até uma máscara de modéstia para deixar bananas como eu sem ação. Eu estou na “moda”, o senhor é eterno. Eu não faço nada que preste. O senhor pensa. As porcarias dos meus livros são moldados em concreto, o senhor faz reavaliações conscienciosas. Eu sou um “caso”, tenho uma “carreira”, o senhor obviamente tem uma missão — Presidente da Sociedade Rabínica Pela Supressão da Risada no Interesse dos Valores Elevados! Ministro do Estilo Oficial para Qualquer Livro Judaico que não seja o Manual da Circuncisão. Diretiva número um: Não fale da sua pica. Imbecil!
Os atavismos
A honestidade indecorosa e a inventividade cruel de Zuckerman quando jovem — ele é primoroso na contrariedade aos valores judaicos e na trama de personagens excessivamente baseados em pessoas familiares (Woody Allen certamente tirou daí alguma inspiração para o filme Desconstruindo Harry) — aos poucos o afastam do resto do mundo. O único irmão, Henry, caçula, acusa-o de ter assassinado o pai (“Você o matou, Nathan”) com a publicação de “Carnovsky”, romance evidentemente alusivo ao controverso e pré-existente O complexo de Portnoy (1969), monólogo tão desbocado quanto detalhado sobre as atividades masturbatórias de um jovem judeu que se autodenomina sexualmente reprimido e obcecado pela mãe.
Você e o seu sentimento de superioridade! Você e as suas traquinagens! Você e o seu livro “libertador”. Acha mesmo que a consciência é uma invenção judaica a que você está imune? Acha mesmo que pode cair na gandaia e fazer as maiores surubas sem pôr a mão na consciência? Sem ligar para nada, só se preocupando em descobrir como ser engraçado a respeito das pessoas que mais o amaram no mundo? A origem do universo! Quando tudo o que ele queria ouvir era: “Eu te amo!”. “Papai, eu te amo!” — bastava isso! Ah, seu puto, não venha me falar sobre pais e filhos! Eu tenho um filho! Eu sei o que é amar um filho, e você não sabe, seu egoísta sacana, e nunca vai saber!
O sacana e Henry só vão se encontrar de novo em O avesso da vida, o livro mais rico e complexo da seqüência zuckermaniana. Neste, Roth imagina situações de vida e morte para os irmãos agora órfãos Nathan e Henry (e ambos morrem — ou sobrevivem — simbolicamente no livro). Há muitas outras conexões entre O avesso da vida e Zuckerman acorrentado. Henry foge de sua vida como dentista em Nova Jersey para se tornar um sionista armado em Israel. Disposto a descobrir as motivações que levaram o irmão a uma mudança tão radical de vida, Zuckerman localiza Henry em Hebron e reflete:
…quando é que ele tinha tido um momento de séria consideração para com as expectativas daqueles a quem ele agora se referia com desdém como “góis”? Se cada um dos projetos de importância de sua antiga vida tinha sido executado para provar a si mesmo diante de alguém insuportavelmente forte ou sutilmente ameaçador, este não me parecia em absoluto ter sido o onipotente gói. Aquilo que ele qualificava de revolta contra as grotescas contorções do espírito sofridas pelo galut, ou judeu exilado, não seria, mais provavelmente, uma rebelião extremamente tardia contra a idéia de masculinidade imposta a uma criança obediente e submissa por um pai dogmático e superconvencional? Se fosse esse o caso, então para derrubar todas aquelas antigas expectativas paternas ele se tinha deixado escravizar por uma poderosa autoridade judaica muito mais rigidamente subjugante do que até mesmo o onipresente Victor Zuckerman poderia jamais ter a coragem de ser.
De si para si
Eu me daria por satisfeito se a jornada de Zuckerman terminasse em O avesso da vida (1986). Mas não era o fim, felizmente. Entre 1997 e 2000, Roth publicou mais três romances —Pastoral americana, Casei com um comunista e A marca humana — envolvendo Zuckerman, três abordagens muito diferentes daqueles cinco até então lançados, nos quais Zuckerman era protagonista e/ou narrador-protagonista. Alguns críticos batizaram essa trilogia de Zuckerman histórico, talvez porque, finalmente, Roth tenha permitido que seu “segundo eu” saísse de dentro de si mesmo para ocupar-se das experiências alheias.
Foi por meio dessa trilogia que conheci Zuckerman, na verdade, e por isso levei um tempo para entrar no jogo da seqüência completa. Por outro lado, o desconhecimento do conjunto me poupou da provável surpresa pela mudança de enfoque. O narrador da trilogia seguia no centro do seu mundo, mas de uma maneira diferente. Zuckerman agora se engaja em um processo contínuo de espelhamento das experiências e idéias de outros sujeitos, a fim de identificar semelhanças e instigar o auto-exame.
Esses outros sujeitos são, pela ordem, os seguintes: o Sueco Levov, ex-colega de Zuckerman no colegial (Pastoral americana); o ator de rádio Ira Ringold, referência de Zuckerman na infância (Casei com um comunista); e o seu vizinho nos montes Berkshire, Coleman Silk, decano da Universidade Ahtena (A marca humana). Os contextos históricos são, respectivamente, o radicalismo dos anos 1960, a caça aos comunistas nos anos 1950 e a onda politicamente correta que varreu os Estados Unidos na década de 1990, em grande parte impulsionada pelo escândalo envolvendo o ex-presidente Bill Clinton e a estagiária Monica Lewinsky.
(E pensar que essa trilogia estupenda saiu em seguida a O teatro de Sabbath, a obra-prima de Roth, vencedora do Pulitzer. Incrível.) Em Pastoral americana, Roth me revela en passant que seu alter ego realizou uma cirurgia para remoção de um câncer de próstata, e que essa intervenção o deixou impotente e incontinente. Nada mais. Desde então, o personagem se tornara tão circunspecto quanto recluso. Uma passagem de Pastoral insinua esse traço psicológico de Zuckerman até então oculto:
Combatemos nossa superficialidade, nossa falta de profundidade, de modo a tentarmos nos aproximar dos outros livres de expectativas irreais, sem uma sobrecarga de preconceitos, esperanças, arrogância, da forma menos parecida com o avanço de um tanque, sem canhão, sem metralhadoras e sem chapas de aço de quinze centímetros de espessura; a gente se aproxima das pessoas da forma menos ameaçadora, de pés descalços, em vez de vir raspando o capim com as esteiras do trator, recebe o que elas dizem com a mente aberta, como iguais, de homem para homem, como dizíamos antigamente, e mesmo assim a gente sempre acaba entendendo mal as pessoas.
Por outro lado, a dedicação de Zuckerman às vivências de personagens remotos ou pouco conhecidos não excluiu a temática do conflito pessoal-familiar, que, aliás, pontua a trilogia. Coleman Silk, por exemplo, é originalmente negro, mas visualmente dúbio. Ele poderia passar por branco devido à tonalidade de sua pele. E é o que ele faz: para evitar sofrimentos, abandona a família. Literalmente, o decano professor de literatura tranca seu passado em um sótão e consome com as chaves. Nesse sentido, a leitura que Zuckerman faz do episódio em que fica claro que a mãe (negra) de Silk será privada para sempre do convívio com seu filho “branco” é tão auto-reflexiva quanto alusiva à fase de vida do próprio alter ego:
Coleman estava assassinando sua mãe. Assassinar o pai não é necessário. Isso o mundo faz por nós. Há muitas forças tentando pegar o pai. O mundo toma conta dele, como já fizera com o sr. Silk. É a mãe que tem de ser assassinada, e era isso — Coleman percebeu — que ele estava fazendo, ele, o menino que fora amado por aquela mulher do jeito que fora amado. Assassinando a sua mãe em nome de sua inebriante idéia de liberdade! Teria sido muito mais fácil sem ela. Mas é só passando por esse teste que ele poderá tornar-se o homem que optou ser, inexoravelmente separado do que lhe foi imposto quando nasceu, livre para lutar pela conquista da liberdade que todo ser humano deseja. Para conseguir isso na vida, um destino alternativo, conforme as condições que ele determinara, Coleman tinha de fazer o que tinha de ser feito.
A impotência
No nono romance da série — O fantasma sai de cena (2007) — Zuckerman está com 71 anos (idade com a qual morre o protagonista não nominado de Homem comum). Ele passou 11 anos isolado nas montanhas da Nova Inglaterra (Berkshire), sem televisão nem internet e sem qualquer contato físico com mulheres. Lá, não fizera nada além de escrever a Trilogia Histórica e tentar aceitar o envelhecimento inexorável, a impotência e a incontinência. Mas decide sair da toca e voltar a Nova York.
Desatualizado e perdido na cidade que antes conhecia bem, o célebre Zuckerman estabelece três contatos que destroem a solidão que antes o protegia. Conhece primeiro um jovem casal (Richard e Jamie) a quem propõe uma troca temporária de moradias: o casal estava procurava um refúgio rural depois da tragédia do Onze de Setembro, enquanto Zuckerman queria retomar a vida urbana. O acordo fluía a contento, pelo menos até o redespertar do instinto sexual de Zuckerman diante da jovem, dinâmica e politizada Jamie.
O segundo contato é com a personagem de sua juventude, Amy Bellette, musa e amante do primeiro ídolo de Zuckerman, I. E. Lonoff, que fora o centro das atenções em O escritor fantasma. Amy, outrora irresistível, é agora uma velha doente que guarda a memória do grande e austero escritor que indicou a o jovem Nathan o caminho da literatura. O terceiro contato é com um incansável candidato a biógrafo disposto a tudo para desvendar “o verdadeiro Lonoff”.
A impotência é um dos temas centrais de O fantasma sai de cena. Roth já havia tocado nesse assunto no excepcional O teatro de Sabbath (1995), no qual ocorre uma luta severa entre a vitalidade do sexo e a fatalidade do corpo. Agora, em meio ao caráter inexorável da morte, ao declínio das condições físicas e às fantasias quanto à eternidade, um homem auto-renovado anseia novamente pelo magnetismo sexual.
Zuckerman é aqui o porta-voz das ofensas de Roth contra as ideologias meritórias; o incendiário disposto a enfrentar novamente o amor, o luto e a animosidade, experiências que ele evitara nos onze anos anteriores; é o insurgente que, embora impossibilitado, deseja o que há de mais primitivo no impulso humano: o ato sexual. Acredita que a redescoberta do sexo poderia ajudá-lo a restaurar uma vida desregrada e aleatória, rebobinando a fita da vida que parecia chegando ao fim e, ao mesmo tempo, imortalizando seu self, simbolicamente falando.
Com este livro, Roth aprofunda temáticas recorrentes, amarra todas as pontas do Projeto Zuckerman e abre novas perspectivas de leitura para os seus textos dos anos 1970 e 1980, especialmente os que compõem Zuckerman acorrentado. Postas em seus devidos lugares, as frases justas e as imagens estonteantes das primeiras quatro narrativas zuckermanianas dão ao painel inteiro uma verossimilhança e uma coerência impressionantes.
Quando jovem, as ficções de Zuckerman (melhor dizer “de Roth”) primavam pela liberdade escandalosa, pela presunção e pela fantasia em relação ao que a ficção é ou pode ser, forjando artificialismos cuja compreensão me escapava. Agora entendo: aquele era o Zuckerman que Roth queria, nem mais nem menos. Até porque ficcionalizar uma vida não é o mesmo que inventar uma vida. Até porque desejar estender a vida não é o mesmo que desejar o rejuvenescimento do corpo. Até porque a vida (na literatura) é vivida em palavras. Apenas.
Nêmesis e A Peste
Acho dispensável especular se Roth será capaz de produzir novamente no mesmo nível de O teatro de Sabbath e A marca humana. Para um homem de 78 anos, sua obsessiva (ele prefere “maníaca” a “obsessiva”) atividade literária recente é incrível, apesar de os últimos romances formarem uma camada fina (em espessura mesmo) de narrativas sobre tragédias de curto escopo girando em torno de temas como decadência física e perdas. Na visão de Roth, envelhecimento é (só pode ser) perda.
Os desafortunados personagens de Homem comum (2006), Indignação (2008), A humilhação (2009) e agora Nêmesis (2010) são atingidos por aquilo que em última instância consumirá todos nós: a mortalidade. Mas, antes da morte, há o envelhecimento, a doença, a má sorte, as decisões erradas, as culpas, os chamados não atendidos. A palavra nêmesis remete ao oponente invencível, à fonte da ruína, à necessidade de retaliação. Ambientado em Newark durante o inclemente verão de 1944, Nêmesis aborda a epidemia de poliomielite que flagelou o bairro judeu de Weequahic.
Bucky Cantor, respeitado idealista de 23 anos, professor de educação física rejeitado pelas forças armadas por seu déficit de visão, acaba levando para o lado pessoal a terrível epidemia. Fiscal do pátio de recreação e esportes do bairro, Bucky vê um garoto após o outro sucumbir à doença, e nutre um crescente sentimento de injúria contra Deus “por sua cruel perseguição a crianças inocentes”. Roth lida aqui com o calor equatorial opressivo das terras alagadas do poluído estado de Nova Jersey antes da era do ar-condicionado e com a marcha insidiosa do vírus, que fez as pessoas se esquecerem um pouco da guerra que devastava a Europa fazia cinco anos.
Convencido por sua noiva a abandonar a tórrida Newark em troca de um emprego em um parque temático indígena, onde ela trabalha, a consciência de Bucky passa a atormentá-lo irracionalmente. Como se não bastasse o incômodo de ter ficado em seu país enquanto a maioria de seus amigos está lá, na Europa, lutando contra o nazismo, ele ainda por cima se sente um desertor covarde por ter fugido em busca de um porto seguro ao lado da noiva enquanto meninos bons ficam paralíticos ou morrem lá em Weequahic.
Nêmesis é comparável a A peste, de Albert Camus, que se passa na Argélia. Mas o que mais interessa, no caso, é a crucial diferença entre esses dois romances. Em A peste a cidade costeira de Oran é vista como símbolo da condição humana em uma França ocupada pelos alemães. Em Nêmesis, a pólio que arrasa Newark não possui um significado metafórico. A doença é, na verdade, a nêmesis pessoal de Bucky Cantor, a tragédia que o protagonista converte em culpa.
Aspecto interessante deste romance de autoflagelação é a escolha do narrador. A decisão de Roth de revelar a identidade do narrador no final do livro (assim como fez Camus em A peste, ao revelar o Dr. Rieux) é surpreendente. Nas primeiras linhas do romance você tem a seguinte informação: “Ali onde morávamos, numa área do sudoeste chamada Weequahic e ocupada por judeus, nada soubemos sobre isso nem sobre os outros doze casos espalhados por quase toda Newark e mais distantes da nossa vizinhança”.
De imediato, tudo leva a crer que o livro será narrado por um personagem-participante, sobre quem o leitor obteria informações detalhadas mais adiante, ou assim supus. Mas o narrador está na verdade contando a história de Bucky Cantor. Na página 80, a surpresa: “A manhã seguinte foi a pior até então. Mais três meninos diagnosticados com pólio — Leo Feinswog, Paul Lippman e eu, Arnie Mesnikoff”. Até aí, esse tal Mesnikoff havia narrado com distanciamento, impessoalidade e exatidão impecáveis, a ponto de eu me esquecer completamente de que se tratava de uma narrativa em primeira pessoa. Somente na página 166, no capítulo final, a narrativa em primeira pessoa é retomada: “Nunca mais vimos o senhor Cantor no bairro”.
Por outro lado, certos efeitos óbvios, simplificações fáceis e repetições desgastantes não tornariam esta “novela” um texto de segunda categoria dentro do conjunto da obra de Roth? Talvez. Até porque os personagens secundários, como a avó de Bucky, a noiva dele, Márcia, a família dela e alguns meninos marcantes são tão apagados quanto planos (no mau sentido). Há também diálogos literariamente ingênuos. Mesmo a batalha de Bucky contra seu Deus é de uma martirização tão primária quanto improvável, dadas as vagas motivações do sujeito.
Seria este Nêmesis a nêmesis do próprio Roth? Ainda é cedo para tentar responder, até porque Roth é um autor multifacetado, que parece ainda longe de ter dito tudo o que tinha para dizer. (Ah, sim, o Nobel de Literatura. Ele tem o mérito de premiar quem possui uma obra, o que não é pouco em um mundo atulhado de celebridades visíveis que não produzem nada relevante. Mas, como os prêmios literários não possuem critérios apenas literários, abstenho-me de especular sobre os porquês de Philip Roth nunca correr por dentro na disputa pelo Nobel.)