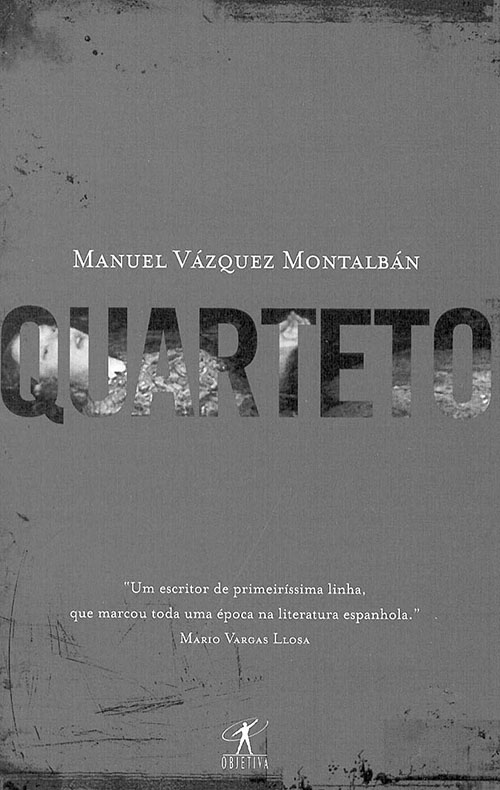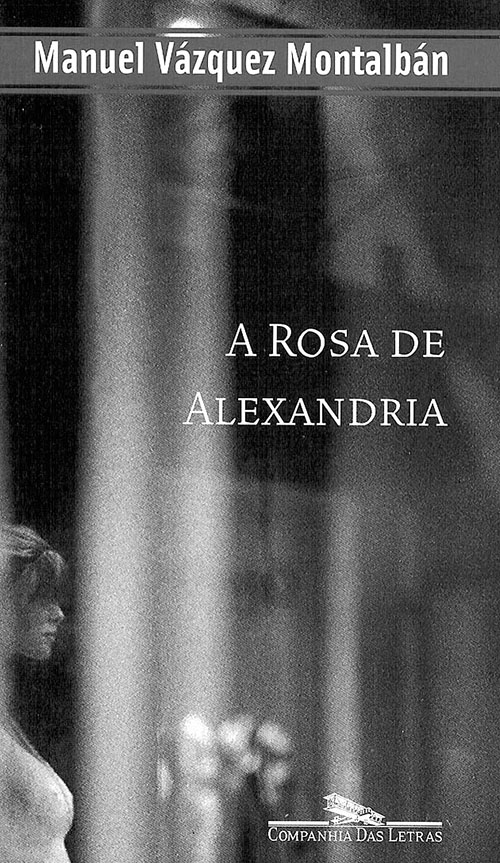Em literatura, assim como nas demais artes, rótulos são sempre perigosos. Salvo por uma facilidade, digamos assim, didática, classificar a produção artística em escolas e períodos já contradiz de certa forma a justa pretensão de todo artista de que sua obra seja única, exclusiva e incomparável. À parte os exageros retóricos, é sem dúvida arriscado segmentar obras por gêneros ou preferências temáticas: daí a hierarquizá-las em função desses valores, que nada têm a ver com estatura ou mesmo originalidade, é um tapa. Muitas vezes os próprios artistas concorrem para que a confusão se perpetue. Depois que o escritor inglês Graham Greene dividiu e enquadrou sua obra em “séria” e “de entretenimento”, o que era para ser talvez uma mera justificativa particular vingou como conceito, estimulou o preconceito, e hoje, sob a denominação francamente diminutiva de “literatura de entretenimento” são classificadas as histórias de terror, a ficção científica e a literatura policial, três tendências que curiosamente também se unem por terem um mesmo e genial precursor na figura de Edgar Allan Poe, por muitos considerado o fundador da literatura norte-americana — e melhor exemplo de quão tolo pode ser o reducionismo. Em outras palavras: não há razão para que entretenimento e seriedade sejam necessariamente excludentes.
Feitas assim as devidas ressalvas, chegamos então ao ponto: vem do lingüista búlgaro Tzvetan Todorov uma comparação das mais sugestivas entre os dois níveis literários propostos por Greene. Todorov, na citação da professora Sandra Reimão, afirmava que, enquanto na literatura em geral o grande escritor é aquele que renova no diálogo com o literário, na de entretenimento em especial grande é aquele que se atém ao gênero e consegue cativar, entreter e até mesmo renovar, sem, contudo, afastar-se dele. Incluída nesse conjunto, a literatura policial talvez seja a mais dependente de um modelo preconcebido para que se a considere bem-sucedida.
Via de regra, todo entrecho policial parte de um mistério quase sempre relacionado a um crime de morte que vai ser esclarecido pelo esforço de um personagem, seja ele o detetive obstinado à caça meticulosa de indícios, do qual o célebre Sherlock Holmes de Conan Doyle é o melhor exemplo, seja um artista da dedução psicológica, como o belga e também detetive Hercule Poirot, ou a velhota bisbilhoteira Miss Marple, os dois últimos criados por Agatha Christie. Ao leitor são entregues no decorrer da história os elementos todos que vão ser usados para desvendar o caso, enquanto se retém até o último instante o principal: a maneira como eles se encaixam para formar um todo coerente. Algo, enfim, como um quebra-cabeça cuja solução esteja sempre ao alcance do leitor, mas que ele dificilmente solucionará por si. Outra característica é o detetive (ou seu equivalente) esconder um ego inflamado sob inocentes idiossincrasias e esquisitices. Um personagem sempre muito bem-construído que não raro vai ser aproveitado em várias histórias.
Seguir a cartilha, entretanto, não significa em absoluto que o autor fique sem espaço para criar ou exibir virtudes literárias transcendentes ao gênero. Desde que Poe publicou Os crimes da rua Morgue — marco da ficção policial — em meados do século 19, exemplos disso têm surgido ao longo do tempo, dentre eles a vistosa obra do catalão Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003). Formado em filosofia, letras e jornalismo, Montalbán é um dos mais importantes nomes da literatura espanhola contemporânea — não apenas no que diz respeito ao gênero policial — e teve dois novos títulos lançados recentemente no Brasil: Quarteto e A rosa de Alexandria. Vistos pelo prisma de Todorov, eles servem tanto para confirmar como para desmentir sua teoria.
Quarteto de cinco
Dos dois, Quarteto é o que mais desafia o modelo clássico a partir de uma peculiaridade que não se referirá aqui para não trair a surpresa ao leitor. Lançado originalmente em 1987, trata-se de uma noveleta habilmente construída em quatro capítulos e protagonizada por um estranho quarteto formado por cinco pessoas: dois casais ricos e fúteis, recém-chegados à idade dos quarenta (a recorrência do número quatro não será obviamente gratuita) e amigos inseparáveis há vinte anos, a quem se uniu há dez, por ocasião de uma viagem ao Egito, o decorador Ventós, uma década mais velho, mais culto, e que trouxe o verniz intelectual que faltava ao grupo. Quando um deles morre em situação misteriosa, a polícia suspeita logo de assassinato. Entra em cena o detetive Dávila, personagem sem muito carisma e que não contribui de forma decisiva à solução do mistério — outra subversão no gênero. À medida que a investigação avança, vão surgindo conflitos e revelações inusitadas. Narrado em primeira pessoa por Ventós, é através de sua percepção que acontece paulatinamente o aprofundamento psicológico dos personagens e das relações que os une, num jogo muito bem conduzido.
Além da densidade incomum em se tratando de um texto tão breve, chama a atenção o refinamento estilístico. Belas metáforas, reflexões inspiradas e, muito especialmente, a delicadeza com que a morte é retratada são exemplos sobejos de que bom gosto e sutileza não são exclusividade de alguns segmentos literários. E muito menos que uma peça no gênero policial não possa ombrear com os primos ricos da literatura considerada “séria”. Poucas linhas são o suficiente para que Montalbán faça uma rápida e instigante descrição dos personagens:
Carlota poderia ser a Ofélia de um sonho de afogada botticelliana com o vestido cheio de flores vivas e ao mesmo tempo apodrecidas, em contraste com a branca serenidade de seu rosto de primavera dourada. Ao seu lado Luis parecia um ibérico bonito, desses morenos angulosos, de olhos pretos e grandes, muito barbado, o cabelo entre encaracolado e desleixado. Mas os dois eram animados pela mesma calma vital, como se seus movimentos fossem em câmara lenta, forçados a isso por uma moviola obstinada. Embora Pepa e Modollel tentassem imitar seus movimentos, sua elegância de heróis cansados, não conseguiam. Modollel tinha músculos por todos os lados e Pepa era um pedaço de carne batizada, uma enseada passiva à espera de todos os desembarques.
Se o minimalismo de Quarteto se destaca num universo onde predomina o relato minucioso, por conta naturalmente do caráter detetivesco das tramas e da intenção de fazer o leitor partícipe do processo, já A rosa de Alexandria está mais próximo do padrão esperado, a começar pelo fato de que o romance, publicado pela primeira vez em 1984, é bem mais substancioso — o que de forma alguma o faz superior a Quarteto, ao contrário.
No início dos anos 80, um corpo de mulher aparece esquartejado num terreno baldio em Barcelona. Descobre-se que a morta é a bela Encarnación, filha de família humilde da Catalunha, casada com um rico e desvirtuoso herdeiro da região. A investigação policial se arrasta lenta e sem progressos, até que Pepe Carvalho, o detetive de plantão de Montalbán, é contratado para solucionar o caso. O ex-marido e o amante dividem a condição de suspeitos, enquanto uma galeria de tipos, entre eles gente muito esquisita — alguns dispostos, é claro, a atrapalhar o trabalho de Pepe — vão surgindo no decorrer da história até o seu desfecho surpreendente.
Adensamento psicológico
Pelo resumo é fácil perceber que o argumento se ajusta perfeitamente bem ao modelo clássico já descrito. Mas aqui também saltam aos olhos as marcas distintivas da competência do escritor. Como todo detetive de ficção que se preze, Pepe Carvalho é uma figura sui generis. Ex-agente da CIA e também da KGB, ele tem gosto e conhecimento de culinária — assim como o próprio Montalbán, que chegou a lançar livros sobre o tema — além de um nível intelectual privilegiado. Mas o detetive-gourmet atua agora como investigador particular e escolhe suas amizades no submundo. A rosa de Alexandria é uma flor que remonta à Antiguidade e tem a singularíssima característica de ser vermelha de noite e branca de dia. O nome também batiza um navio que faz escalas regulares em Barcelona e cenário de boa parte do romance. A mudança de cor serve como metáfora da dualidade que, embora elemento indissociável de qualquer enredo policial, o autor explora aqui com avidez. Vários são os detalhes que apontam para o ambíguo, dentre eles a própria solução do caso. De resto, a frase de abertura de Quarteto — “eu não sou quem pareço ser” — serviria igualmente para A rosa… e é emblemática desse traço da personalidade literária de Montalbán.
Outro aspecto que une as duas obras é considerado a especialidade do autor: à medida que a trama principal segue um curso firme, mas sem maiores sobressaltos, o grande movimento é vertical e está no adensamento psicológico — algo, diga-se de passagem, que só uma literatura “séria” é capaz de produzir. De novo aqui os pequenos mistérios paralelos que envolvem os personagens ganham relevância e em dados momentos se sobrepõem ao eixo central, o que, longe de embaralhar, mantém em alta o interesse do leitor.
Manuel Vázquez Montalbán assina uma obra vasta, diversificada e original que inclui mais de cinqüenta livros entre romances, ensaios, poesia, biografias, infanto-juvenis e outros. Com admiradores espalhados pelos quatro cantos e merecedor de prêmios importantes, não por acaso ele é hoje um dos escritores espanhóis mais traduzidos no mundo. No Brasil, os títulos até agora lançados somam pouco mais de uma dezena, cinco deles dentro da coleção policial da Companhia das Letras. Ainda é pouco, se considerada a repercussão que a obra vem alcançando em outros países. Mesmo assim, o bastante para que se comprove mais uma vez que a boa literatura não se deixa rotular tão facilmente.