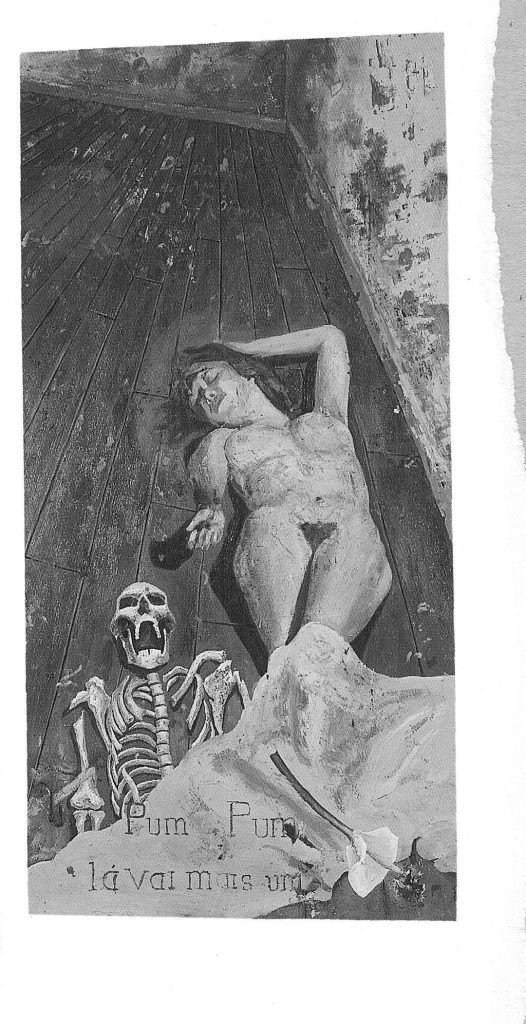Para Mirian Ibañez
Opiniões divididas sobre o nosso texto no Rascunho do mês passado, a respeito das bandas de rock portuguesas de cuja existência alguns amigos duvidaram, absurdamente. Ora, as bandas existem, ou existiram (aquelas que deram origem a outras bandas inteiras), e pelo menos uma se tornou ex-banda Voou — que vi grafado, mais de uma vez, como “ex-Vodu”, na troca do “d” pelo “o” —, rebatizada de Kardec, a única banda espírita de Portugal, onde os kardecistas, por sinal, são kardecistas como em nenhum outro lugar, espíritas como eu nunca vi, o que depois eu explico, o parágrafo está ficando muito longo, vocês não sabem como é chato ouvir que o que você escreveu não existiu, logo as bandas, o assunto, uma completa evocação verdadeira das bandas de rock portuguesas de 80/90, etc. Outra coisa: teve quem não achasse graça nenhuma — nem sequer naquela “Agricultor Debaixo do Trator”, banda efêmera, de “apertado sucesso”, segundo Gago Robalinho, o afamado crítico português do Diário de Notícias luso, para quem enviei o Rascunho, um dia desses, e Robalinho achou que não (“ainda”) para ler… Vocês ’tão demorando demais a rir — quando riem — e uns nem isso, não querem rir, não gostam de rir, são mortalmente sérios, são visitantes de cemitérios, isso mesmo, há uma gente sombria que viaja para acompanhar a morte, inclusive internacioalmente, visitam o Père-Lachaise em todos os meses de setembro (porque setembro, não sei), esse cemitério de 200 anos é uma covardia, ele disputa com o Arco do Triunfo, a Torre Eiffel, os mais fortes postais, e David, Molière, Chopin, Delacroix, Proust, Wilde, Modigliani, Isadora Duncan e Maria Callas estão lá (e Pinel, também, assim como Lussac, médico que também morreu girando não inteiramente bem), há um derviche sepultado, no Père, que dizem vir dançar, ou rodar, talvez, toda a primeira sexta-feira de cada mês, no cemitério que tem site: www.pere-lachaise.com. Cemitério francês é assim. Eu tenho um amigo que não queria viajar, quando afinal comprou uma passagem para a República Checa unicamente com o intuito de fotografar e, se possível, se sentar sobre o túmulo do escritor Franz Kafka, enterrado no Cemitério Judaico de Praga, lugar onde Otto Maria Carpeaux costumava ir estudar, quando ainda morava lá, já refugiado, antes de tomar o rumo estranho do Rio de Janeiro. Otto foi apresentado a Kafka, uma noite, no apartamento de um casal de judeus ricos (?) que a fumaça dos trens da morte levou para o ar, literalmente. Carpeaux ouviu algo como “Kauka”, quando o autor de A metamorfose lhe foi apresentado, estendendo uma mão mole de previamente derrotado, coitado, assim caminharam muitos hebreus para os trens nas gares, ordeiros e atentos aos números gritados por soldados escoltados por cães (“humanos, se comparados com a SS”, isso está escrito — em alemão — num cartão postal que eu adquiri na Feira da Ladra, em Lisboa, o cartão é de um homem [Franz] para uma mulher [“calma”, ele pede, em bela letra cheia de volutas que levava tempo a desenhar sobre a perna, “eu consegui fugir de…., reze para….”, aqui o cartão está borrado, e, no meio do borrão, o nome de modo algum é Jeovah), foi numa tarde primaveril dos Jerônimos, havia flores por todo lado, Portugal é um “jardim à beira-mar plantado”, e seus cemitérios ao luar — sonhava Tomás Seixas — devem ser brancos como as pedras roladas”. “Os cemitérios podem ser fonte geradora de impactos ambientais. A localização e operação inadequadas de necrópoles em meios urbanos podem provocar a contaminação de mananciais hídricos por microrganismos que proliferam no processo de decomposição dos corpos. Se o aqüífero freático for contaminado na área interna do cemitério, esta contaminação poderá fluir para regiões próximas, aumentando o risco de saúde nas pessoas que venham a utilizar desta água captada através de poços rasos.” Isto não foi, é claro, escrito por Tomás, o poeta que escreveu — eu já disse? — sobre os grandes cemitérios ao luar, e para quem, numa tarde, eu tentei descrever os muitos cemitérios de Lisboa, o do Alto de São João, o dos Prazeres (no qual está sepultado Vasco Aspades do Carmo, que gostava do nome “tão impróprio para um cemitério”, ao que eu contraditei, por carta: “não, Vasco, o nome é justo e até apropriado, levando-se em conta que ali estão enterradas, provavelmente, algumas alegrias das quais nunca ouviremos falar, ou saberemos a forma — comum, estranha? — que tiveram para mortos desconhecidos e cuja ‘existência’ de alguma maneira inquieta a todos: quem foram, o que amaram, o que fixaram nos seus últimos pensamentos?”), fecha parêntese, abram-se vistas para os cemitérios grandes ou pequenos, os campos santos da terra e os cemitérios marinhos do poeta ensonado no midi: um cemitério é um cemitério é um cemitério, mesmo sem as flores que são flores que são flores que são flores na máquina do mundo que emperrou para Diana: “Eu própria estranhei: seguia no ‘metro’ em Lisboa e ocorreu-me que já falecera. Decidi entrar num cemitério, visitar a minha campa e ler os dizeres da lápide, recomendados por qualquer agência funerária. Prossegui a viagem e coloquei a questão do cemitério de parte. Com tantos cemitérios em Lisboa, ignorava em qual deles me podiam ter enterrado portanto, nada podia fazer para localizar-me” (aqui, sua voz tão doce se interrompe e o sonho me parece ainda mais angustiante do que o de Port quebrando os dentes contra os vidros do trem e sentindo o gosto do travesseiro nas gengivas sangrentas [ele mostrava o tecido com manchas marrons atenuadas, para provar que havia se ferido ao dormir, depois de matar… quem?] Diana achava que foi isso que a fizera evitar o “metro”, daí por diante: pensava que aquele pensamento lhe viera dos mortos debaixo da terra, na proximidade das suas campas, como viajamos na iluminada escuridão dos comboios subterrâneos, essa é uma idéia apavorante “quando você é a única passageira do vagão”, enfatizava ela, e eu tentava desviar a conversa dos seus medos, imitando a voz de criança da “Piolha”, naquele tempo: “no ‘metro’… no ‘metro’ pensa-se em tanta coisa! Não sei se é paranóia minha ou não, mas tens que reparar, quando fores no ‘metro’, linha vermelha no sentido oriente, vais olhar para o lado direito e para o esquerdo e depois diz-me se não parece que o ‘metro’ anda mais rápido se olhares para o lado esquerdo… (e eu acho que comecei a morrer no dia em que nasci)… A “Piolha”! Chorou pelo resto da tarde em que eu lhe disse os versos finais de The Second Advent. E não irei repeti-los agora, não sei para quem estou escrevendo, ou melhor: estou escrevendo para todos e para ninguém. Talvez eu esteja um pouco bêbado de tristeza dentro da composição que atravessa a sala morta, os quartos transidos do frio avermelhando o nariz das operárias (as que estão fortemente gripadas não obtiveram dispensa por “motivo de um simples resfriado” que, no entanto, dá quarenta graus de febre na “Piolha”, quando ela as tem, as constipações), isso é uma ladainha de trem, esta composição vai para Moscou (ou sai de Moscou?), com Venedikt Erofeev, o bom ladrão, o mau bebum, o recordista dos corações dilacerados de Carson McCullers de quem ele nunca ouvira falar (e achou tão bonito o título “A Balada do Café Triste” que ficou a repeti-lo como um mantra ainda mais encantatório em russo, língua é boa para se dar notícias de morte e para fazer declarações de amor depois traídas, naturalmente, pois é uma língua de bêbados verdadeiros, eu me afastei demais da “árvore da casa”, ela voou, a banda direita, ficou assim no meio do quarto, era tão longe que dava para ver os campanários (ou eu acabava de me impregnar, mais uma vez, da melancolia de Dorset, de Clouds Hill e das paisagens misteriosas de Samuel Palmer, que guardam um segredo e são mais tristes do que as mais tristes páginas de Judas, o Obscuro?)…
Sinceramente, não sei.
P.S.Terminando a história de Carpeaux e Kafka, que ficou pela metade: Carpeaux apertou a mão de “Kauka” e não prestou a menor atenção ao rapaz apresentado apenas como “um jovem escritor de Praga”. Isso havia sido no começo da noite. Quando Carpeaux, mais tarde, retirou-se para o frio da capital checa lá fora, “Kauka” ainda se encontrava sentado no mesmo lugar, sem beber e sem fumar a noite inteira em que todos haviam sido alegres, afoitos e até ardorosos (alguns para anunciar que o Reich alemão ainda iria vingar), etc. E Otto Maria Carpeaux esqueceu o “jovem escritor” a partir daquele momento mesmo, nunca mais o viu, em Praga ou em qualquer outro lugar, e viajou, fugiu para o Brasil, deixou os anos passarem, até voltar a ouvir falar de um escritor de Praga chamado Kafka e não “Kauka”, conforme a voz sumida fizera parecer que ele pronunciava “como a se desculpar”, mortalmente sério.