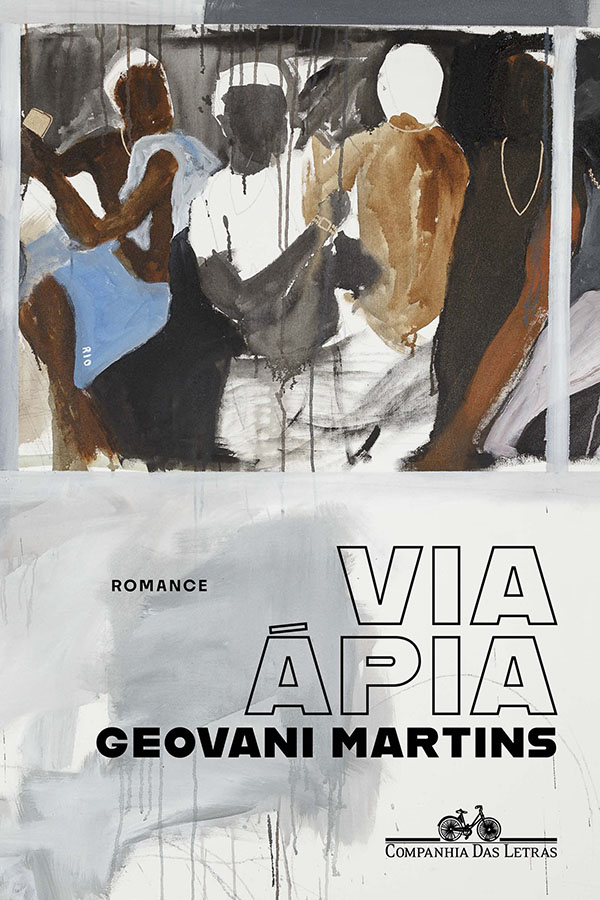Paixão popular, o futebol agrega e inflama. É uma partida histórica — factual e memorável — entre Santos e Flamengo, disputada na Vila Belmiro em 27 de julho de 2011, que conduz o enredo do primeiro capítulo do romance Via Ápia, de Geovani Martins. O “melhor jogo da temporada” terminou com o placar de 5 x 4 para o Flamengo, de virada, com Ronaldinho Gaúcho de um lado e Neymar do oposto. Outro gol de letra do autor de O sol na cabeça (2018), celebrada coletânea de contos já editada em mais de dez países.
Graciosamente, Via Ápia é dedicado à memória de um “vascaíno, que foi uma revolução na vida de tanta gente”, Ecio Salles (1969-2019), criador da Flup, a Festa Literária das Periferias (Geovani Martins participou de suas oficinas em 2013 e 2015). Quatro dos cinco protagonistas são rubro-negros.
São também jovens, pretos, “favelados” e “maconheiros”. Os irmãos Wesley e Washington moram com a mãe, dona Marli, em uma habitação na ladeira da Cachopa, na Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro. Os amigos Murilo, Douglas e Biel dividem o aluguel de um apartamento na travessa Kátia, situada na Via Ápia, principal rua de acesso ao morro, “a 20 minutinhos a pé da praia de São Conrado”. “A casa só não era perfeita porque o prédio fica entre um puteiro e uma igreja evangélica”, descreve Douglas.
Os irmãos fazem bico de garçom ou animador em um bufê infantil; os amigos são, respectivamente, entregador de farmácia, soldado do exército e traficante de praia. Cada um tem suas próprias motivações (Wesley planeja rodar de mototáxi; Douglas treina para tornar-se tatuador) e conflitos (Wesley se vicia em cocaína, Washington se culpa; Murilo teme receber ordem para invadir o morro), o que os distingue entre si e os faz humanos.
Contexto histórico
A invasão da Rocinha pelo Bope em novembro de 2011, para a expulsão e prisão dos narcotraficantes — e instalação da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) — afeta a todos e, sobretudo, serve de contexto histórico e marco temporal à trama. Os 41 capítulos são intitulados com o seguinte formato — Rio, 27 de julho de 2011 (a data do jogo Santos x Flamengo, por exemplo) —, como páginas de diário ou cartas, embora não sejam uma coisa nem outra; e o romance é dividido em três partes.
A ocupação da maior favela do Brasil já havia sido tema do conto A história do Periquito e do Macaco, um dos melhores de O sol na cabeça: “No começo foi foda, bala comia direto. Já fazia pra mais de anos que não dava tanto tiro na Rocinha. Era papo de todo dia quase”, conta o narrador em primeira pessoa.
A operação Choque de Paz foi, assim, um tiro no pé. Se antes, com Nem (o chefão do tráfico) à frente do morro, “os tempos eram de paz”, depois de alguns meses de UPP, “a bala comer até que nem era novidade”, conforme Washington. Sem falar nas abordagens humilhantes, constantes. [As UPPs ainda existem, mas a situação mudou.]
Tragicamente, um dos personagens morre por tiro de polícia, todavia a passagem mais cru, deprimente e miserável — macabra, até — do romance é a de “Wesley cheirando pó com um maluco sem braço, em algum lugar escuro da Chácara do Céu.”
Ao valer-se do discurso indireto livre, da montagem paralela e de capítulos curtos, a narrativa realista e cinematográfica de cunho social segue no encalço cada um de seus protagonistas e pontos de vista alternadamente, com dinamismo. Os sumários são sucintos e as descrições, mínimas; concentra-se nas cenas e nos diálogos. Já na primeira parte, ocorrem reviravoltas pontuais (com Biel e uma máquina de tatuagem; Talia e um beijo de despedida) em finais de capítulos.
Para captar a voz e a dicção dos morros, Geovani Martins usa e abusa do calão, da gíria de gueto, da repetição e outros recursos da “oralidade rasgada” (João Moreira Salles, em comentário a O sol na cabeça); desrespeita concordâncias nominais e regências verbais até que a língua se torne um tipo de dialeto propositalmente incompreensível: “[…] falou que a de dez tava o verme. […] Pior que que nem ele tem vários, só vem a nós, eles acha que passa batido, eles”, diz Wesley, por exemplo.
Nesse sentido, a preocupação de Washington antes de uma entrevista de emprego é irônica e reveladora: “Escolher as palavras certas, sem gírias ou palavrão, deixar a coluna reta, se lembrar dos plurais. Na real, ser quem não é. Era tudo que precisava”. Exceto pelo “escolher as palavras certas”, o escritor faz justamente o contrário: mete gírias e palavrão, esquece-se dos plurais.
Ódio
No discurso dos protagonistas, nota-se um sentimento de ódio, advindo da desigualdade econômica, da injustiça social, do racismo: “O fato de a mãe ter começado a trabalhar antes dos dez anos de idade e mesmo assim não ter uma casa própria sempre deixava Washington cheio de ódio desse mundo”. É, inclusive, ao identificar e ver crescer em si mesmo essa mistura perigosa de ressentimento e desejo de justiça/vingança que, a certa altura, Douglas deixa a Rocinha.
Diferente é Gleyce Kelly, sua namorada e amiga de Washington. Ela não se sente acuada nem assume uma “postura de enfrentamento, com andar pesado, fogo nos olhos”, ao dar um “rolézim” no Fashion Mall. A despeito do preconceito de uma vendedora e de não poder pagar pela peça de vestuário de que gostou, Gleyce se apropria e desfruta das instalações do espaço público, que reconhece também como seu. É como se o shopping fosse uma outra praia.
Outra Via Ápia
Quem tem boca, ou Google, vai a Roma.
Via Appia foi “uma das principais estradas militares da antiga Roma. Recebeu este nome em memória de Appius Claudius Caecus, que autorizou sua construção em 321 a.C.”. Via Ápia não faz essa referência.
Quando Spartacus, em 71 a.C., liderou a rebelião de seis mil escravos, foi capturado e vencido, os corpos foram crucificados onde? Ao longo da Via Appia!
Playboy
Na Rocinha criam-se os “crias do morro”, mas também o “favelado playboy” (ou “playboy favelado”), figura híbrida que encarna o preconceito de classes sociais, um leitmotiv de Geovani Martins.
A amizade à primeira vista entre o “playboy” Biel, Murilo e Douglas num bloco de carnaval é tão inacreditável quanto o efeito de um psicodélico: “Antes mesmo da onda bater, tudo parecia surreal”. Fica logo na cara que o primeiro mente: “Como é que pode, um moleque que é cria de favela, de escola pública, só porque nasceu branco viver no meio dos playboy, se vestir, falar que nem eles?”, questiona-se Douglas. Até o nome (Gabriel Moscovici, nas redes sociais) é uma mentira: chama-se Andrei.
Branco, mas pobre e ex-aluno de escola pública, o playboy favelado Andrei/Biel sofre discriminação entre os pares, mas circula — através do tráfico de drogas — entre os outros. Ele até procura imóveis para alugar fora da comunidade: “Flamengo, Glória, Catete. A série B da Zona Sul. Os amigos em casa acham a maior viagem, por aquele preço dava pra achar uma mansão em qualquer favela”.
Crime
Várias passagens do livro indicam que no mundo do crime a malandragem — o jogo de cintura — é uma ética, uma sabedoria. Wesley, após receber o troco, no metrô: “Caralho, se os cana me pega, vai falar que eu sou vapor da maconha de cinco”.
Ao comentar a “política de paz” do “Mestre” Nem (o “arrego” ou suborno, especificamente), Washington opina: “O cara que entende o que é o crime é assim: prefere perder aqui pra ganhar lá na frente. E o mais importante, sabe que é melhor perder dinheiro do que a vida ou a liberdade”. Um de seus concorrentes de vaga de emprego concorda e acrescenta: “Um bagulho que aprendi é que no crime tu tem que ser frio e calculista, emocionado morre cedo”.
Em outro contexto, o playboy Marcelinho possui uma Glock 9mm guardada no armário, mas também “bota a cara”: “Só chega no topo quem aposta alto”. E Gleyce, em todo caso, recomenda a universidade: “— Hã, é nada não é nada, é um diploma. Se fizer qualquer merda, já tem cela especial.” [Em março passado, o STF derrubou a prisão especial para pessoas com ensino superior.]
Um, dois…
Em Via Ápia, os protagonistas fumam de ponta a ponta. O tempo todo estão comprando, triturando, bolando ou carburando um bagulho, chá ou erva (prensada do Paraguai, flores da Colômbia, haxixe ou skunk), chapados dia e noite, na onda, lomba ou larica — um deles contabiliza até nove baseados diários. De modo que o livro, além de um romance, é um guia informal sobre a maconha: seus efeitos; danos e riscos; distribuição e varejo no mercado ilegal.
Eis alguns de seus benefícios e prazeres: “A maconha junta as pessoas”; “Acalma, bom pra dar aquela dormida de tarde, aquela namorada…”; “Não tem essa de Engov, Sonrisal, pode botar qualquer um. Melhor remédio pra ressaca é fumar um baseado”.
Nem tudo são camarões: “— Mas tu já parou pra pensar por que é que a polícia vai que nem bicho atrás de maconheiro? […] O problema da maconha, pra esses caras [senador, empresário] é que a maconha só dá vontade de não fazer nada, tô mentindo?”.
Wesley é detido rodando um fino na praia e — na falta de um diploma escolar, mas em posse do boletim de ocorrência — declara-se “maconheiro profissional” ao irmão Washington. A droga também é motivo de conflito entre os amigos e inquilinos Murilo, Douglas e Biel e o síndico Coroa, que os expulsa do apê da Via Ápia. É o que leva todos os cinco a se conhecerem.